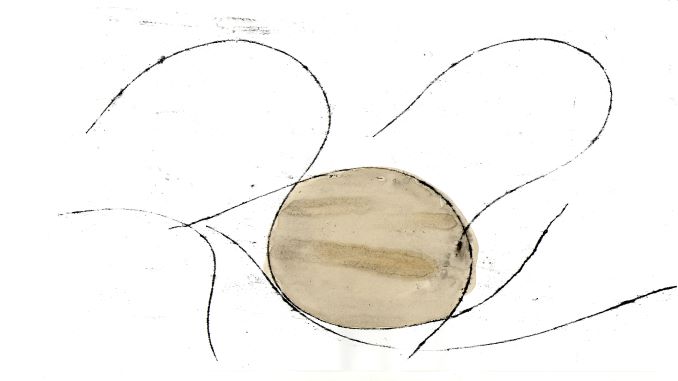Por MARCUS V. MAZZARI*
Leo Naphta e Lodovico Settembrini: vozes ideológicas na formação de Hans Castorp
No último capítulo de seu livro póstumo Seis propostas para o próximo milênio Ítalo Calvino (1923–1985) observa, em meio a considerações sobre o romance de tendência enciclopédica, que A montanha mágica pode ser considerada “a introdução mais completa à cultura de nosso século”, pois do “mundo recluso” do sanatório alpino retratado por Thomas Mann partiriam “todos os fios que serão desenvolvidos pelos maîtres à penser do século: todos os temas que ainda hoje continuam a nutrir as discussões são ali prenunciados e passados em revista”.[i]
Com essa apreciação, Calvino se coloca ao lado de inúmeros outros críticos que veem nesse romance monumental – “fruto de muitos anos de luta com a forma e a ideia”, nas palavras de Anatol Rosenfeld, “uma das mais maravilhosas criações da literatura mundial do século XX, inesgotável em sua multiplicidade e impenetrável em sua profundidade”[ii] – a obra-prima do romancista de Lübeck. O próprio Thomas Mann exprimia em 1930, no contexto de um balanço provisório de sua obra, visão semelhante perante Sérgio Buarque de Holanda, ainda que tivesse ressalvado tratar-se de “leitura difícil”, ao contrário dos Buddenbrook.[iii]
Movido pelo desejo de escrever um contraponto satírico à novela A morte em Veneza, publicada em 1912, Mann começa a trabalhar nesse mesmo ano numa narrativa que trazia então o título “A montanha encantada” (Der verzauberte Berg), mas a deflagração da guerra em 1914 acarreta uma interrupção de quatro anos, após os quais o projeto é retomado e passa a se expandir prodigiosamente, até atingir as várias centenas de páginas distribuídas nos dois volumes (capítulos I – V no 1º; VI e VII no 2º) que vêm a lume em novembro de 1924. No segmento “Passeio pela praia”, que abre o derradeiro capítulo, o próprio narrador caracteriza A montanha mágica como um Zeitroman, tanto no sentido de tematizar o fenômeno que no início da Era cristã tão profunda perplexidade causou em Santo Agostinho (Quid est ergo “tempus”?, pergunta ele no 11º livro das Confessiones) como por desdobrar vastíssimo painel sobre o tempo histórico que conduziu à guerra na qual irá se perder a trajetória do singelo “viajante em formação” (Bildungsreisender) Hans Castorp.
Seria legítimo afirmar que as palavras de Calvino sobre a dimensão antecipatória da Montanha mágica se devam sobretudo à segunda acepção de Zeitroman, pois como já se anuncia no “Propósito” anteposto aos sete capítulos, o leitor tem pela frente uma história ambientada em “velhos tempos, naquele mundo de antes da Grande Guerra, cujo deflagrar marcou o começo de tantas coisas que ainda mal deixaram de começar”.[iv]
Para construir esse quadro histórico que prenunciaria os temas mais fundamentais da “era dos extremos”, na caracterização que Eric Hobsbawn deu ao século XX, Thomas Mann se vale, como principal recurso, de longos e encarniçados debates travados entre dois intelectuais tuberculosos que habitam o “mundo recluso” de Davos: o italiano Lodovico Settembrini e o judeu Leo Naphta, “natural de um lugarejo situado nas proximidades da fronteira entre a Galícia e a Volínia”, como se lê no início do subcapítulo “Operationes spirituales”.
O narrador, que no mencionado “Propósito” se apresenta como um “mago que evoca o pretérito”,[v] lança mão assim de um procedimento frequente em obras literárias, mais próprio daquelas que se distinguem por um caráter “polifônico” (no conceito de Mikhail Bakhtin), e com sutilíssimo humor Goethe o emprega na longa cena “Noite de Valpúrgis Clássica” do Fausto II, ao fazer dois filósofos pré-socráticos, o “netunista” Tales de Mileto e o “vulcanista” Anaxágoras, enveredarem diante do Homúnculo, que em seu anelo por orientação ocuparia posição pedagógica homóloga à de Hans Castorp, por acirradíssimas disputas sobre temas científicos, como formação do planeta Terra e da lua, origem e composição de meteoros, surgimento da vida orgânica etc.[vi] Em Goethe, todavia, predomina uma perspectiva jocosa – trata-se, afinal, de “gracejos muito sérios”, conforme o velho poeta se referiu ao Fausto II na carta ao amigo Wilhelm von Humboldt escrita cinco dias antes da morte – ao passo que no romance manniano as intermináveis discussões entre Settembrini e Naphta se revestem da mais estrita seriedade, desembocando em morte.
É verdade que, se por um lado algumas dessas longas polêmicas, deflagradas pelos mais variados assuntos, exigem muito fôlego dos leitores, pelo outro lado são também capazes de exercer um fascínio do qual o mexicano Octavio Paz nos oferece testemunho ao reconstituir, em sua biografia política Itinerario, o período de sua formação universitária marcado por intensos debates literários e políticos, os quais no fundo não passariam de “paródias ingênuas dos diálogos entre o liberal e idealista Settembrini e Naphta, o jesuíta comunista”.[vii]
Fervoroso representante das Luzes e do progresso, o italiano nos é apresentado já nas primeiras páginas de A montanha mágica, no segmento cujo título “Satana” é tomado ao poema Inno a Satana de Giosuè Carducci (1835 – 1907), em que o próprio Satanás figura como paladino do trabalho, da razão e do esclarecimento: “O salute, o Satana, o Ribellione, o forza vindice della Ragione…”, no verso que Settembrini logo recita ao jovem Castorp, atônito com esse significado atribuído ao diabo. Na dimensão temporal do romance estamos aqui tão somente no segundo dos 21 dias que deveria durar a visita do protagonista ao primo Joachim Ziemssen no sanatório Berghof e que, todavia, irão converter-se em sete anos. Assumindo de imediato o papel de mentor intelectual do jovem recém-chegado, Settembrini não perde ocasião de proferir longos discursos em prol da democracia, da cultura e ciência, do entendimento entre os povos, do progresso de toda a humanidade. Ao avistá-lo pela primeira vez, Hans Castorp pensa instantânea e intuitivamente no tipo de um “tocador de realejo” e será assim que o eloquente italiano, com seus trajes modestos e puídos, lhe aparecerá nos sonhos dessa mesma noite, cuja vívida descrição deixa transparecer a influência da Interpretação dos sonhos, obra que será sub-repticiamente homenageada em passagem posterior.[viii]
A despeito, porém, das pinceladas de sutil ironia que lhe são dispensadas ao longo da história, Settembrini jamais deixa de irradiar calorosa simpatia, que alcança seu momento mais expressivo na cena em que, com uma lágrima nos olhos, despede-se na estação ferroviária de Davos do pupilo que, mais do que nunca um “filho enfermiço da vida”, parte para a guerra: “Hans Castorp enfiou a cabeça entre dez outras que enchiam o vão da janelinha. Acenou por cima delas. Também o sr. Settembrini acenou com a mão direita, enquanto, com a ponta do dedo anular da esquerda, tocava delicadamente o canto de um dos olhos” (p. 824).
Desde o romance de estreia do jovem Thomas Mann, que por trás da história da decadência dos Buddenbrook ao longo de quatro gerações deixa transparecer a própria constelação familiar, uma tendência muito forte do processo criativo desse romancista sempre foi a de elaborar suas personagens também com traços tomados a pessoas da vida real, seja de seu círculo de convivência, seja da esfera cultural do passado (como os elementos da biografia de Nietzsche emprestados ao herói do Doutor Fausto). No caso do iluminista e maçom Settembrini, um primeiro modelo para sua concepção terá sido, conforme apontado na bibliografia secundária, o literato italiano Paolo Zendrini (sobrenome que ainda faz eco em Settembrini), que o escritor conheceu em 1909 num sanatório de Zurique.
Quanto às ideias e posições políticas veiculadas pelo mentor italiano do jovem Castorp, uma extensa parte provém, segundo o próprio Mann, dos escritos políticos de Giuseppe Mazzini (1805–1872), herói da Unificação Italiana e companheiro de lutas, na dimensão ficcional, do também carbonário e maçom Giuseppe Settembrini, avô de Lodovico. Outra possível fonte para a concepção dessa personagem foi aventada por Benedetto Croce que, após ter lido o romance, pediu à tradutora Lavinia Mazzucchetti que perguntasse a Thomas Mann se essa personagem italiana porventura não teria sido inspirada no político e literato Luigi Settembrini (1813–1877). O romancista respondeu de modo evasivo, o que levou Croce a enviar-lhe as “Memórias” do Settembrini histórico (Ricordanze della mia vita), dando início a uma troca de cartas entre os dois futuros antifascistas.
No mundo de A montanha mágica, a posição antipodal à desse uomo di lettere cabe ao judeu Leo Naphta, que foge de sua terra natal para a Alemanha após a família ter caído vítima de um dos inúmeros pogroms que grassavam na região – seu pai, versado no Antigo Testamento e em rituais religiosos, foi “trucidado de forma horrorosa: encontraram-no crucificado, fixado com cravos à porta da sua casa incendiada” (p. 508). No novo país, o jovem Naphta desdobra seus excepcionais dotes intelectuais em largas leituras (não apenas dos textos sagrados, mas também de Hegel, Marx etc.) e acaba por ingressar na ordem fundada por Inácio de Loyola.
Contudo, a impressionante figura dessa personagem que ao mesmo tempo abraça a ideia comunista da mais ferrenha ditadura do proletariado começou a ser concebida em estágios posteriores do trabalho em A montanha mágica, pois nos primeiros esboços do romance o antagonista de Settembrini era um pastor de nome Bunge. Em janeiro de 1922, entretanto, Thomas Mann conheceu pessoalmente Georg Lukács em Viena, impressionando-se com os recursos intelectuais do intelectual húngaro, com sua vasta erudição e argumentação incisiva.
O romancista toma-lhe então vários traços, inclusive físicos, para remodelar aquela personagem Bunge, rebatizada com o estranho nome que evoca não só a figura bíblica de Neftali (Gênesis, 30:8) – “luta”, “disputa”, em hebraico – mas possivelmente também o odor penetrante (intensamente “penetrantes” são todas as manifestações de Naphta) de naftalina e óleo cru (nafta, em tcheco)[ix]. Na nova configuração romanesca, a personagem é introduzida num momento avançado da história, isto é, no início do penúltimo capítulo (“Mais alguém”), que se segue à partida de Clawdia Chauchat após a aventura erótica com Hans Castorp nos festejos carnavalescos da “Noite de Valpúrgis”. Percebe-se, por conseguinte, que a entrada em cena de Naphta desempenha também, na economia estética do romance, uma espécie de compensação pela perda de personagem tão importante, ainda que se trate de uma perda provisória, pois um ano e nove meses depois (e logo após a morte de Joachim Ziemssen) ela estará de volta, mas na companhia do exuberante holandês Mynheer Peeperkorn, figura que tem por modelo o dramaturgo alemão Gerhart Hauptmann (1862 – 1946).[x]
Amplo e variado é o espectro de temas que alimentam as discussões entre Naphta e Settembrini, as quais estão certamente por trás da citada visão de Calvino. Por vezes as polêmicas desprendem-se de questões abstratas, como a dicotomia entre ação e inação, Natureza e Espírito, progresso renascentista e dogmatismo medieval. Mas o ensejo para as encarniçadas disputas pode advir também de questões mais concretas, como pena de morte, tortura, profissão militar ou estrutura da maçonaria e da Societas Jesu, sendo que numa dessas polêmicas sobre a ordem a que pertence Naphta, Thomas Mann presta homenagem a Freud ao aludir com palavras do iluminista italiano à epígrafe da Interpretação dos sonhos.[xi] Com bastante frequência, as discussões se acaloram quando recaem sobre a correlação de forças contemporânea, isto é, a geopolítica na Europa do início do século XX, regida pelas potências ocidentais França e Inglaterra assim como pelos quatro grandes impérios que se esfacelariam com o advento da Grande Guerra: russo-tzarista, austro-húngaro, alemão-guilhermino e o otomano.
A primeira dessas grandes discussões ocorre em agosto de 1908, quando o retorno das aquilégias nas alturas alpinas faz Hans Castorp aperceber-se com certa vertigem de que sua chegada ao sanatório acabara de completar um ano. Durante um passeio por Davos ao lado do primo, o jovem topa com Settembrini, absorto numa conversa com um desconhecido: justamente o “mais alguém” apresentado em seguida como Naphta. Pelo calendário astronômico o verão encontra-se no auge, mas nas montanhas não há o menor vestígio da canícula da planície, vigorando antes um frescor primaveril, que o narrador faz o italiano, citando versos de Aretino, enaltecer entusiasticamente numa passagem em discurso indireto livre: “Nada de efervescência nas profundidades! Nada de brumas carregadas de eletricidade! Só clareza, secura, aprazimento e graça austera. Isso harmonizava com seu gosto, era superbe” (p. 432).
Os primos – e com eles o leitor – presenciam então a primeira alfinetada desferida pelo jesuíta: “Ouçam só o voltairiano, o racionalista. Elogia a natureza, porque mesmo nas condições mais fecundas ela não nos perturba com brumas místicas, mas conserva uma secura clássica”. O revide, evidentemente, não se faz esperar: “O humor, na concepção que nosso Professor tem da natureza, consiste no seguinte: à maneira da Santa Catarina de Siena, ele pensa nas chagas de Cristo ao ver prímulas vermelhas”.
Temos aqui, desentranhando-se do tema “natureza”, o ponto de partida para um confronto ideológico que ao longo das próximas 400 páginas se estenderá pelos mais variados assuntos. E mesmo que nesse segmento “Mais alguém” os fronts já estejam dispostos em oposição crassa, a disputa parece envolta numa atmosfera cordial, o que é explicitado por Settembrini a fim de tranquilizar os primos: “Não se admirem. Esse senhor e eu temos discussões frequentes, mas tudo se passa amigavelmente e sobre o fundamento de muitas ideias comuns” (p. 438). Avançando algumas páginas, no entanto, o leitor perceberá que no fundo as disputas entre os dois intelectuais de modo algum se assentam sobre “ideias comuns” e que, além disso, irão perder cada vez mais a aparência amigável.
Em todas as suas manifestações, Settembrini revela-se adepto incondicional das luzes, da razão, do princípio ocidental de civilização. De seu “realejo”, porém, saem com frequência concepções ingênuas e um tanto rasas, que via de regra também recebem comentários irônicos por parte do narrador, por exemplo nas passagens referentes à sua participação na enciclopédia Sociologia dos Males, idealizada por uma Liga Internacional para a Organização do Progresso com a finalidade de erradicar todos os sofrimentos humanos.
Já a posição ideológica de Naphta é muito mais complexa e se distingue por insólita mescla de um aguerrido misticismo medieval – inspirado sobretudo pelo papa Gregório VII (século XI) com sua divisa “Maldito seja o homem que impede sua espada de derramar sangue!” – e aspiração comunista pela mais implacável “ditadura do proletariado”, da qual o jesuíta espera que dissemine “o terror para a salvação do mundo e para a conquista do objetivo da redenção, que é a relação filial com Deus, sem Estado e sem classes” (p. 465).
A mescla se mostra de fato sobremaneira inusitada, mas é preciso trazer à lembrança que o jovem Naphta estudara a fundo a obra de Marx, em especial O Capital, após fugir do pogrom que trucidou seu pai. De qualquer modo, as posições derivadas dessas leituras deram origem a um radicalismo dos mais ecléticos, que na fortuna crítica de A montanha mágica é também aproximado à chamada “revolução conservadora”, uma das tendências que fomentaram o advento do nacional-socialismo. Essa aproximação, todavia, já é feita pelo próprio Hans Castorp, pois enquanto acompanha uma polêmica sobre tortura e pena de morte, ocorre-lhe que Naphta é de fato um verdadeiro revolucionário, mas “um revolucionário da conservação” (p. 529). Assim, a complexa figura introduzida no segmento “Mais alguém” – judeu, jesuíta, comunista – ganha mais uma camada ideológica, revestida de traços pré-fascistas, o que não faz senão contribuir para o acirramento dos embates com as posições liberal-progressistas de Settembrini.
Na vasta pletora de temas passados em revista ressaltemos apenas, de modo sumário, dois confrontos no campo da estética, o primeiro deles em torno do autor da Eneida, enaltecido pelo italiano desde os primeiros dias de Hans Castorp no sanatório: “Ah, Virgílio, Virgílio! Não há quem o supere, meus senhores! Acredito no progresso, por certo. Mas Virgílio dispõe de adjetivos que nenhum moderno encontraria…” (p. 78) Quando essas palavras são pronunciadas ainda falta muito para o apátrida Naphta entrar em cena; contudo, logo que ele desponta no enredo virá um juízo demolidor sobre o poeta latino: “Observou que da parte do grande Dante era uma atitude parcial, muito bondosa e arraigada na época, essa de cercar de tanta solenidade um versejador medíocre e de outorgar-lhe no seu poema um papel tão importante, ainda que o sr. Lodovico atribuísse a esse papel caráter demasiado maçônico. Que valor tinha, afinal, esse cortesão laureado, bajulador da casa juliana, com sua retórica pomposa, mas desprovida da menor centelha de espírito criador, esse literato de cidade grande, cuja alma, se é que possuía uma, era indiscutivelmente de segunda mão e que de maneira alguma era poeta, mas apenas um francês de peruca empoada em plena era de Augusto?” (p. 597)
Outra extraordinária polêmica de cunho estético ocorre no cubículo que Naphta aluga em Davos do alfaiate com o sugestivo nome Lukacěk – aliás, por motivos financeiros também Settembrini, até então hóspede do Berghof, passa a ser sublocatário do alfaiate a partir do segmento “Transformações”. Fazendo uma visita ao jesuíta na companhia do primo, Castorp se depara com uma escultura em madeira que o fascina pela extrema fealdade e, ao mesmo tempo, expressiva beleza. É uma verdadeira obra-prima para os padrões artísticos de Naphta, que explica ao jovem tratar-se de uma peça anônima do século XIV.
Sabe-se que Thomas Mann tomou por modelo, para a descrição da escultura, a chamada “Pietà de Roettgen” (nome de seu último proprietário), exposta atualmente num museu de Bonn: “A Virgem era representada com uma touca, de cenho carregado, retorcendo de tanta mágoa a boca semiaberta; tinha sobre os joelhos o Salvador, uma figura de erros primários nas proporções, e cuja anatomia crassamente exagerada documentava a ignorância do artista […] grossas gotas de sangue coagulado brotavam da ferida lateral e dos sinais que os pregos haviam deixado nas mãos e nos pés” (p. 453). É inevitável que a chegada de Settembrini ao cubículo do jesuíta deflagre nova altercação, pois para seu gosto clássico a grotesca Pietà não pode causar senão horror e profunda repugnância.
No entanto, como no anterior “Mais alguém”, também aqui a discussão começa de maneira amena, pois Settembrini se mostra de início demasiado “cortês para dizer tudo o que pensava”, limitando-se a “criticar os erros nas proporções e na anatomia do grupo, infidelidades à verdade natural”. A questão estética, de qualquer modo, funciona como estopim para um embate que irá ampliar-se, conforme já sugere o título (“Da cidade de Deus e da redenção pelo mal”) que Thomas Mann deu a esse segmento, e encrespar-se à medida que vai gerando várias outras divergências, até desembocar por fim na política, fecho costumeiro das discussões que tanto fascinaram o jovem Octavio Paz.
Sob o prisma de uma leitura atualizadora do complexo épico em torno de Settembrini e Naphta talvez seja procedente retomar a observação de Calvino na abertura deste texto e relacionar um dos temas debatidos a tendências ideológicas fortemente virulentas, em pleno século XXI, em países mais vulneráveis à propaganda populista, como a retórica anticientífica e – no tocante não só à epidemia de Covid mas também, em escala mais ampla, às mudanças climáticas – “negacionista”. A figura de Naphta é evidentemente por demais complexa e profunda, rica em contradições e também, a seu modo, demasiado íntegra e consequente para que possa ser comparada com maîtres à penser como Steve Bannon ou Olavo de Carvalho.
Em alguns de seus traços fundamentais, no entanto, o jesuíta poderia, sim, ser associado a forças ideológicas empenhadas em fomentar no mundo todo a ascensão de políticos como os que foram eleitos nos Estados Unidos (2016) e no Brasil (2018). O movimento antivacina, por exemplo, encontraria um correligionário nesse Naphta ferrenho inimigo da ciência e que enxerga no empenho humano por segurança apenas “um símbolo da covardia e da efeminação vulgar que a civilização produzia” (p. 798). O mesmo seria válido para os terraplanistas espalhados por todo o globo, pois não poucas manifestações do jesuíta garantiriam sua filiação à Flat Earth Society, fundada em 1956 pelo inglês Samuel Shenton e outros conspiracionistas, com o respaldo de passagens bíblicas colocadas acima de todas as conquistas e evidências científicas.
O primeiro grande ataque de Naphta à ciência é desferido na esteira da controvérsia em torno da escultura da Pietà, quando toma o partido da Igreja no conflito com Galileu e insiste na superioridade do sistema ptolemaico sobre o postulado heliocêntrico de Copérnico, que a seu ver teria acarretado um aviltamento do ser humano e do planeta Terra: “O Renascimento, a Época das Luzes, as ciências naturais e a economia política do século XIX não esqueceram de ensinar nada, absolutamente nada, que fosse próprio para favorecer esse aviltamento, começando pela nova astronomia: em virtude dela o centro do universo, o magnífico cenário onde Deus e o diabo disputavam a posse da criatura por ambos almejada, foi transformado num insignificante planetazinho, e ela pôs um fim provisório à grandiosa posição do homem no cosmo, que servia de base à astrologia” (p. 457).
O significado do adjetivo “provisório” elucida-se logo em seguida, quando a argumentação incisiva do jesuíta reitera a confiança no retorno triunfal do geocentrismo solapado pela ciência pós-renascentista. Esse “retorno” se daria sob os auspícios da Bíblia, na retórica jesuítica que parece articular-se no mesmo patamar em que se moviam, quatro séculos antes, os argumentos de Lutero contra a ciência, por exemplo ao chamar Copérnico de “tolo”, “estulto” (Narr), por contrariar com sua astronomia a sabedoria dos textos sagrados, já que Josué ordenou ao sol, e não à Terra, que se detivesse para prolongar o dia (Josué: 10, 12 – 16).[xii]
De maneira direta ou associando-a a uma visão negativa das faculdades cognitivas do ser humano, Naphta traz à baila a questão da ciência em vários outros momentos das contendas subsequentes, até que por fim o encarniçado duelo travado com Settembrini ao longo de centenas de páginas extrapola a esfera das palavras e ganha a concretude de pistolas e, consequentemente, derramamento de sangue e morte. Isso acontece no penúltimo subcapítulo do romance, em que podemos admirar a maestria de Thomas Mann em mostrar as irradiações do grande cenário político europeu sobre o microcosmo do sanatório Berghof, que desse modo assoma como foco concentrado de um mundo prestes a explodir com os tiros que em 28 de junho de 1914 seriam detonados em Sarajevo – “um sinal de tempestade, um aviso aos iniciados, entre os quais temos toda razão de incluir o sr. Settembrini” (p. 823).
“A grande irritação” intitula-se esse penúltimo segmento do romance que relata a continuação das “discussões sem fim” em que se digladiam os mentores de Hans Castorp, até que o narrador, para encaminhar o desfecho dessa linha narrativa, escolhe “a esmo […] um exemplo para demonstrar a maneira como Naphta trabalhava por perturbar a razão”. Logo após estas palavras, apresenta-se novamente o pomo da discórdia que assomara pela primeira vez 350 páginas atrás: “No entanto, era ainda pior o modo como falava da ciência, na qual não acreditava. Não tinha fé na ciência, dizia, visto o homem ter plena liberdade de crer ou não crer nela. Essa era uma crença como qualquer outra, apenas mais tola e mais prejudicial” (p. 799).
De um lado, portanto, o planeta Terra, quiçá plano, no centro do universo; do outro lado, uma “crença” diferente, “apenas mais tola e mais prejudicial”, fundamentada nos esforços científicos dos “estultos” Copérnico, Galileu, Newton ou ainda Einstein, que trabalhava então – concomitantemente às disputas acompanhadas por Castorp – na ampliação de sua Teoria da Relatividade.[xiii] De um lado, a fé na eficácia da cloroquina e congêneres; do outro lado, a crença em vacinas desenvolvidas no bojo de esforços científicos em várias partes do mundo… É claro que o narrador da Montanha mágica não nos apresenta uma imagem inequívoca e superficialmente positiva da ciência, pois as destruições, inéditas na história da humanidade, em que desemboca o enredo, serão desmascaradas como “produto de uma ciência asselvajada”, conforme formulado em “O trovão”, título que anuncia a dimensão imagética na narração dos primeiros passos de Hans Castorp num campo de batalha em Flandres.
Imagens do inferno e de violência na natureza metaforizam o impacto desumanizador dessa guerra de trincheiras e material bélico sobre os jovens soldados – um procedimento narrativo que se expressa no famoso livro de Ernst Jünger (1895–1998) Nas tempestades de aço, elaborado a partir de impressões e vivências no front anotadas em seu diário de guerra e cuja terceira versão é publicada no mesmo ano em que surge o romance de Thomas Mann.[xiv]
No universo polifônico de A montanha mágica a visão de ciência que pode ser desentranhada de seu derradeiro segmento se revela suficientemente nuançada para não ser confundida com certos postulados mais ingênuos de Settembrini. Mas será que Thomas Mann poderia ter imaginado que as concepções de seu jesuíta Naphta, sempre hostil ao espírito científico celebrado por Goethe no Fausto II com as figuras de Tales e Anaxágoras e convertendo fatos objetivos numa questão de mera crença subjetiva, continuariam atuais cem anos após a publicação do romance?
Ainda no contexto do exemplo escolhido “a esmo” pelo narrador (“A grande irritação”), Hans Castorp presencia violentas investidas contra Ernst Haeckel (1834 – 1919), então um nome de proa nas ciências e principal divulgador da teoria darwinista na Alemanha: mais uma vez tratar-se-ia de simples questão de fé aderir cegamente ao relato do Gênesis sobre a criação do mundo ou inclinar-se para posições científicas, como o evolucionismo, “dogma central da pseudorreligião livre-pensadora e ateística, por meio do qual se tencionava abolir o primeiro Livro de Moisés e opor a sabedoria esclarecedora a uma fábula estultificante, como se Haeckel tivesse estado presente no momento em que nascia a Terra” (p. 800).
Settembrini poderia ter-lhe perguntado nesse momento, pagando-lhe com a mesma moeda, se por acaso seu oponente esteve presente quando Deus criou a luz e o firmamento nos dois primeiros dias, ou os peixes, pássaros e demais animais no quinto, por fim o homem à sua imagem e semelhança, antes de descansar no sétimo dia… Poderia ter-lhe perguntado ainda se os dias e, portanto, o “tempo” já existiam antes da criação divina…
Acontece, porém, que com o avanço da tuberculose, Naphta – ao contrário de Settembrini, cujo espírito não se altera com a deterioração de sua saúde no lapso temporal entre o antepenúltimo e o penúltimo subcapítulos – vai se tornando “mais loquaz, mais penetrante e mais cáustico”, mal deixando o adversário tomar a palavra. Na atmosfera de profunda irritabilidade que no final se abate sobre Davos, os diálogos se transformam em fala ininterrupta do jesuíta, na aparência dirigida tão somente a Castorp, mas no fundo visando sempre atingir o italiano com máxima violência.
O que resta a Settembrini é por fim interromper o fluxo monológico do oponente com o aparte que leva incontinenti ao duelo e, de maneira tão surpreendente quanto no caso de Mynheer Peeperkorn, à morte da complexa personagem devotada à causa da destruição – da sociedade, do mundo e, de maneira inteiramente consequente, de si próprio: “Posso me permitir a pergunta: o senhor tenciona terminar logo com essas suas indecências?” (p. 805).[xv]
Os acontecimentos que se seguem à morte do jesuíta, ou seja, a Grande Guerra referida no “Propósito” como o “começo de tantas coisas que ainda mal deixaram de começar”, parecem dar razão a seus sucessivos prognósticos sobre um mundo “condenado ao fim”, expressos desde o subcapítulo que o introduziu na história: “A catástrofe virá e deve vir; está avançando por todos os caminhos e de todos os modos” (p. 440). Ou ainda, pouco antes do duelo, nessa passagem em discurso indireto livre: “Ela não deixaria de vir, essa guerra, e isso era bom, se bem que acarretasse efeitos bem diferentes daqueles que aguardavam seus autores” (p. 798).
Mas isso significaria que ao fim e ao cabo Naphta conquista a vitória definitiva sobre o humanista italiano? Fica a palavra final no grandioso Bildungsroman de Thomas Mann com esse apologista da tortura, da destruição e do terror? A resposta precisaria levar em conta que por trás das imagens de barbárie que fecham o romance – “festa mundial da morte” e “perniciosa febre que inflama o céu da noite chuvosa” – ainda transluz um reflexo do subcapítulo “Neve”, que o próprio Thomas Mann considerava o ponto culminante da história: transluz o “sonho de amor” que nasceu da resistência de Hans Castorp, no limiar da morte, à potência aniquiladora da natureza, a qual gerou em seu íntimo a percepção que representa porventura a quinta-essência de seus anos de aprendizagem no sanatório, expressa nas únicas palavras assinaladas em itálico no volumoso romance: “Em virtude da bondade e do amor, o homem não deve conceder à morte poder algum sobre seus pensamentos” (p. 571).[xvi]
Desse “sonho de amor” que retorna na indagação que conclui a história do “filho enfermiço da vida”, o italiano Settembrini, a despeito da coloração irônica que o narrador dá a muitas de suas concepções, mostra-se muito mais próximo do que Leo Naphta, fundamentando-se nessa maior proximidade o gesto que faz o narrador ao despedir-se de Hans Castorp, ou seja, o mesmo gesto feito por Settembrini na estação ferroviária de Davos: enxugar uma lágrima com a ponta do dedo enquanto acena com a outra mão ao discípulo que parte para a guerra. De modo decidido e definitivo, a simpatia do narrador inclina-se pela figura do italiano e esse passo o coloca na companhia do próprio herói, conforme vem à tona nas passagens que narram suas visitas ao mentor acamado, na fase terminal da tuberculose, porém ainda capaz de dizer ao jovem “muitas coisas bonitas, vindas do coração, sobre o autoaperfeiçoamento da humanidade pela via social” (p. 820).
Se é verdade, contudo, que essa afeição se desdobra em sua plenitude apenas nas cenas de despedida narradas em “O trovão”, ela se manifestara de modo mais tênue em momentos anteriores, como na aventura em meio à neve, quando o jovem, em luta desesperada para evitar o congelamento, compenetra-se de seus vínculos afetivos com Settembrini, reconhecendo embora que nas intermináveis disputas com Naphta a razão quase sempre assista a este: “Aliás, gosto de você. Embora você seja um doidivanas e um tocador de realejo, são boas suas intenções, melhores e mais simpáticas, para mim, que as do jesuíta e terrorista pequeno e penetrante, esse algoz e flagelador espanhol com seus óculos relampejantes, se bem que quase sempre ele tenha razão, quando vocês estão discutindo… quando brigam pedagogicamente pela minha pobre alma, como Deus e o diabo, pelo homem na Idade Média…” (p. 549).
Essa mesma inclinação por Settembrini não poderia talvez ser estendida ao romancista Thomas Mann? É verdade que muitas das concepções expressas nas Considerações de um apolítico (1918) – concepções nacionalistas, apologéticas da guerra e até mesmo antidemocráticas – foram delegadas ao adversário de Settembrini, que nos estágios iniciais da longa e intrincada gênese da Montanha Mágica, ainda sob o nome de Bunge, funcionava com espécie de porta-voz do autor. Posteriormente, sobretudo na fase iniciada após a Primeira Guerra, a figura do “tocador de realejo”, até então um tipo caricatural de “literato de civilização”, foi ganhando autonomia e conquistando cada vez mais a simpatia do romancista, na mesma medida em que se fortaleciam suas posições democráticas e republicanas.
Quem intuiu esse processo com admirável acurácia foi Walter Benjamin, que até então votava profunda antipatia a Thomas Mann justamente em virtude dos posicionamentos expressos nas Considerações de um apolítico. Numa carta de seis de abril de 1925, Benjamin conta ao amigo Gershom Scholem o surpreendente impacto que lhe causava a leitura de A montanha mágica, exprimindo ao mesmo tempo a convicção de que durante o trabalho de escrita uma transformação das mais extraordinárias deveria ter ocorrido com o romancista: “Mal sei como devo contar a você que esse Mann, a quem odiei como a poucos publicistas, como que se aproximou de meu íntimo com seu último grandioso livro, A montanha mágica […] Por pouco elegantes que semelhantes construções possam ser, a mim, todavia, não é possível conceber de outro modo, sim, tenho praticamente certeza de que uma transformação íntima deve ter se processado no autor durante o processo da escrita”.[xvii]
A intuição de Walter Benjamin haveria de revelar-se certeira, pois a partir de A montanha mágica as posições de Thomas Mann passam a orientar-se com crescente força pelos valores – democracia, progresso, ciência, pacifismo – que Lodovico Settembrini, durante as intermináveis disputas com Naphta, buscava incutir no jovem “viajante em formação” Hans Castorp, ainda que mediante discursos que o narrador envolve sistematicamente em ironia. A partir da publicação de A montanha Mágica – verdadeiro “divisor de águas” na trajetória de Thomas Mann e, para Calvino, a “introdução mais completa” à cultura e história do século XX – intensifica-se fortemente a transformação de seu autor no admirável antifascista que ainda acrescentaria ao seu legado obras-primas como a pequena novela Mário e o Mágico ou a tetralogia José e seu irmãos assim como Doutor Fausto, monumental confronto épico com o período nacional-socialista.
*Marcus V. Mazzari é professor de Literatura Comparada na USP. Autor de A dupla noite das tílias. história e natureza no Fausto de Goethe (Editora 34).
Publicado originalmente na Revista Brasileira de Psicanálise, vol. 56, no. 1.
Notas
[i] Seis propostas para o próximo milênio (trad. Ivo Barroso). São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp. 130-131. O livro enfeixa textos de cinco palestras que Calvino faria em Harvard em 1985.
[ii] “Um esteta implacável”. In Thomas Mann. São Paulo: Perspectiva, 1994, pp. 31 – 69, p. 48.
[iii] “Thomas Mann e o Brasil”. In O Espírito e a Letra I. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, pp. 251-256. Na entrevista o escritor, que acabara de ganhar o Prêmio Nobel, explicita a deferência que dispensou ao jovem entrevistador brasileiro por ser da mesma terra de sua mãe Julia da Silva Bruhns.
Numa carta a Herbert Caro datada de 5 de maio de 1942, Thomas Mann apoiava a ideia de começar a tradução de suas obras no Brasil não pela Montanha mágica, mas sim pelo seu romance de estreia, pretensamente mais acessível ao “público sul-americano”: “Achei a decisão de dar prioridade aos Buddenbrook antes da Montanha mágica completamente feliz”. Apud Karl-Josef Kuschel et al.: Terra Mátria: a família de Thomas Mann e o Brasil (trad. Sibele Paulino). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p. 282.
[iv] A montanha mágica (tradução Herbert Caro; revisão e posfácio Paulo Soethe). São Paulo: Companhia das Letras 2016 – p. 12. As próximas indicações de páginas têm por base essa edição, cuja 10ª reimpressão, amplamente revisada por M. V. Mazzari, saiu em 2021.
[v] No original a expressão empregada é raunender Beschwörer des Imperfekts, “evocador sussurrante do imperfeito”, no sentido do tempo verbal “pretérito imperfeito”, que indicia uma ação passada, mas ainda em curso no momento do enunciado, o que adensa a referência àquelas “tantas coisas que ainda mal deixaram de começar”.
[vi] Sobre os conceitos de “netunismo” e “vulcanismo” em Goethe ver o texto introdutório à cena “Noite de Valpúrgis Clássica” (pp. 345 – 349) assim como as notas às discussões entre Tales e Anaxágoras: Fausto. Uma tragédia. Segunda parte (tradução de Jenny Klabin Segall, apresentação, notas e comentários de M. V. Mazzari). São Paulo: Editora 34, 2022 (6ª edição).
[vii] Itinerario. México: Fondo de cultura económica, 1994, p. 19.
[viii] Significativamente são sonhos que fecham o 1º e o 3º capítulos do romance, dedicados à noite da chegada de Hans Castorp ao sanatório (início de agosto de 1907) e ao primeiro dia completo de sua estada (o 2º capítulo leva-nos num flashback à infância do herói). Vale destacar, em meio à intensa elaboração onírica narrada no fecho daqueles capítulos, o sonho premonitório com o primo Joachim Ziemssen descendo a montanha num trenó (como os cadáveres eram transportados) e, na madrugada seguinte, os esforços desesperados de Castorp para fugir da “dissecação psíquica” (Seelenzergliederung, tradução direta da palavra psicanálise) praticada pelo dr. Krokowski, cujas preleções intituladas “O amor como fator patogênico” (subcapítulo “Análise”) dialogam com os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) de Freud. Muito impressionante é também o sonho, na segunda madrugada, que o recém-chegado tem com Clawdia Chauchat, depois de ter afugentado o “tocador de realejo”: após beijar a palma da mão da moça russa, Castorp é invadido pela mais intensa sensação de “gozo dissoluto”, numa passagem em cujas camadas profundas se manifesta o fascínio do jovem pela morte, associada aqui (e em outras passagens do romance) à dissolução erótica.
[ix] O adjetivo “penetrante” (scharf: “afiado”, “agudo”, “cortante” “incisivo”) é empregado inúmeras vezes em associação com Naphta, aparecendo já na passagem que o introduz na história: “Tudo nele parecia cortante” (p. 431). 78 páginas adiante, na conversa que o jovenzinho judeu, vagando sem rumo numa pequena cidade renana, entabula com o jesuíta Unterpertinger num banco de jardim, o adjetivo scharf é traduzido por “aguda”: “O jesuíta, homem experiente, de trato afável, pedagogo apaixonado, bom psicólogo e hábil pescador de almas, aguçou o ouvido, desde as primeiras frases, articuladas com sarcástica clareza, que o mísero judeuzinho proferiu em resposta às suas perguntas. Sentiu nelas o sopro de uma espiritualidade aguda e atormentada […] Falaram de Marx, cujo Capital Leo Naphta estudara numa edição popular, e daí passaram para Hegel, do qual ou sobre o qual o jovem também lera o suficiente para formular algumas observações incisivas” (p. 509).
[x] Nesse caso o procedimento de construir personagens fictícias tomando por modelo pessoas de seu círculo de convivência teve consequências para o romancista, pois logo após a leitura do romance, Hauptmann queixou-se acerbamente em carta à editora Fischer: “Thomas Mann emprestou minhas vestes a um beberrão, um misturador de venenos, um suicida, uma ruína intelectual, destruída por uma vida de putaria. O Golem deixa as frases incompletas, como eu também tenho o mau costume de fazer”. Graças, contudo, ao tato diplomático do romancista a relação amistosa pôde ser preservada, o que não foi possível em outros casos.
[xi] Trata-se do verso de Virgílio (Eneida, VII, 312) Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo ” (“Se não posso mover os deuses de cima, moverei o Acheronte”). Considerando que Settembrini é profundo conhecedor de Virgílio, essa homenagem se integra organicamente ao contexto da discussão: “A seguir pôs-se a falar da ‘demagogia dos padrecos’, referiu-se à prática eclesial de pôr em movimento o mundo subterrâneo, visto que os deuses, por razões bem compreensíveis, nada queriam saber de pessoas quaisquer […]” (p. 679).
[xii] Na reconstituição de um de seus “Discursos à mesa” (Tischreden), anotações feitas por diversos comensais de Martinho Lutero, o reformador teria certa vez investido contra Copérnico com as seguintes palavras: “Esse estulto quer inverter toda a arte astronômica. Mas Josué ordenou que o sol se imobilizasse e não reino da Terra”.
[xiii] Um claro vestígio da Teoria da Relatividade na Montanha mágica pode ser vislumbrado na passagem do subcapítulo “Passeio pela praia” que se refere à percepção diferenciada do tempo e do espaço por conjecturáveis habitantes de planetas distantes, muito maiores ou muito menores do que a Terra (p. 628).
[xiv] A imagem do “trovão” como metáfora bélica não é propriamente original e já Nietzsche, que tem forte presença no romance, a emprega numa carta de julho de 1870 ao amigo Erwin Rohde: “Aqui um trovão terrível: a guerra franco-alemã está declarada”.
Na parte final de “O trovão” chamam a atenção as metáforas infernais mobilizadas pelo narrador: Hans Castorp se atira ao chão ao ouvir o uivar de um “cão dos infernos” [Höllenhund], isto é, “um enorme obus [Brisanzgeschoß], um pão de açúcar asqueroso [ekelhafter Zuckerhut] saído do abismo”. Em seguida: “O produto de uma ciência asselvajada, munida do que há de pior, abate-se como o diabo em pessoa a trinta passos dele, penetra obliquamente no solo, explode lá embaixo com espantosa violência e joga à altura de uma casa um jorro de terra, fogo, ferro, chumbo e matéria humana despedaçada” (pp. 826 – 27).
[xv] No original a palavra com que Settembrini interrompe bruscamente a verborragia de Naphta é Schlüpfrigkeiten, que Herbert Caro traduz adequadamente como “indecências”. Esse sentido impõe-se, porém, apenas no século XVIII, pois em sua origem o substantivo está relacionado com o adjetivo schlüpfrig, com o significado de “liso”, “escorregadio”, como Martinho Lutero se referiu várias vezes ao seu incômodo interlocutor Erasmo de Roterdã, a seu ver “escorregadio como uma enguia”.
[xvi] Teci algumas considerações sobre o significado dessa percepção que ocorre a Hans Castorp, em sua luta contra a hostilidade gélida e indiferente da natureza, no âmbito de um estudo que situa Grande Sertão: Veredas na fronteira entre “romance de formação” (como A montanha mágica) e romance “fáustico” (como Doutor Fausto, também de Thomas Mann). In Labirintos da aprendizagem. São Paulo: Editora 34, 2022², pp. 79–80.
[xvii] Já em 19 de fevereiro, Walter Benjamin comunicava a Scholem o surpreendente impacto que lhe causava a leitura do romance: „Incredibile dictu: o novo livro de Thomas Mann, A Montanha Mágica, cativa-me pela sua composição inteiramente soberana”.