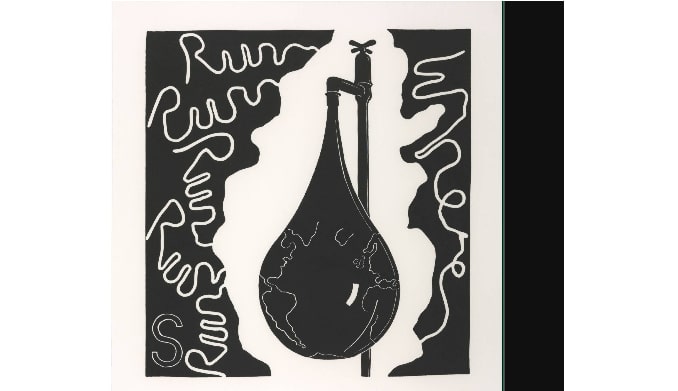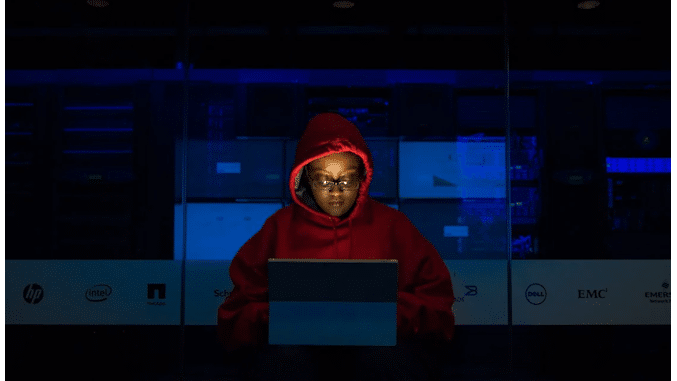Por EUGÊNIO BUCCI*
O comercial da marca alemã é um descalabro ofensivo à arte, à música brasileira e à memória cultural do Brasil
Na segunda-feira, dia 10 de julho, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu representação para avaliar uma campanha que a Volkswagen lançou para comemorar seus 70 anos de Brasil. Isso quer dizer que há um problema ético na peça publicitária. Ficou chato para todo mundo. O que mais incomodou as audiências menos insensíveis foi a trucagem por meio da qual a cantora Elis Regina, morta há 41 anos, foi posta para interpretar uma canção de Belchior enquanto pilota uma Kombi na contramão.
Você deve ter visto isso aí na TV ou na internet. Não é algo agradável aos olhos. Nem aos ouvidos. Com todo o respeito aos escapamentos dos automóveis, o comercial da marca alemã é um descalabro ofensivo à arte, à música brasileira, à memória de quem já partiu desta para a desconhecida e, sobretudo, às pessoas que, por ainda não terem falecido, tiveram de ser expostas a tamanha atrocidade.
O que o Conar vai decidir agora não importa. O mais crucial, nesta hora macabra, é compreendermos, com juízo crítico, por que a publicidade se sente autorizada a fazer do acervo cultural de um povo inteiro essa maçaroca monstruosa. O que foi isso? Como isso se tornou possível?
O comercial da Volks se permitiu editar a composição clássica de Belchior, Como nossos pais. Na verdade, o que fizeram foi esquartejar a letra, os compassos, o andamento. O verso “você diz que depois deles não apareceu mais ninguém” sumiu do mapa, embora fosse o centro nervoso da intenção do poeta. Vai ver ele foi tirado de lá justamente por isso. Alguém submeteu sua obra a uma lobotomia perversa, ao lado de outras amputações tópicas. E tudo isso em nome do quê? De vender veículos automotivos? Belchior, que cantava “ano passado eu morri, mas este ano eu não morro”, morreu de novo. E de novo, e de novo. Ele está aí, morrendo em horário nobre.
Quanto a Elis Regina, foi exumada por truques malfeitos que, segundo se propagandeou, contaram com o auxílio de Inteligência artificial. Ora, senhores. Ora, senhoras. Haja mau gosto. Haja apostasia. Haja profanação. A Kombi, das nossas memórias mais inocentes, mais preciosas, ressurge no papel de um féretro de mortos-vivos artificiais a serviço do entretenimento, como num cortejo de seres frankensteinianos sem pé, sem cabeça, sem coração e sem espírito.
Sim, a gente já viu um milhão de vezes pequenas obras primas do cancioneiro serem mutiladas pelos bisturis do que chamam de “alma do negócio”. Sim, isso não é novidade. A turma autoproclamada criativa joga as recordações afetivas da gente em liquidificadores de titânio e as transforma em gororoba de defeitos audiovisuais que não têm princípio, nem vergonha, nem senso de responsabilidade estética. Desde sempre é assim, já sabemos.
Ou, sejamos menos vagos, é assim desde que os jornais industriais começaram a circular nas grandes cidades. Mas agora, francamente, o que pensar dessa dissecação despirocada? Este pessoal não tem respeito por Belchior, que morreu em 2017? Não presta nenhuma reverência a Elis Regina? Será que não existe lugar para a consternação na ganância dos anunciantes e na vaidade marquetófila?
No mercado dos anúncios de mercadorias, a senectude (70 anos!) não é sinônimo de maturidade, de mansidão, de serenidade, mas de um furor adolescente em torno do “vil metal” – expressão que a Volkswagen também teve o capricho de expulsar da letra de Belchior. Triste fim da poesia.
Mais uma vez fica provado que as estratégias do advertising constituem o cemitério da arte, ainda que se valham, aqui e ali, de subterfúgios que de longe lembram expedientes dos artistas genuínos. Na campanha da Kombi embalada, Belchior e Elis Regina são evocados como retalhos do que foram. Cacos de si. Carcaças em ferrugem. Ferro-velho.
Mas não é só na publicidade. O entretenimento – que engloba a publicidade – funciona como a propaganda ininterrupta de si mesmo, como se fosse um mercado anunciante expandido. Muita gente de boa vontade ainda vê ilhas de beleza sublime na massa imensa do entretenimento, mas cabe duvidar. Acima de tudo, o entretenimento opera como negócio – e apenas residualmente lança mão de um pot-pourri de artes caídas.
Seu propósito é cativar as audiências para torná-las, como o verbo prenuncia, cativas – prisioneiras, “fidelizadas”, encabrestadas. Onde a arte liberta a imaginação humana, o entretenimento adestra. Onde o artista revela, o entretenimento veda. Onde a arte desarranja o que era sabido e abre portais que deixam ver, num relance fugidio, a face desafiadora das coisas que não sabemos, o entretenimento ergue seus currais de influência e mando.
“O que é a aura?”, perguntou-se uma vez Walter Benjamin, pensando sobre esse mistério na obra de arte. Ele mesmo respondeu: “É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja”. Isso você não encontra no entretenimento, a não ser como lapso ou como falsificação. Quanto ao mais, o que nos resta é embarcar na Kombi apocalíptica.
*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e oriente o mundo digital) (Autêntica).