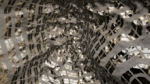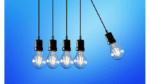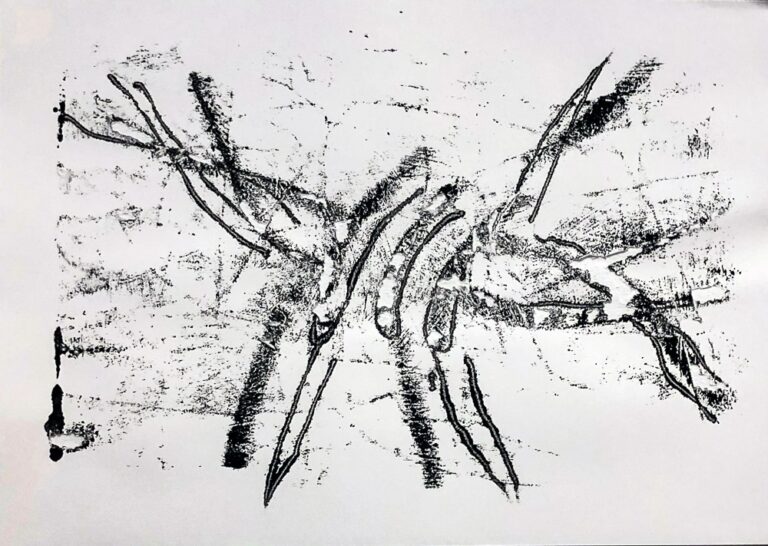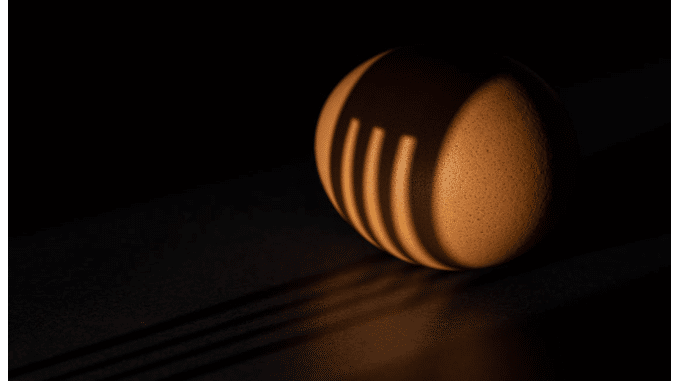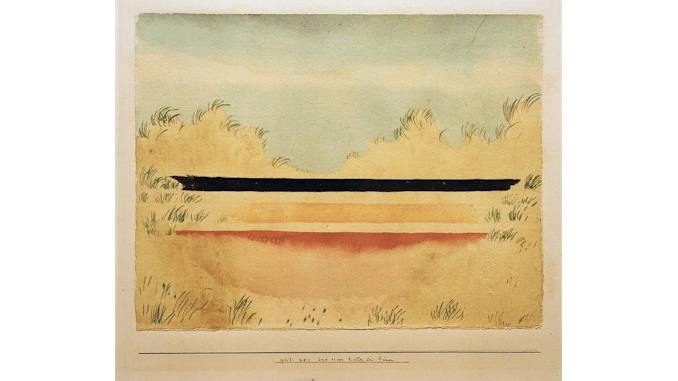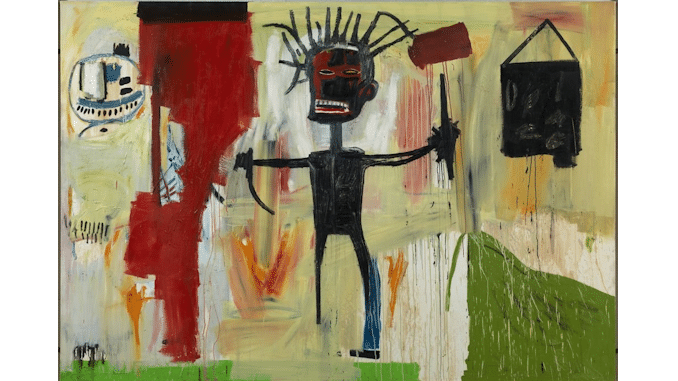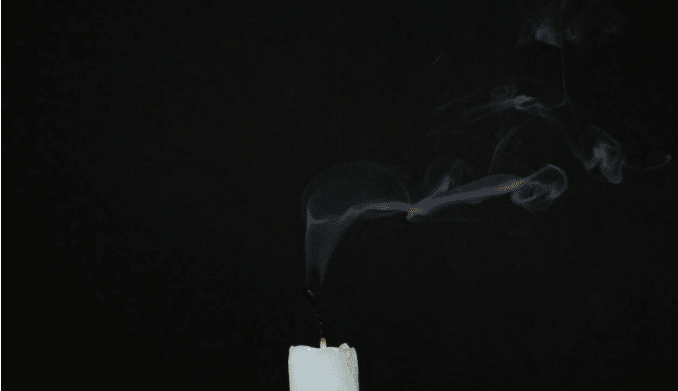Por LEONARDO PEREIRA LA SELVA*
Comentário sobre o documentário dirigido por Chico Kertész
O pai do povo e a festa sem o que comemorar.
Para um país novo historicamente nada melhor que celebrações para exaltar e fixar marcos simbólicos que fundamentem o imaginário oficialesco. Tivemos, por exemplo, no governo do tucano Fernando Henrique Cardoso a comemoração dos “500 anos de descobrimento do Brasil”. A maior celebração dessa data ocorreu em Salvador e o ápice da festa era uma réplica de uma caravela do século XVI que iria de Salvador a Porto Seguro. Houve manifestações contundentes contra aquele monumento[i]. Sem-terras, índios e militantes denunciaram as desigualdades sociais numa dessas manifestações. Nada a celebrar neste país feito de sangue dos párias da terra. A festa oficial da classe dominante foi vexaminosa graças à luta dos que não tinham nada a celebrar. Ao mesmo tempo, Daniela Mercury fazia o espetáculo que comemorava o “descobrimento”. A conquista da Axé Music se entranhava com a perspectiva do espetáculo político.
Nesse mote da exaltação, o filme Axé – Canto do povo de um lugar de janeiro de 2017 faz seu enredo dos 30 anos da Axé Music. O ponto não fazer juízo de valor sobre a música em si, mas em compreender como na forma do filme se apresenta certa perspectiva de história nacional a partir do mote exaltação. Ou mais: qual ponto de vista estaria amalgamado à própria composição do filme? O das caravelas do mercado ou dos párias daquela música?
As imagens iniciais do documentário são, principalmente, do fim da década de 1970 e início de 1980, quando o circuito carnavalesco de Salvador já tinha se estruturado como o carnaval dos trios elétricos. A lentidão das imagens junto à canção Baianidade Nagô, na versão dolente de Ivete Sangalo, retoma a nostalgia dos tempos áureos. Canção e imagem confluem para emoldurar o imaginário do espectador. Um saudosismo que dá o tom inicial a fim de emocionar o espectador e levá-lo às lembranças daquele tempo, para muitos consumidores nunca vivido, de fato, mas exaustivamente ouvido. O tempo lento da lembrança do passado parece ser atropelado ao longo do ritmo geral do documentário pelo próprio enredo da história do gênero.
É como se no todo, desde o início, se premeditasse a nova ordem daqueles tempos áureos… “alguma coisa está fora da ordem, fora da ordem mundial”.[ii] O Brasil, recém-saído da ditadura militar e concluído o processo constituinte, tem uma certa ruína “de uma escola em construção”, como nos versos de Caetano Veloso: construímos uma democracia e seu lastro era Sarney, militares e empresários, com, logo a seguir, a aceleração facínora de Collor sobre o almejado na Constituição de 1988. Assim, o tom saudosista se constitui como pano de fundo permanente da narrativa, uma vez que o público massivo também se constituiu nessa época.[iii] A massa se faz amalgamada pela conciliação política com a direita, a gestora da anomia social permanente. A miragem democrática não deixa de ter seu saudosismo na grande ilusão de um país inacabado. A sina do trópico de Nova ordem de Caetano seria (ou ainda é) a própria ruína.
Caetano Veloso, a personagem central do início do documentário, traz a memória do “vi e vivi” na década de 1960, quando os vídeos não registraram muitos momentos do carnaval soteropolitano. E é o autor de Odara quem empresta ao filme o nome de uma canção: Canto do povo de um lugar.[iv] A autoridade intelectual da Tropicália e da MPB como argumento do documentário será construído: quem viveu “por dentro” conta. Por dentro de quê? Qual seria o “fora” no gênero mais popular forjado pela indústria fonográfica? Esta seria a primeira pergunta. Mas, sigamos.
Todos os entrevistados se sucedem em primeiro plano ou close-up, revelando a vontade de verdade a partir do efeito dramático da câmera. Os relatos não são apenas dos artistas, mas também de engenheiros,[v] arranjadores, donos de estúdio, artistas mais e menos ligados ao jogo do mercado etc. Pelo ajuntamento de diversos relatos de quem viveu, dá-se a veracidade da história. Somam-se aos relatos a penca de imagens de clipes, carnavais e shows, o entretenimento mercantil que dominou todas as instâncias da sociedade na década de 1990.
Estruturalmente o documentário se divide em: formação, desenvolvimento, apogeu e relativa decadência, com expectativa de um novo apogeu. Uma estrutura clássica do drama burguês[vi] somado ao modo positivista, desde o século XIX, de se tratar a história. Parece irrisório? Acredito que não, uma vez que relativa decadência e expectativa se pautam pela dinâmica do progresso. Eis o primeiro nó a se pensar: o assunto histórico, a formação do movimento Axé por parte do povo baiano – épico, por excelência, visto que trata de um povo e não de indivíduos – é dramatizado. Mas, um elemento soma-se ao final da estrutura clássica do século XIX: depois da “decadência” de parte dos envolvidos no mercado moedor de artistas, tem-se a esperança numa figura individual: Saulo Fernandes, ex-vocalista do Jammil e uma Noites, exaltado como artista solo. Do drama passamos ao melodrama, cheio de intrigas e projetando um happy end progressista para o espectador. Assim, um futuro esperançoso depende do consumidor. Conta-se com ele para perpetuação histórica do gênero com marca de luta social. Mas, o que importa é a marca “axé” circular incessantemente no mercado concorrencial da cultura, e da vida.
Desse modo, inicialmente, temos uma perspectiva coletiva, do povo de um lugar; no fim, a figura individual, o herói que se constitui para as massas. O conflito do povo é individualizado. Nesse sentido o artigo indefinido que antecede “lugar” parece ser a própria expectativa daquilo que ainda não se definiu. A promessa de um Brasil inclusivo, integrador do mercado formal de trabalho das classes baixas e a promessa de melhoria de vida a se realizar produziu a inércia. E assim faz-se a lógica: a soma dos diversos relatos de quem viu e viveu o carnaval (na sua época “pré-capitalista” e capitalista) a partir da indústria fonográfica apresentaria a totalidade da história e o seu progresso. Ainda que num jogo de soma zero dado o próprio momento de produção do documentário, a inércia permanente, ou seja, a desigualdade social permanente estava dada.
Um dos temas mais debatidos, até hoje, foi o preconceito do sudeste para com a Axé Music da década de 1990, quando esta “dominou” a indústria. Não há dúvida de que seja um ponto a se trazer à baila da discussão, desde que se ultrapasse o debate moral. Pois, se meramente ir contra o preconceito é repetir a ideologia dos vencedores pela forma documental, talvez isso traga um problema duplo: a crença de que o simples contar essa história já seja uma vitória. Essa vitória, porém, continua do mesmo lado: o dos vencedores da história (e aqui não se trata de quem ficou rico ou não, mas do jogo da mídia de massa e da indústria fonográfica sobre uma formulação de uma promessa de Brasil, da ilusão necessária para se formar a nação democrática, que nunca foi formada).
Se enuncia-se povo, devemos pensar logo em nação. Um participa do outro. No caso, seria a nação baiana, a matriz negra e representativa da sociedade brasileira que combate a ideologia da mestiçagem positiva ou do branqueamento. E qual seria o ponto de vista desta nação que contempla o povo? Mais do que sabido: a história de uma nação pode ser contada sob o ponto de vista dos vencedores ou dos vencidos. No entanto, os vencidos, a partir da indústria cultural desde a década de 60, também podem narrar sua história – e pela forma de narrar enredada ao modo de produção capitalista, por muitas vezes, emula a história dos vencedores.
O distanciamento exigido, ou o modo épico, para ser apresentada “a” história se configura por uma organização de um ponto de vista. Se ele é organizado de forma dramática, nada mais certo do que um reforço do modo dominante e reducionista, e muitas vezes progressista, de se compreender a história – dos vencidos, ressalta-se. Não há contradição; há conflitos sobrepostos. Impera a lei de causa e efeito, própria do chamado drama burguês, um clássico da dramaturgia.
Portanto, contempla-se, a partir da indústria cultural, a história dos vencidos sendo contada do mesmo modo que os vencedores organizam a sua história. Gênios, figuras individuais que se esforçam, que tem sorte e vivem do acaso,[vii] que se sentimentalizam ao relembrar aquilo que já foi e nunca mais voltará a ser. Imperam os dramas pessoais, temperados por intrigas, repletos de aventuras para se inserirem no mercado nacional.
O documentário pretende mostrar a formação de um “movimento musical único”, conforme a legenda aos 3’25’’, tendo como “berço” a cidade de Salvador. O gênero genérico de canção, mas específico para o entretenimento,[viii] parece ter na palavra “movimento” o seu suporte ideológico. Esta se relaciona ao princípio do Axé no candomblé. E ela pode ser politizada, no sentido de conflito e ponto de vista, como reivindicação social que visa a um objetivo político, ou pode indicar deslocamento, troca de posição de um lugar para outro, agitação, alvoroço. Independentemente da gama de significados o ponto é: esse movimento tem caráter político ou apenas indicação de “troca de lugar”? Acredito que não seja sob o signo de uma ou outra, mas sob a via dupla – politização e troca de posições individuais no mercado – que o filme atua, desde estas pequenas indicações explícitas, passando pelo relato dos entrevistados, até a própria estrutura do filme.[ix]
Não pretendo dissecar ponto a ponto, mas mostrar como estes elementos de escolha do diretor Chico Kertész não são meras junções de relatos para compor uma história, mas a representação, nada neutra, de se olhar para uma história sob um determinado ponto de vista, o do mercado ou, segundo Durval Lélys, vocalista da banda Asa de Águia, do “business nacional”. Toda a verve social e política, encampada pelos grupos de percussão, torna-se acessório ou perfumaria para o business. Inclusive, vale constar: nas palavras do maestro e arranjador da gravadora WR, Alfredo Moura, percussão nem é instrumento. E é nessa toada que, no documentário, os grupos de percussão saem de protagonistas a meros figurantes. E isso não deixa de ser uma bela representação de Brasil…
A Axé Music tem pai?
A Axé Music trouxe para a indústria fonográfica e do entretenimento a baianidade ou certa representação de baianidade atualizada a partir de uma tradição cultural,[x] como força motriz de construção de um aglomerado de artistas. Eles despontavam com a dicção baiana, malemolente e muito suíngue que caracterizavam não só a regionalidade, mas também um lugar que norteia a negritude brasileira, incorporada ou não à ordem, mas exaustivamente explorada na estrutura social e ideológica.
A promessa do filme, o qual tem Gilberto Gil como capa do streaming Netflix, é de trazer esse povo à tona a partir de uma história pouco ou não elaborada pelo senso crítico ou pela intelectualidade brasileira. Mas seria a realização do flime a concretização dessa promessa? A promessa de que a intelectualidade, em abstrato mas sob alvo concreto de uma certa elite branca, não viu o que devia ver?
A primeira questão apresentada pelo documentário é: a Axé Music tem pai? Seguem diferentes pontos de vista como forma de trazer a pluralidade e dar o caráter de neutralidade à composição do documentário, o qual o narrador onisciente faria apenas um papel de mediador entre a história e a realidade. A lista fraterna é enunciada por vozes de diferentes gerações e pontos de vista, no sentido de função social – artista, arranjador, produtor etc. – e ideológico, do mercado musical. Os eleitos para responder à questão foram: Blocos afro, Neguinho do Samba, “Seu” Osmar e Dodô, Omolu, o arranjador da WR Alfredo Moura, Wesley Rangel Cristóvão Rodrigues, o Carnaval como ente maior e organizador de tudo. Independemente disso, Caetano Veloso, o pai tropicalista,[xi] elege o primogênito da Axé Music: Luiz Caldas.[xii]
Caldas passaria da fase de formação dos trios elétricos de Dodô e Osmar para o desenvolvimento da modernidade estética; daquele estilo carnavalesco das ruas para as massas, além carnaval. Os marcos seriam o teclado sintetizado – um marco tecnológico da canção da década de 80 –, e a palavra cantada, uma vez que antes as guitarras eram quem cantavam. A canção, desta forma, é o produto massificador, o ponto de inflexão para essa história. Para além da canção, Luiz Caldas insere a força do gesto marcado e repetitivo em sua dança o qual se reproduzia junto aos ritmos musicais – fosse Ijexá, frevo ou reggae – e à palavra cantada. Uma toada constante da Axé Music que trouxe à tona a ambiguidade entre o literal e a sexualidade, um relação poética não exatamente nova, mas agora massificada, dando rasteira em qualquer devaneio crítico sobre a história da canção como se uma técnica poética fosse neutra na própria história. Se a canção se vale também da imagem, nada melhor que a reprodução incessante dos gestos para fazer a mercadoria circular no cotidiano e no imaginário das massas. Um processo de reificação da própria dança popular em que os gestos, embora marcados em certos aspectos, mostram também a liberdade do dançarino em relação ao ritmo.
O documentário, ao apresentar o primogênito eleito, usa imagens de vídeo-clipe e publicização do artista na mídia de massa para mostrar seu sucesso. Paralelamente a essas inovações do primogênito-pai,[xiii] anos antes, em 1980, desfilara pela primeira vez no carnaval o Olodum. O primeiro LP do grupo é gravado sete anos depois.
E são essas duas forças que se apresentam no documentário: artistas individualizados buscando a projeção no carnaval, construindo suas carreiras via indústria fonográfica, e movimentos artísticos politizados que colocavam em pauta a questão da negritude e a questão da marginalidade social. Certamente, alguns desses grupos, como o Olodum e o Ara Ketu, também tiveram inserção na indústria, mas o que importa é essa via dupla pela qual segue o documentário.
Segundo Armandinho, foi Luiz Caldas quem “definiu” um estilo de música com objetivo de se projetar nos trios elétricos. E para a indústria fonográfica-midiática nada melhor que gravar um artista o qual uma projeção de imagem e música já estão fincadas regionalmente e, no caso, pronta para chegar ao ouvinte-consumidor médio nacional, para além do regionalismo. Trabalha-se o produto para se adequar a uma expectativa histórica do ouvinte-consumidor médio, cujo ponto não é somente regional, mas também uma indicação de inserção num mercado mais amplo, global, se possível. Se conseguirá esse feito ou não, outros quinhentos e investimentos.
A coincidência histórica com o projeto tropicalista de 1968 não é mero acaso. O projeto tropicalista empreendido, principalmente, pelo compositor de “Tropicália” é parte desse fio histórico da canção, do progresso cultural brasileiro. Ele enunciava a vontade de modernizar nossa música para um tal universal; deveríamos combater o regionalismo-nacionalista e adentrar à política universal, do mercado internacional-popular.[xiv] Inserir-se no mercado, sem restrições, seria o projeto de modernização estética-popular necessária, segundo o manifesto tropicalista e o manifesto Música Nova, dos arranjadores engajados nessa universalização da música popular brasileira. A tal antropofagia de Oswald sairia de um chiste, com tom de humor e revolucionário, para impulso mercadológico. Não por menos que Caetano é uma das personagens principais do documentário. Ele será a imagem viva e representativa daquilo que viu e viveu na fase embrionária do carnaval baiano, soterrado pela história do carnaval carioca. Ele fez parte do desenvolvimento, viu a consolidação e sabe (ou soube?) reconhecer o apogeu, assim como Gilberto Gil – o pai pródigo, mesmo distante –, que elege os sucessores dessa tradição no contemporâneo.[xv] Não por menos que o documentário reitera o programa do reacionário Chacrinha, como a ponte para o estrelato nacional.[xvi] O velho já tinha carimbado muitos artistas, desde que continuassem pingando o jabá necessário ou que os acordos com as grandes gravadoras ainda vigorassem. Mas, assim como reza a prece: o que importa é o talento, não é mesmo?
Faça amém, quem é de amém.
O final dos anos 1980 para a indústria fonográfica é marcado pela diversificação das estratégias de marketing e publicização dos artistas das grandes gravadoras[xvii]. O artista poderia lançar sua música junto a um sabonete ou uma marca de roupa da moda, por exemplo. O cotidiano estava tomado por canção-entretenimento. E o Brasil, como terceiro mundo – jargão da época –, recebia também o fluxo incessante das gravações estrangeiras voltadas para o entretenimento da massa e marcadas pela inserção de instrumentos eletrônicos e pelo desenvolvimento tecnológico dos estúdios. Estes eram capazes de até produzir um artista sem ele ter voz alguma, um caso comum dali em diante na indústria mundial, já que a imagem se sobrepunha a qualquer talento, ou suposto, musical. Não era, porém, o caso dos artistas baianos daquela época.
É inegável que tinham preparo técnico, o carnaval já os preparava para o business, ainda que não houvesse empresários preparados para um horizonte de investimentos a médio-longo prazo, como apontou Leitieres Leite em entrevista[xviii]. O importante era de que a imagem seria o vetor publicitário, inclusive pelo início da época dos vídeo-clipes. Além disso, muitos músicos, que se tornaram profissionais, participavam de práticas sócio-musicais que ultrapassavam a indústria, como os sambas de roda, os candomblés e, certamente, os encontros espontâneos pelas ruas de Salvador.
A palavra cantada é o motivo condutor daquele território marcadamente negro e detentor de saberes que extravasam o chamado Brasil oficial, embora alguns saberes também participem há muito tempo de uma Bahia oficial.[ixx] E muito se deve à construção feita por uma indústria do entretenimento que formou a tríade lucrativa: Carnaval, turismo e música.
Na década de 1990, já com alguma força mercadológica nacional, os baianos surgem aos montes no mercado. A produção dominante carioca é disputada frente a frente com a Axé Music, com uma segunda geração do BRock (Raimundos, Planet Hemp, Skank etc.), com o pagode de São Paulo, com as duplas sertanejas, que também ganhavam relevância desde o final da década de 1980. O carnaval baiano já dominava, e disputava com o Rio de Janeiro, como um dos maiores carnavais do país, no sentido econômico, e a prefeitura já oficializava o famoso circuito de cordão “Dodô e Osmar”, citada pela música Baianidade Nagô no início do filme. É inegável que a década de 1990 é o apogeu da Axé Music. Tudo já está estruturado: estúdios, negociatas, artistas, empresários[xx].
Os trios elétricos eram parte da estrutura regional do negócio e, desde o fim de 1980, os mandatários das caixas de som pouco se importavam se a transa consumidora fosse a classe média, mais intelectual, mais universitária – e que certamente poderia pagar mais pela diversão. Na verdade, isso tornou-se objetivo comercial. A lógica do “pagou, levou”. Se em 1968 a Tropicália se insurgia contra um público universitário intelectualizado, à esquerda, para formular um outro projeto estético-político, a Axé Music adota a explosão do ser universitário privatizado, despolitizado, a partir do projeto de Fernando Collor de Mello, como seu público preferido.[xxi]
É naquela década da neoliberalização total do Brasil, em que a privatização e a exclusão tornam-se pares e motes culturais sem vergonha de estratificar a sociedade pelo consumo, que se produz o disco mais cultuado do gênero por uma artista preparadíssima para os blocos, para a rotina incessante de apresentações, que canta-dança-canta-dança freneticamente no palco: Daniela Mercury. Seu preparo, físico, vocal e corporal, é de uma estrela pop norte-americana. Precisa-se representar a qualidade técnica afeita ao esforço incessante. Isso está além da disciplina burguesa do século XIX, pois na performance do Axé o esforço é para guiar o ritmo geral da sociedade em que o trabalhador das classes baixas nem se encontra mais na possibilidade de uma sociedade salarial, já em ruínas. Com o disco O canto da cidade (1992) se formula a síntese ambígua com a qual o filme trabalha: mercado e política. Mercury eleva o patamar da Axé Music a algo consumível também pelo público MPBista, adorador de letras mais trabalhadas, ou poesia-canção, desde a formulação desse gênero também genérico da indústria fonográfica, em meados de 1960. Mercury demora a aparecer no filme como personagem central, mas seus comentários são sempre de tom analítico ou de pesquisadora – o que não é ruim em termos de pesquisa estética, mas facilmente amalgamado como justificativa para produções embrionários do mercado midiático-fonográfico. Aliás, isso dá o próprio tom de intelectualidade que a classe média consumidora de MPB gosta. A artista tem conhecimento amplo de ritmos afrobaianos, da história deles e das bandas. Sua personagem no documentário é como de uma intelectual, conhecedora profunda dos ritmos da tradição. Pena que tradição não se faz só por ritmo, a não ser se vista pelo ritmo da produção…
Na verdade, durante todo o filme mostra-se que aqueles artistas não eram mera invenção do mercado – e, de fato, muitos não eram. O ponto de vista apresentado é o de mostrar artistas não alienados aos ritmos que tocavam – e que, de fato, não eram!. É o Tchan tem sua base no samba de roda; Márcio Victor, vocalista do Psirico e percussionista de formação, sabe casar e formular novos ritmos a partir da tradição regional; Xandy também etc. Certamente há uma força para se querer sair do plano do preconceito, que é algo moral, mas para chegar aonde? No coração do povo, como diz o produtor Wesley Rangel? Por quais vias? Ainda que Leitieres Leite se esforce para analisar um fenômeno musical em que prática social tinha vida para além dos estúdios, ele não coloca na conta a força do mercado para alçar esses artistas e manipular ouvidos pela repetição incessante.
E daí, por mais que haja o esforço do maestro em politizar, o mercado avassalador despolitiza o ritmo que nasce do povo para transformá-lo em batucada incessante nos ouvidos da massa. Toca-se até esgotar. E assim é a produção inesgotável de artistas que saem do povo para tentar o estrelato.[xxii] A tradição serve como matéria para a indústria politizar,[xxiii] aparentemente, e despolitizar ao mesmo tempo. Nesse caso, falta ao documentário a investigação sobre qual seria a condição dos trabalhadores daquela indústria, os entremeios do mercado e da mídia, o que limitou o avanço da produção estética etc. Mas não há como se esperar isso de quem exclui de seu ponto de vista uma análise crítica da história. Se a organização do material documental está pautada num modo dominante de narrar a história, se o melodrama está armado para individualizar questões sociais, então a derrota crítica está pronta para o espectador aderir ao que foi forjado nos aparatos técnicos de estúdio e nas negociatas entre empresários locais e mídia de massa. Uma estratégia cínica da classe dominante, nenhuma novidade da vida social brasileira.
Por fim, depois de várias histórias vitoriosas, chega-se à estrela maior: Ivete Sangalo. São quase oito minutos dedicados a ela. A artista da Sony, junto a Daniela Mercury, foi um estouro nacional. Mas depois do apogeu, vem a decadência. O documentário se envereda pelas intrigas pessoais e pela falta de estratégia (de business!) em não conseguir manter o “gênero” no topo do mercado. Entre mortos e feridos, ainda restam alguns artistas. Dentre eles, Ivete. E a questão a que ela tem de responder ao documentarista é o contrário do que o filme propõe: não há movimento porque não há união de artistas? A popstar baiana fica indignada, visivelmente. “Alguém lhe disse isso?”, ela pergunta embasbacada. E todos os depoimentos anteriores expõem aquilo que ela recusa aceitar. O jogo do ponto de vista é cínico: é proposta uma pergunta crítica, sendo que a resposta já vem sendo construída ao longo do documentário, e deixa para a popstar internacional questionar e ficar em maus lençóis, pois contraria o óbvio. Portanto, seguindo o raciocínio do documentário ressoa o problema: a rainha seria tão rainha assim? Qual a conclusão perniciosa que o documentário deixa para o espectador? De que ela seria a culpada, portanto. Sua busca pelo sucesso ultrapassou o “movimento”.
Dessa maneira, o melodrama está pronto para o espectador ficar com as questões dualistas, do bem e do mal, e tomar partido no conflito. E a politização que sobra fica para o nível mais individualizado possível, ou seja, despolitiza-se. O nível da crença de que seriam as relações pessoais que poderiam superar essa crise chega ao ápice da narrativa, o que não é exatamente uma mentira numa sociedade de compadrios e jabás, mas não é o todo do movimento do capital.
O maestro Leitieres Leite, num esforço de politizar o ponto de vista, reaparece para falar que aquele ritmo, que antes era puro entretenimento, já se fixou como um gênero musical.[xxiv] Esse é o momento da narrativa que antecede a viravolta dramática que aponta a esperança. O gênero de entretenimento, depois da decadência e das traições, não morreu. Cláudia Leite é exaltada como a artista pop internacional, bem longe do tal Axé, ainda que venere as suas “raízes”. Mas ainda há outro sucessor eleito para o bastião do Axé. Antes, notemos: Caetano, o pai de tudo da música popular brasileira, elege o primogênito regional; Gil indica os contemporâneos que desenvolveram; Leitieres indica a fixação da eternidade. Mas quem seria o sucessor no momento presente para continuar a escalada axé-pop internacional?
O mercado, a partir de seus partidários incontestes, o elege: Saulo Fernandes. Assim, a tentativa crítica do maestro da Orkestra Rumpilezz, já fora anulada na composição do documentário pela enxurrada de afirmações do e sobre o mercado midiático-fonográfico. Para o espectador fica a indicação de esperança e de busca que ele deve fazer para que Saulo Fernandes, essa figura proeminente da música popular brasileira, continue na história (hegemônica?)… Mas, depois de Saulo, virá quem? Na Bíblia, Saulo foi São Paulo, o inventor do Cristo bíblico e da Igreja Católica. Na bíblia do mercado, Saulo é apenas mais um, embora eternizado como aposta do documentário; aposta falida. E longe de querer ficar em debates individualizados sobre esse ou aquele artista, se é branco ou não, quem seleciona é o mercado e dá a sua cota racial há muito tempo para fingir que não há racismo, para espetacularizar a cultura como redenção do racismo, mas não da exploração do capital em ritmo descartável com todos os trabalhadores da indústria fonográfica que carregam a matéria-prima em seus toques. Assim como Getúlio Vargas, o mercado sabe calar a voz do oprimido dando-lhe um nome, uma esperança, uma ilusão.
O carnaval de cordão continua, os cordões da sociedade também, os consumidores também, e a Ambev e a prefeitura coronelista da Bahia, patrocinadores do filme também – e vão muito bem e agradecem o apoio constante de seus seguidores fanáticos pela euforia do gesto marcado e controlado que seguem pelas ruas da cidade. Outros apóstolos virão. Enquanto isso, os tambores ainda tocam nas ruas… ouça quem tem ouvidos. Faça amém, quem é de amém. Faça axé, quem vê os tambores do povo não cessando nas desventuras de “conquista do Brasil” e quem compreende que não será uma mera troca de lugar nesse movimento capitalista que mudará a estrutura social.
*Leonardo Pereira La Selva é bacharel em letras pela Universidade de São Paulo.
Referência
Axé: o canto do povo de um lugar.
Brasil, documentário, 2017, 107 min.
Direção: Chico Kertész
Roteiro: Chico Kertész e James Martins
Fotografia: Rodrigo Maia
Música: Bob Bastos
Notas
[i] Valor de 500 mil reais e muitas negociatas políticas entre o governo federal e estadual, PFL, hoje o DEM, os caciques proprietários.
[ii] Versos de Fora de ordem (Caetano Veloso).
[iii] Seria o público-alvo a geração criada no entretenimento da década de 1990 sendo a nostalgia parte da mercadoria cultural? A excelência da pós-modernidade. Ou seja, política sem história e vice-versa.
[iv] Nesta canção do disco Jóia (1975), Caetano dialoga com a melodia de Asa Branca para mostrar como “a gente” está em total consonância com a natureza. Uma mistificação do povo em tempos ainda sombrios da ditadura.
[v] Construtores dos trios elétricos cujos aparatos limitados pela condição econômica, do lugar e do país, mostram o esforço para superar a condição subdesenvolvida e chegar a resultados artísticos para a massa. É inegável o esforço, mas fica a ressalva de como isso trabalha para construir o drama social do documentário.
[vi] Interessante notar como os primeiros historiadores da música popular (Vagalume, Animal, Almirante etc.) se apóiam nessa estrutura para criar aquilo que nunca havia sido contado. O livro “Criar um mundo a partir do nada” do historiador da USP José Geraldo Vinci de Moraes apresenta bem esse modo de contar dos cronistas-historiadores iniciais da música popular.
[vii] “estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo” diz Ricardo Chaves sobre Luiz Caldas. Este lugar comum nada mais é do que a forma de se caracterizar a sorte como forma de ascensão social. Se isso ocorre no nível individual, no nível social ela é uma conjunção de fatores que desembocam em certas figuras proeminentes da história. Vejamos: se colocarmos isso para Hitler ou Stálin poderíamos reduzir toda a análise social a figuras sortudas que chegam ao poder.
[viii] Talvez aqui valha a reflexão: se, conforme Adalberto Paranhos, os jovens nascidos nas décadas de 1970, 1980 e 1990, não viram quase nenhuma mobilidade social, seria na lógica do entretenimento a possibilidade de inserção social?. Conferir em Paranhos (2019): “A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a persistência secular das desigualdades sociais” (cap. VI).
[ix] E ainda: qualquer debate feito sob a ideia da ancestralidade para justificar a Axé Music torna-se fetiche, uma mística brasileira da relação entre classes e exploração.
[x] Aquela que se concilia politicamente com as camadas dominantes e faz da sua manifestação artística uma conformação com a ideologia dos dominadores. Afinal, os dominadores também podem ser progressistas, não?
[xi] Caetano lá pra meados de 1970, mantendo seu projeto narcísico-tropicalista, muda o nome da canção “Frases” (1967 – do álbum O Bidu – Silêncio no Brooklin) de Jorge Ben para “Olha o menino”. Pedro Alexandre Sanchez em Tropicalismo – decadência bonita do samba diz: (…) é Caetano englobando quem lhe deu matriz, fazendo filhos seus os que são seus pais. Portanto, agora no século XXI, com a história (mal) contada da música popular, Caetano já pode de seu panteão rogar por sua prole, mesmo por aqueles que não deram muito “certo”…fazer o quê – diria sua neutralidade baiana – …é a lei natural da vida (leia-se “mercado”).
[xii] O diretor do filme, em novembro de 2016, no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, diz que o marco inicial da Axé Music seria Luiz Caldas. O filho primeiro eleito por Caetano Veloso seria o pai para o diretor. Seria Luiz Caldas, conforme o diretor Chico Kertész, quem tiraria de cena as guitarras baianas, sendo o ponto de inflexão para a massificação da canção e desenvolvimento tecnológico dos trios.
[xiii] Comumente coloca-se Luiz Caldas como pai do “Fricote”, uma mistura de ritmos negros condensados para o pop, ou seja uma estética da indústria pronta para a massificação.
[xiv] Aqui faço coro à tese de Daniela Vieira dos Santos: “As representações de nação nas canções de Chico Buarque e Caetano Veloso: do nacional-popular à mundialização.” (tese de doutorado, Unicamp, 2014).
[xv] Essa relação de artista e mídia de massa, música regional e “universal” (ou pop, no sentido de massificação) indica a relação de artista e obra. Não por menos, novamente, que a Axé Music em sua fase de consolidação no mercado foi rotulada de Neotropicália.
[xvi] Nota-se que as cantoras só ganham proeminência se passassem pela sexualização do programa. O bundalelê sem limites para o mercado desbundado da década de 80/90 é o canal para a massificação.
[xvii] Ver: DIAS, Márcia Tosta. Os donos da voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. São Paulo: Boitempo, 2008.
[xviii] Novamente: esta descrição é de Leitieres Leite cuja consciência do processo demonstra as contradições de se formar uma canção política das massas em meados de 80 e por toda a década de 90, instituição do neoliberalismo pelo governo Collor.
[xix] O processo de modernização da cidade de Salvador, entre 1912 e 1916, ocorreu em concorrência à Reforma Pereira Passos em Guanabara. A luta da elite pelo pólo cultural de um Brasil-nação não deixou de valorizar as particularidades baianas ante ao Brasil branco da antiga capital federal pela reforma urbana do governador J.J. Seabra. Certa euforia progressista da elite local, apelidada graciosamente de “Renascença Bahiana”, mostrou o consequente desprezo aos traços coloniais e ao povo enraizado nas localidades em que a modernidade urbana deveria aparecer, na moderna Avenida 7 de setembro. Há um bom debate sobre isso no livro “Caymmi sem folclores” (2009), de André Domingues.
[xx] Imperam os homens brancos, por sinal, investidores de gado, soja e música – e mesmo que fossem somente de música ou negros bem provável que não mudaria a lógica, embora alguns produtos pudessem ser pensados mais estética e menos comercialmente
[xxi] Não por menos que naquela e na década seguinte imperam os axés nas famosas “festas universitárias”.
[xxii] Engana-se aquele que compreender isso como julgamento moral. Pensemos que esta tal busca do sucesso, a qualquer custo e entremeado de investimentos e maestros, pouco expõe o “povo”, mas a trajetória de artistas que se sucedem.
[xxiii] Politizar, aqui, entende-se por colocar conflitos sociais em jogo, distante da ideia neoliberal que se fixou na política institucional
[xxiv] Em outra entrevista ele é mais categórico ao dizer: [A Axé Music] é um gênero da indústria fonográfica. Ver entrevista em: https://zumbidodebamba.com/2021/11/03/leitieres-leite-reflexoes-permanentes-da-insatisfacao-musical-e-social-transcricao-de-trecho-de-uma-de-suas-ultimas-entrevistas/ . Parece que há uma contenção do maestro em dizer mais abertamente sua reflexão crítica sobre o gênero, visto que em outras entrevistas ele explicita mais a relação entre o gênero Axé Music e a relação umbilical com a indústria midiática-fonográfica.