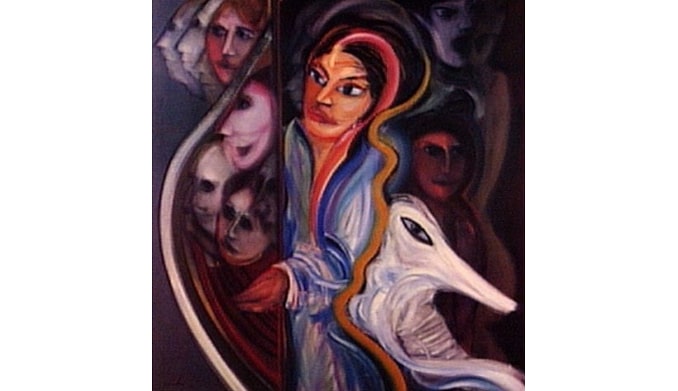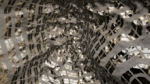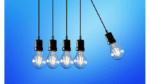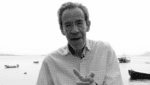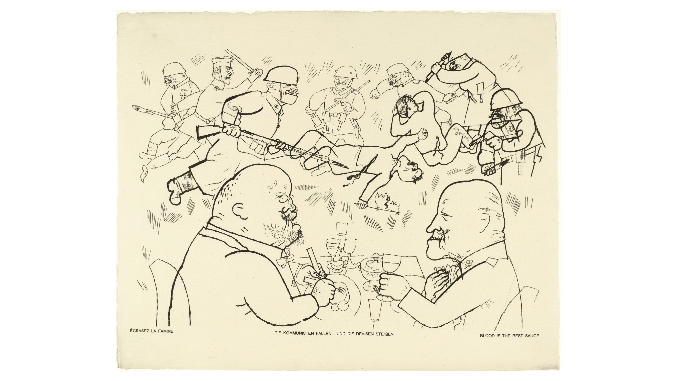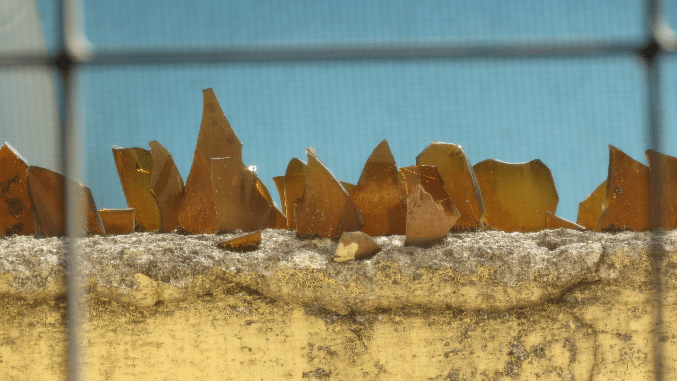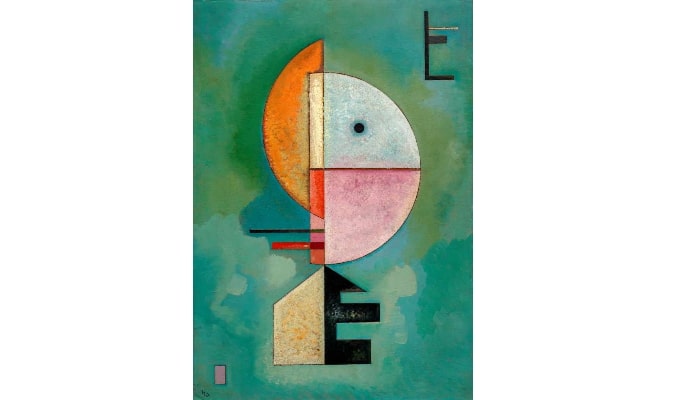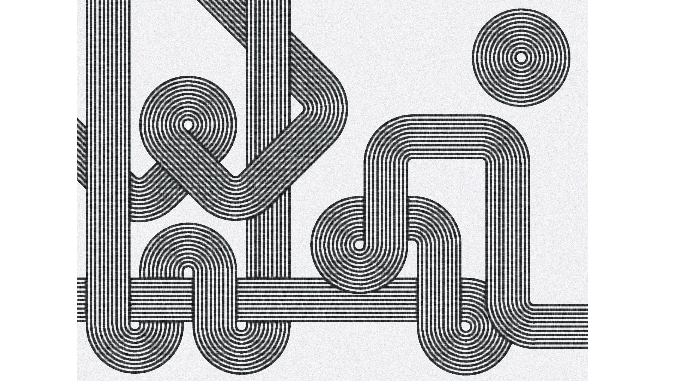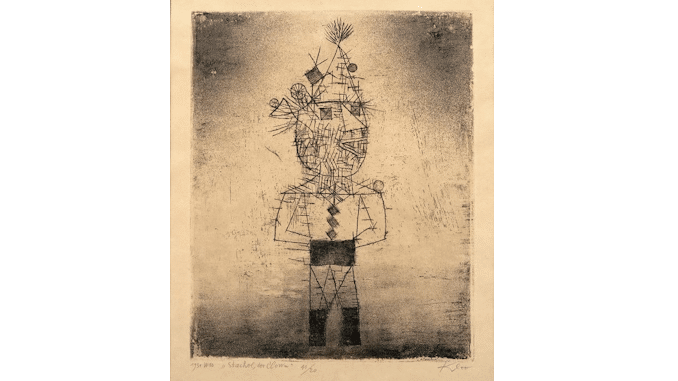Por BENTO PRADO JR.*
Comentário sobre o livro de Isaias Melsohn
Comecemos pelo coração da reflexão de Isaias Melsohn sobre a metapsicologia: a reflexão sobre o estatuto epistemológico e ontológico do conceito de “representação inconsciente”. O que importa sobretudo é a originalidade e a riqueza dessa abordagem de um problema no entanto perfeitamente clássico. Como dizer algo de novo depois de quase um século de debate sobre o assunto? Desde já arrisco uma hipótese: a vantagem de Melsohn foi justamente a de dissolver aporias aparentes por meio da clarificação dos conceitos básicos e conseguir, assim, passar incólume entre duas formas unilaterais e simétricas de “reduzir” o conceito de representação inconsciente.
Para amparar tal hipótese, é necessário esboçar esquematicamente (apenas uma épura) o horizonte histórico da questão. Comecemos pelo pequeno e genial Crítica dos fundamentos da psicologia, que G. Politzer publicou em 1928 (aos 25 anos!). No que concerne a Freud, a tese, que faria história, era clara e dura: a interpretação psicanalítica é o ponto arquimediano da psicologia do futuro, mas a metapsicologia não passa de uma costura de noções metafísico-ideológicas a serem dissolvidas pela crítica. O pecado mortal da metapsicologia, implicado na ideia de representação inconsciente, consiste no seu objetivismo e nos seus esquemas explicativos “na terceira pessoa”. Antes de ser assimilada pela versão francesa da fenomenologia, especialmente de Maurice Merleau-Ponty, a ideia central de Politzer já havia sido incorporada na tese de doutoramento de 1932 (tese de psiquiatria, não de psicanálise) de Jacques Lacan, embora nem o título da Crítica nem o nome do autor aí sejam mencionados.
Mais tarde, Lacan, já psicanalista, há de promover seu “retorno a Freud” e de se empenhar (já contra Politzer) na reconstituição da necessária metapsicologia. Mas, após breve namoro com a fenomenologia, encontraria, por intermédio de Claude Lévi-Strauss, o bom caminho do “estruturalismo”, terminando por “despsicologizar” radicalmente a psicanálise. Tratava-se de pensar a subjetividade do sujeito descartando a ideia romântica e “psicologista” de expressão.
Aquém do sujeito empírico e de sua expressão “fenomenal” está montada uma estrutura que os explica e relativiza a ambos. Instalava-se assim – para além do gênio e dos méritos indiscutíveis de Lacan – uma verdadeira ideologia da “autonomia do significante”, que desqualificava qualquer forma de fenomenologia e esvaziava de sentido noções como a de “totalidade” ou de “expressão”. Assim, partindo de Politzer, mas restaurando a metapsicologia que aquele condenara, Lacan parece comprovar, à própria revelia, o diagnóstico do autor da Crítica dos fundamentos da psicologia: a metapsicologia está necessariamente ligada a uma forma de pensamento objetivista e formalista (pensemos nos famosos “matemas”, onde terminamos por mergulhar), que não faz justiça à subjetividade do sujeito e à prática da interpretação psicanalítica.
Ora, mesmo se recorre à fenomenologia (Sartre, Merleau-Ponty, Max Scheler), Melsohn não precisa a ela se alinhar doutrinariamente para devolver significado e função à noção de expressão, sem a qual perde sentido a própria ideia de interpretação (como seria possível mostrar na parte dois do livro, nas lições clínicas, se para tanto dispuséssemos de espaço e da necessária competência técnica). O forte de sua tese – que ultrapassa o campo da teoria e da prática da psicanálise – é que, longe de opor-se, como na tripartição lacaniana (imaginário/real/simbólico), as ideias de simbolismo e de função expressiva podem e devem ser entendidas como rigorosamente complementares.
Trata-se de grande proeza, pois a dificuldade enfrentada é enorme. Para expor a magnitude da dificuldade, recorro aqui a um antigo texto de Michel Foucault: o seu prefácio à tradução francesa de uma obra de Biswanger, Le rêve et l’existence (Ed. Desclée de Brouwer, 1954). Ele aí mostra o nó central da revolução freudiana na redefinição das relações entre significação e imagem. Ambiguidade que parece ser susceptível de duas – e apenas duas – soluções insatisfatórias, como Foucault exemplifica com a oposição simétrica Lacan/Melanie Klein: num caso, uma teoria do simbolismo que apaga a dimensão do imaginário, noutro caso, uma teoria da fantasia que faz as vezes de teoria do simbolismo.
Para Foucault, nesse contexto, a psicanálise existencial de Biswanger apareceria como uma espécie de correção do movimento interpretativo, em que a lacuna aludida é de alguma maneira corrigida com o recurso à fenomenologia. A teoria husserliana da significação e da expressão (particularmente na 1ª e na 6ª Investigações lógicas) forneceria – sem completar essa teoria ausente – instrumentos para a desejada teoria da imaginação como linguagem.
Roubo esse esquema de Foucault, para situar a obra de Isaias Melsohn ou para amparar a hipótese que estou lançando: poderíamos dizer que, com nosso autor, uma “terceira via” é aberta, como aquela de Biswanger, mas com notáveis vantagens, do ponto de vista da filosofia. Como pano de fundo, temos o duro debate entre Ernst Cassirer e Heidegger, em Davos, 1922. Sem deixar de recorrer à fenomenologia, Melsohn não é obrigado (como jamais foi de bon ton) a recorrer a Heidegger para restabelecer uma ponte entre significação, de um lado e, de outro, imaginação ou percepção (entre o que Kant chamava de analítica e de estética).
De fato, o Cassirer mais maduro dos anos 1930, com a Filosofia das formas simbólicas, já tinha sido capaz de restabelecer a unidade da teoria crítica da razão, desarticulada, disjecta membra, no século XX iniciante, entre a pura analítica (filosofia analítica) e a pura estética (fenomenologia em sua forma final), restabelecendo a continuidade entre o mundo da vida (o famoso Lebenswelt) e o mundo objetivado pelo conhecimento científico; quer dizer, já fora capaz, havia tempos, de restabelecer a boa continuidade e a necessária descontinuidade entre percepção e expressão imediatas e o conhecimento objetivo.
E Cassirer é capaz dessa proeza, afastando-se do seu mais puro neokantismo de origem, aproximando-se surpreendentemente do próprio Hegel, recuperando, como etapa necessária à Crítica da razão, alguma forma de Fenomenologia do espírito. Tratava-se, para ele, de refazer a Crítica a partir da descrição do pré-teórico: descrevendo as formas mais primitivas da expressão e da simbolização (na percepção imediata e em sua expressão mítica), podia-se descobrir que nenhum abismo separa a subjetividade do sujeito da objetividade do objeto.
Mas, para descobri-lo, é preciso reconhecer a cumplicidade entre simbolização e função expressiva, como o faz Melsohn, na esteira do pensamento crítico. É preciso reconhecer, para além das ideologias, que não podemos entender o mundo da linguagem sem nos reportarmos ao pré-linguístico, assim como é preciso reconhecer que não há nada de pré-linguístico em termos absolutos, pelo menos para um sujeito humano.
Noutras palavras, a contrapelo dos dualismos dominantes no século XX, Melsohn e Susanne Langer (por cuja obra, A filosofia em nova chave, nosso autor iniciou seu itinerário quase neokantiano, que culmina em A psicanálise em nova chave) permitem-nos dizer, com a ajuda do excelente Cassirer, que há algo como uma “forma viva”, imanente às formas mais primitivas da experiência que se revela também, mas “sublimada”, nos níveis mais altos da expressão artística, anterior e posterior, portanto, ao funcionamento puramente objetivante do conhecimento científico. Não fora esse arco inesperado, como compreender o pequeno Hans ou o curto-circuito pai/cavalo? É bem com a ajuda de Susanne Langer e, sobretudo, de Ernst Cassirer que Melsohn nos abre essa “terceira via” da interpretação, para além da falsa alternativa expressivismo puro/formalismo puro.
Se, como insisti em vários lugares, a filosofia tem muito a aprender com a psicanálise, aqui vemos como um bom uso da filosofia pode devolver vida à teoria e à prática psicanalítica. Mesmo se essa revivificação vem necessariamente inquietar as instituições guardiãs da ortodoxia doutrinária ou ideológica, como mostra a polêmica de Melsohn com a redação do International Journal of Psycho-Analysis. Mas, neste belo livro, o texto censurado e o próprio trabalho da censura vêm a público e a um público mais amplo do que teria, se veiculado pelo indigitado periódico.
*Bento Prado Jr. (1937-2007) foi professor titular de filosofia na Universidade Federal de São Carlos. Autor, entre outros livros, de Alguns ensaios (Paz e Terra).
Publicado originalmente no Jornal de Resenhas / Folha de São Paulo, em 12 de janeiro de 2002.
Referência
Isaias Melsohn. A psicanálise em nova chave. São Paulo, Perspectiva, 2001, 360 págs.