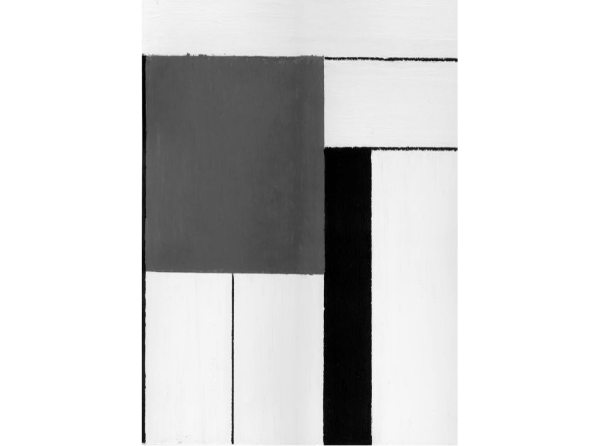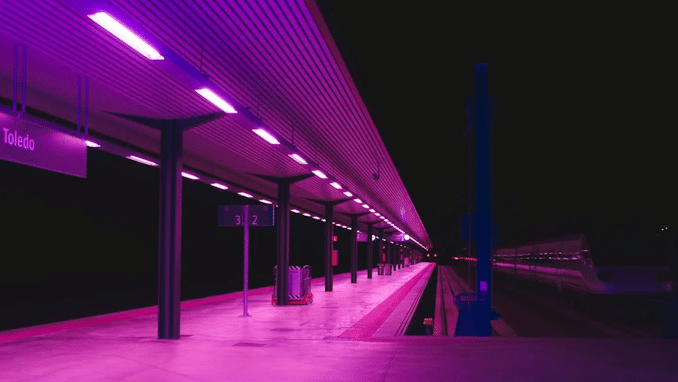Por FLO MENEZES*
Uma reflexão sobre o ensino de composição musical a partir do relato das “aulas” de Brian Ferneyhough.
No verão europeu de 1995, eu já estava com 33 anos e um considerável número de obras atrás de mim, quando me candidatei ao Curso de Composição da medieval Abbaye de Royaumont, nas cercanias de Paris, ministrado pelo papa da New Complexity, Brian Ferneyhough. A cada ano, o evento se repetia e Ferneyhough era acompanhado de outro compositor para ministrar as aulas, e naquele ano foi a vez do suíço Michael Jarrell.
Da mesma forma, um ensemble de música contemporânea permanecia como residente durante todo o curso, e naquele ano foi o caso do Ensemble Recherche de Freiburg. Foram cerca de 80 candidaturas e o coordenador de Royaumont, Marc Texier, em seleção realizada com Ferneyhough, havia escolhido 12 nomes, de proveniências distintas, e que ali ficaram por cerca de 40 dias. Eu fui um dos selecionados.
Sendo o único vindo das Américas, juntamente com o próprio Ferneyhough, ambos chegamos dois dias antes e partimos dois dias depois de que todos já haviam ido embora. Tanto nesses dois dias iniciais quanto nos dois finais, circundei pelos jardins daquela maravilhosa Abadia ao lado de Ferneyhough, em conversas muito frutíferas e amistosas. Fui o único a dele receber uma de suas partituras como presente, e com autógrafo: sua linda obra Carceri d’Invenzione III. Interessaram-me o intercâmbio com os mestres e os colegas, a oportunidade de receber uma encomenda e o lugar deslumbrante em que se dava o curso.
Cada um dos compositores selecionados recebia como encomenda uma obra com determinada formação dentro das possibilidades do ensemble residente, e tocou-me escrever uma peça para clarinete e piano. Metade da obra deveria ser escrita antes do início das atividades em Royaumont e para lá enviada, como prova do bom andamento da composição, enquanto que a outra metade deveria ser concluída lá, no decorrer dos debates com Ferneyhough e com o seu assistente (Jarrell).
Nunca consegui deter o ímpeto de minha invenção quando o processo de composição era deflagrado e se encontrava já em pleno curso, e daquela vez não foi diferente: antes mesmo de pegar o avião rumo a Royaumont, “TransFormantes II” já estava inteiramente composta, em todos os seus detalhes [1].
Quando lá cheguei, deparei-me com a questão acerca do que eu faria com Ferneyhough e Jarrell, uma vez que tinha convicção das ideias e estruturas que eu havia elaborado e considerava a composição absolutamente acabada. A cada um dos 12 “apóstolos” seria destinado um horário diário de trabalho com Ferneyhough. Jarrell também se encontrava disponível para trocar ideias com os compositores. Mas o que faria eu nesse tempo, uma vez que não demonstrava propensão alguma a mudar nada do que eu havia feito? Como quer que seja, preparei-me para “baixar a guarda” e enfrentar os comentários críticos que eventualmente tivessem como consequência propor-me alguma alteração.
Mas já em meu primeiro encontro com Ferneyhough, o mais esperado e lógico ocorreu: após examinar toda a minha peça, conversar comigo e ver toda a estruturação de TransFormantes II – uma composição de perfis elaborada a partir de especulações que tiveram como ponto de partida técnicas pessoais de composição, mas também as permutações seriais cíclicas de Olivier Messiaen, vertidas por mim de modo especulativo ao terreno das alturas –, Ferneyhough afirmou mais ou menos o seguinte: “Tua peça está pronta! Trata-se de uma obra serial totalmente acabada”. E, em seguida, foi taxativo: “Você está poderia ceder teu horário para outros!”, o que, concordando com ele, logo aceitei.
Fiquei pelos restantes dias aprofundando a amizade com todos, enquanto tranquilamente presenciava, quase de férias, a agonia dos colegas que, chegando ao término do curso, não conseguiam terminar suas peças. Estranhou-me o fato de ele ter, com tom tão direto e demonstrando tanta naturalidade, afirmado que minha peça era de linhagem serial. Há anos eu lutava contra a visão serial das décadas passadas, que havia resultado em processos de automação da composição, pouco fenomenológicos, o que sempre me incomodou mesmo nas obras mais magistrais – e há muitas – do serialismo integral.
No entanto, ouvir de um outro – e quanto mais do defensor máximo da complexidade – que eu compunha na linhagem, digamos, pós-serial foi para mim algo não apenas revelador, como, num certo sentido, encorajador: eu deveria mesmo assumir o caráter fortemente estrutural do meu modus operandi na composição, ainda que sempre me preocupasse com o resultado propriamente sonoro das estruturas que eu elaborava. Eu era um “beriano”, por excelência, mas de filiação como de resto o próprio Berio – estruturalista. Ouvir aquilo foi, de certa maneira, uma espécie de “aula de composição”, ou antes de psicanálise…
O papo com Jarrell resultou, d’outra parte, em identificação musical imediata, e justamente em torno de nossa mútua admiração profunda pela obra de Luciano Berio, já então ameaçado de ser considerado como “mestre do passado” pelos modismos europeus, em especial pela própria complexidade à la Ferneyhough, que a maioria dos colegas lá de Royaumont procurava imitar, e pelo espectralismo francês.
Em uma das noites, lembro-me bem que sentei ao piano ao lado do então jovem compositor Bruno Mantovani – que viria a se tornar muito depois o Diretor do Conservatoire National de Musique de Paris – e improvisamos a quatro mãos jazz, para deleite de Michael Jarrell, que assistia a nosso improviso e afirmava também gostar de jazz instrumental, contando-nos inclusive que havia estudado o estilo sistematicamente, se não me engano, na Universidade de Berkeley (coincidentemente onde ministrei palestra no CNMAT há alguns dias, durante a minha estadia atual na Califórnia, onde redijo essas linhas).
Aquela brincadeira ao piano, claro, era apenas um parêntese de descontração em meio aos debates inteiramente dedicados à escritura musical contemporânea daqueles dias. A esses momentos de descontração somavam-se outros menos musicais, como quando Jarrell me emprestou sua raquete de tênis para eu entrar numa quadra de tênis pela primeira vez e, mesmo assim, vencer Bruno Mantovani, que se gabava de ter jogado muito tênis em sua vida, em uma partida despretensiosa (ao menos de minha parte).
Enquanto que as conversas com Jarrell eram sempre individuais (e em meu caso particular, também tratamos de meus TransFormantes II apenas uma única vez), com Ferneyhough, além dos encontros individuais, havia sessões diárias com todos os compositores: Ferneyhough situando-se ao meio, circundado por mesas ocupadas por todos nós. Destes, participei todas as vezes e pude apreciar a maneira como Ferneyhough reagia às peças as mais diversas – incluindo à minha própria – que eram apresentadas pelos meus colegas. Para mim, aqueles encontros foram de grande valor, não apenas pelas discussões que ali surgiram, mas sobretudo por poder vislumbrar um modo de ensinar a composição totalmente distinto do meu. Vendo a diferença, me apercebi de como eu mesmo era.
Em 1995, atrás de mim não havia somente uma série de obras; havia também já alguns anos de experiência do ensino da composição, além de alguns anos de aprendizagem com aquele que havia sido e continua sendo o único grande mestre que tive em composição: Willy Corrêa de Oliveira – e isto mesmo se considerando as mais que relevantes conversas que tive com Henri Pousseur (meu orientador de doutorado) ou com Karlheinz Stockhausen (de cujos Cursos em Kürten fui inclusive docente de análise por duas vezes, depois de ter sido aluno lá em 1998), além de ter sido aluno dos Cursos Pierre Boulez em 1988, no Centre Acanthes de Villeneuve lez Avignon, e de ter acompanhado Luciano Berio em todas as suas atividades no Mozarteum de Salzburg, em 1989.
Ao contrapor a maneira como eu mesmo praticava o ensino da composição com o comportamento de Ferneyhough diante dos alunos, surpreendeu-me o quão tolerante ele se demonstrava em face de resultados absolutamente opostos ao que ele defendia em suas obras. Perguntei-me como isto seria possível sem algum grau de hipocrisia ou demagogia… Pois mesmo diante de algum pedaço de música de extrema simplicidade, de completo desinteresse devido à pobreza de seu resultado, Ferneyhough conseguia se colocar “na pele” do aluno e colocar-lhe questões que lhe diziam respeito quase que individualmente, sem minimamente se posicionar contra a estética evidenciada por aquela determinada peça.
Por um lado, admirei seu senso democrático e a emanação de sua simpatia, receptividade e flexibilidade diante de proposições que, sabíamos, eram-lhe tão estranhas; por outro, incomodei-me com a sua abstinência, com sua recusa de um claro posicionamento diante do fato estético, da separação de sua função como professor de composição e de sua obra. Como pode um artista de envergadura colocar de lado o que cria e inventa para fazer aparecer ter valor o que sabemos que não lhe agrada minimamente?
Ao final do curso, Ferneyhough reuniu se com Marc Texier e anunciou as obras que deveriam ser selecionadas para o subsequente Festival Ars Musica de Bruxellas de 1997, então dirigido por Eric De Visscher (que viria a se tornar o Diretor Artístico do IRCAM nos anos seguintes). Meus TransFormantes II, obra de notória complexidade – inclusive do ponto de vista interpretativo, exigindo grande virtuosidade dos dois intérpretes –, mas de linguagem bastante diversa das tramas excessivamente intrincadas da música de Ferneyhough, foi uma das obras selecionadas, ainda que nela Ferneyhough não tenha – ao contrário do que ocorrera em relação às demais – exercido qualquer mínima influência.
Foi mais uma prova de sua postura eminentemente democrática e despojada, mas não o suficiente para amainar meu incômodo diante de sua excessiva tolerância estética. Percebi, assim, que eu agia de modo senão oposto, ao menos bastante diverso do seu quando “ensinava” composição. Nunca me abstive de me posicionar claramente diante daquilo que me é apresentado por um aluno de composição. Na grande ramificação escritural da música radical, há obviamente espaço para diferenças substanciais; mais que isso: elas são fundamentais, porque as grandes obras – as únicas que merecerão permanecer no rigoroso filtro da história – são sempre originais e, por conseguinte, inventivas, e, como genuínas invenções, distintas de tudo o que as precedeu.
Mas as trilhas percorridas pelo criador não são isentas de parti pris; muito ao contrário: o grande artista é aquele que sabe defender o despertar ao mundo de sua estesia, as proposições que suas atitudes estéticas trazem ao mundo anestesiado. A obra de arte é, então, sempre uma proposição. É, em certo sentido, uma bandeira defendida pela sensibilidade do artista, um grito – mesmo que emitido com profundo prazer – para o despertar da sensibilidade de seus conterrâneos. Para que um aluno aprenda de seu professor, e um professor ensine seu aluno, é preciso que haja proposição estética, e de ambos os lados. Independentemente de se tratar de composição instrumental, eletroacústica ou mista, será sempre a partir das proposições trazidas pelo aluno que o mestre poderá reagir e, a partir de suas proposições, estabelecer o diálogo, o embate e a crítica.
Pensando nas discussões que tinha com Willy sobre aquilo que eu fazia, noites adentro na mesa da cozinha de sua casa, em pleno domingo, e do quanto aquilo tudo me alimentava profundamente ao ver Willy se debruçar sobre o que eu propunha, mas sempre me propondo outras coisas a partir daquelas, entendi que sua postura era bem distinta da de Ferneyhough e bem próxima da minha – e que, em certo sentido, aprendi com ele não só ofício da composição, mas também o ofício de ensiná-la –, mas que aquela discussão tão prolífica e estimulante só se tornava possível porque eu lhe trazia densa produção, minimamente inventiva, proponente, de alguma maneira com certo grau de originalidade.
Pois de alguma forma, aquilo que estava por mim sendo inventado, ainda que de forma ainda imatura, estimulava o olhar crítico de Willy, pois o que dali emanava entrava em sintonia com certa maneira de ouvir o mundo que lhe era cara. A identidade era natural, e tenho convicção de que, caso eu apresentasse algo ao qual ele se oporia esteticamente, ele não teria deixado de pontuar seu “desgosto” e até mesmo sua “reprovação”, por mais cauteloso que pudesse agir, apontando-me um outro caminho.
Não sei em que medida a tolerância estética é a melhor maneira de se enfrentar o rumo tendencialmente imbecilizante das sociedades contemporâneas. Talvez seja sempre mais necessário saber gritar a esse mundo, ter a coragem da enunciação, não apenas pelas obras, mas também através de nossas personalidades e de nossos modos de agir. A tolerância só poderá ter valor se passada a primeira prova: a da proclamação das diferenças. Aí sim, terão lugar então os sobreviventes, aqueles que saberão se impor, porque destacados da anestesia do mundo, e toda tolerância será bem-vinda, pois será a celebração da invenção e da originalidade, em suas múltiplas e infinitas maneiras.
Ezra Pound asseverou certa vez que “não existe lugar mais estúpido para se mentir do que diante de uma obra de arte”. E ele tinha razão! Por isso, não se “ensina” propriamente a composição: se debate. A melhor forma de abrir ao aluno horizontes pelos quais sua especulação possa se desdobrar não é o “ensino” da composição, mas antes a análise musical. É possível, assim, analisar como tal gênio compôs tal peça, a forma pela qual foi inventivo em certa época, mas é impossível ensinar como compor, pois o Novo não se ensina, se inventa. Todo debate só evolui para o estado da tolerância e da convivência das diferenças quando há, nas obras que passam por tal prova, suficiente dose de invenção. E se o talento, a destreza diante do sonoro – que chamamos tão comumente de musicalidade –, não se ensina – pois ou se tem talento, ou não se tem –, da mesma forma não se ensina a invenção.
*Flo Menezes, músico, é professor titular de composição e música eletroacústica na Unesp e direto do Studio PANaroma.
Publicado originalmente na revista Vórtex.
Notas
[1] Uma gravação profissional de TransFormantes II (1995) pode ser ouvida com Sarah Cohen ao piano e Paulo Passos ao clarinete aqui.