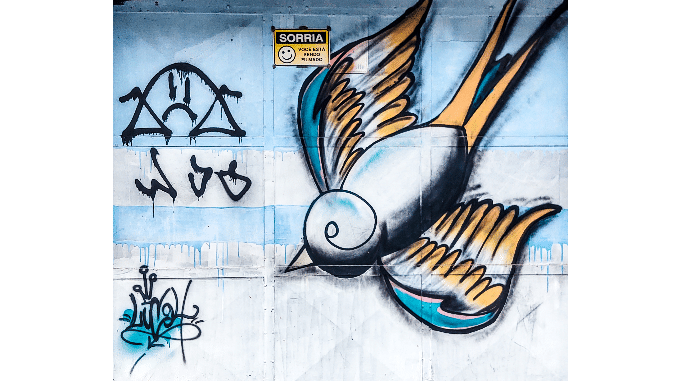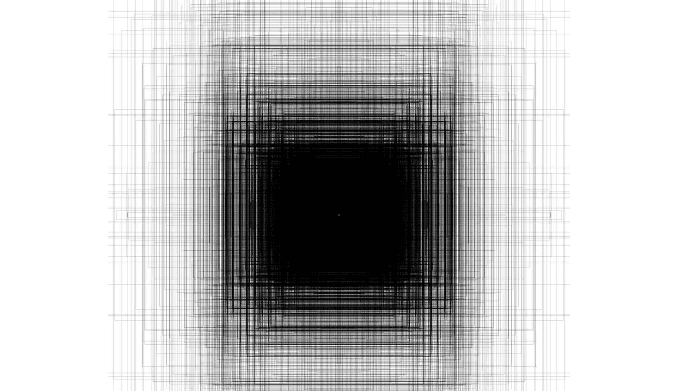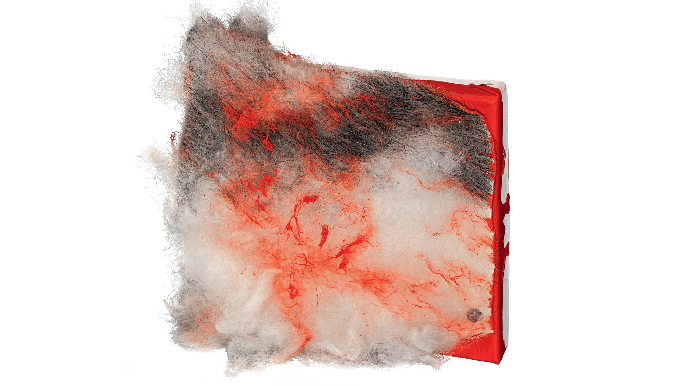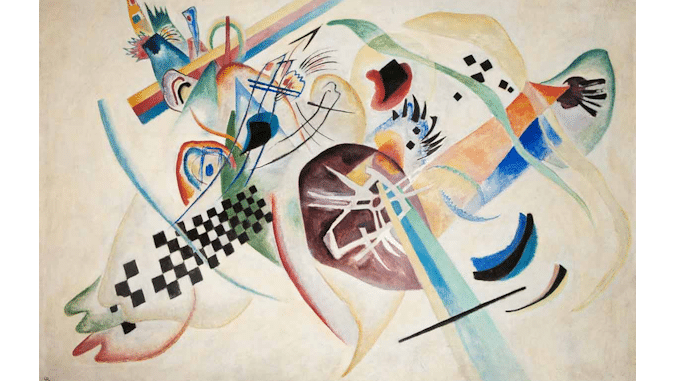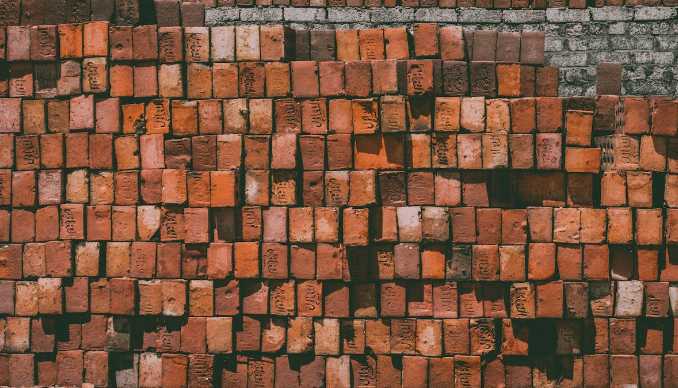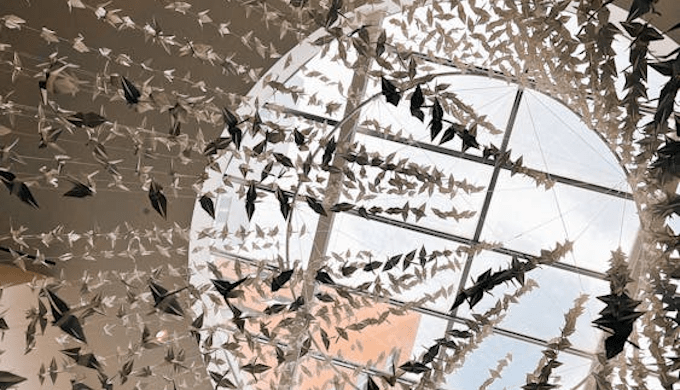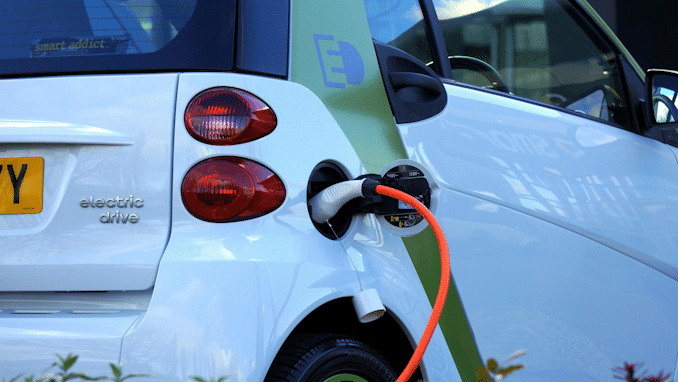Por BENITO EDUARDO MAESO*
BBB 21, a (des)construção das lutas sociais e o ativismo-de-si
Vocês são a Frente Popular Judaica?
Vá pro inferno! Somos a Frente Judaica Popular!
Só existe uma coisa que odiamos mais que os romanos: a maldita Frente Popular Judaica!
Dissidentes!
E a Frente Popular do Povo Judaico.
Dissidentes!
E a Frente Judaica Popular!
Dissidentes!
Mas nós somos a Frente Judaica Popular!
Não éramos a Frente do Povo?
(Monty Python, A vida de Brian)
Este ano, a tradicional dose de voyeurismo televisivo brasileiro foi saudada como revolucionária na história da telinha: o Big Brother Brasil, programa no qual o espectador satisfaz seus desejos de sentir-se como uma divindade com poder sobre os destinos de um grupo de pessoas que interpretam “papeis reais” para agradá-lo e abocanhar um expressivo prêmio em dinheiro, além de contratos comerciais, entrevistas na mídia e cachês para eventos, trouxe para sua edição de número 21 um elenco composto por proto-famosos e desconhecidos com alta participação de ativistas de causas sociais, étnicas, de gênero, LGBTQIA+ e afins.
Se tal fato for observado em si mesmo, como foi por muitos em um primeiro momento, realmente pode soar como um grande avanço em questões de representatividade dos grupos à margem do padrão majoritário ocupar espaço e visibilidade em um campeão de audiência de todos os meios de comunicação, on e off-line. Porém, na prática a teoria está sendo outra. O espetáculo de abuso, intriga e agressão psicológica entre os e as integrantes da edição, que culminou com a abrupta desistência de um deles após – a gota d’água – ser questionado por uma demonstração de afeto, não é apenas a materialização ao vivo do vale-tudo em nome da audiência que povoa a televisão brasileira, mas é o exemplo melhor acabado de duas categorias de análise que proponho aqui[i] para entender a subjetividade neoliberal contemporânea: os sujeitos-mercadoria e o ativismo-de-si.
Do empresário de si à mercadoria de si mesmo
Conforme Dardot e Laval (2014), se os sujeitos da Modernidade eram caracterizados por uma segmentação porosa entre instâncias, como a religiosa, política e do trabalho/mercado, o sujeito neoliberal subsume todas as divisões ao imperativo único da produção. O sujeito em perpétua mutação não muda apenas em uma coisa: a obrigação de mudar, de ser mais eficaz e adaptável. A racionalidade empresarial une todas as relações de poder (sociais e pessoais) num único discurso, colocando a empresa como modelo geral que deve ser imitado e estimulado.
Surge a identidade do “empresário ou empreendedor de si”, que – para além da ideia de governo ou cuidado de si, que também têm sérios problemas ao serem aplicadas à coletividade – opera em um duplo fluxo ao ser suporte a uma sociabilidade na qual a mentalidade do empreendedor e do desempenho máximo está presente e operante em todos os campos da vida (ensino, trabalho, relações pessoais e sociais, sexualidade, saúde etc.) e na qual a sociedade em si resume-se a uma empresa formada por um conjunto de empresas (os indivíduos).
Já tais indivíduos, enquanto empresas, competem entre si e produzem algo para além da sua própria exploração física (se numa empresa há patrões e empregados, ser seu próprio patrão significa ser seu próprio proletário): as metas que coloca para si somente podem ser atingidas com a exploração de si mesmo – mais trabalho, mais desempenho, mais valia obtida sobre seu próprio esforço, absorvendo e normailzando a exploração física e psicológica que sofre e realiza sobre si mesmo. Na subjetividade neoliberal a única relação social é o princípio universal da concorrência de todos contra todos. O mercado torna-se equivalente à sociedade.
Para vencer no mercado, tudo que uma empresa produz, seja um carro, um app ou uma ideia, precisa ser distribuído e consumido. Ser empresa é ser instância e locus de produção. O que é produzido em uma empresa de si? Identidades. Qual a matéria-prima desse processo de produção? O desejo, direcionado, beneficiado e embalado para interagir no mercado das subjetividades. O Eu enquanto produto é investido de mais-valor pela assincronia entre o valor de “uso”, ou a existência em si, e o valor de “troca”, o desempenho pessoal e profissional, influência, visibilidade e imagem. De pessoas-produto, chega-se aos sujeitos-mercadoria formados por um pacote de discursos, ações e reações. Isso nos traz uma nova interpretação à famosa frase de Marx: a sociedade é realmente formada por uma gigantesca coleção de mercadorias – nós mesmos.
O produto-pessoa e o like que vale mais que dinheiro
Não é necessário relembrar em detalhes o processo de fetichização descrito em O Capital, bastando lembrar que as propriedades deste fetiche, conforme Marx, “não são propriedades naturais. São sociais. Constituem forças reais, não controladas pelos seres humanos e que, na verdade, exercem controle sobre eles”. (MARX, 2013, p. 148). Ou seja, ainda que estes poderes sujeitem as pessoas ao processo do capital e funcionem como máscara para as relações sociais, as aparências que mistificam e deturpam a percepção espontânea da ordem capitalista produzem efeitos no real: são formas sociais objetivas, que são determinadas pelas relações subjacentes e as obscurecem, agindo sobre a personalidade (psique) daquele ou daqueles que imbuíram a mercadoria com tais poderes.
Esse primeiro movimento da dialética do fetiche é facilmente aplicável nas relações sociais mediadas pelo produto, como a identificação entre usuários de uma determinada marca de roupas, carro ou aparelho celular. Mas se o produto somos nós mesmos, estabelece-se uma tensão entre a dimensão sensível desse processo de produção, distribuição e consumo do produto-sujeito e sua dimensão suprassensível ou, no caso, psicológica.
A produção da subjetividade começa na família burguesa, a empresa familiar detentora dos meios de produção e formatação do ser que impõe tanto categorias rígidas como o Édipo ou o molde tradicional do cidadão de bem como também concorre na criação de subjetividades que se enxergam como projetos de si e que buscam a linha de fuga do modelo tido como molar ou majoritário. O manual de fabricação do sujeito neoliberal é ideológico, com elementos morais muitas vezes conservadores, calcados na exacerbação do individualismo, e vocabulário emprestado da literatura gerencial da década de 80, como coaching, work in progress e empowerment.
O produto-pessoa é ofertado em canais de distribuição para melhor inserção no mercado social. Se no passado a apresentação à sociedade ocorria em festas bizarras como bailes de debutante e de formatura, na sociedade em rede a produção e divulgação incessante de informações pelos próprios indivíduos anda junto a uma necessidade de ser visto, de ser notado pelo mercado social. Abre-se uma competição desenfreada entre os integrantes do sistema para achar a melhor forma de comercialização de si.
Hoje, as redes sociais, e sua fantástica capacidade de engajamento e remuneração psicossocial via curtidas, reconhecimento, elogios e “lacração” operam como canais de venda ideais das subjetividades projetadas, que são aquilo que os seguidores e seguidoras esperam ver naquele perfil. Quanto mais seguidores, quanto mais mercado tal persona conquista, melhor: mais “bem sucedido” se é – mais remuneração psicológica e/ou comercial se tem a cada interação – na economia política do like.
As bolhas e o ativista de si mesmo
Se o neoliberalismo transformou a subjetividade em mercadoria e o locus social se define pela competição de todos contra todos, o princípio da segmentação e do nicho de mercado domina as relações sociais. E tal lógica é muito visível no que se convencionou chamar de campo progressista.
Deixemos de lado a vocação messiânica dos grupos que enxergam-se como arautos de uma moralidade à toda prova e lembremos da reflexão de Adorno sobre a habilidade da Indústria Cultural em fazer da diferença uma forma extremamente eficaz de reforço da unidade e da integração ao sistema: “para todos, algo está previsto; para que ninguém escape, as diferenças são acentuadas e difundidas” (ADORNO, 1985, p. 116). Esta lógica de segmentação opera tanto para defensores como para críticos do sistema social, em uma lógica de sinais trocados na qual a captura pela engrenagem do capital é vendida como autonomia em relação a esta.
Como os sujeitos-mercadoria só tem a si próprios como norte, pois as instituições perderam sua função referencial, a crença dominante é a de que é no indivíduo que repousa, em última instância, a capacidade de vencer no neoliberalismo ou destruí-lo simbolicamente. Porém, cada fratura do sistema gera as condições automáticas de sua absorção pelo todo.
O desejo de se destacar e também pertencer a algo torna-se um movimento castrado de crítica: é mais simples silenciar competidores no mercado (de privilégios ou lutas) do que assumir que a racionalidade do capitalismo neoliberal exige um alto nível de desigualdade e exclusão para seu funcionamento. Não é preciso uma ordem superior para que o indivíduo torne-se o repressor dos demais: ao mesmo tempo em que o ser é incluído, ele exclui os que podem ameaçar o fruir incessante que cobiça.
A auto-referencialidade do sujeito neoliberal, o sujeito-mercadoria que se torna o fetiche de si mesmo, também é visível na própria contestação ao sistema, pois ao se viver imerso dentro de sua (ir)racionalidade, acaba-se por reproduzir sua linguagem[ii], maneirismos e modos. O empresário de si, ou o sujeito mercadoria, transmuta-se, neste mercado em específico, no ativista de si[iii], ou na mercadoria-militante. Um indivíduo político que extravasa afetos na fala direcionada de si para si, que perpetua a lógica da concorrência ao, de alguma forma, silenciar ou invisibilizar outros indivíduos ou grupos sociais.
Como o debate dialético é visto com maus olhos, o objetivo de cada ação (seja, texto, post ou diálogo) é a chamada “lacração”, a confirmação da crença a priori do ativista de si que interdita o debate e nega ao outro toda possibilidade de diálogo ou de rever conceitos. A ideia adorniana de que o oprimido e o opressor são posições sociais, não características intrínsecas a certos sujeitos ou modelos sociais, é fundamental para entender o processo.
Ao contrário do discurso de que toda expressão individual é aceita como autêntica, sem imposição de padrões ou rótulos, há uma rígida hierarquia no chamado processo de “desconstrução”, ou substituição de um padrão inoperante na racionalidade atual (o sujeito iluminista) por uma ausência de padrão que funciona, na prática, como novo padrão modulador, no qual se expressa melhor a racionalidade da sociedade de competição.
Como o sucesso ou fracasso na sociedade neoliberal é responsabilidade exclusiva do indivíduo ou do grupo de indivíduos, a produção de engajamento é simultaneamente negação e confirmação do processo: o fetiche de ser ouvido e respeitado como formador de opiniões num tsunami de opiniões e dados sem controle, do fluxo da Internet ao barraco no programa de TV. A competição para descobrir quem tem autorização para dizer o que é ser desconstruído, lacrador ou militante. A ideologia do sucesso como centro das ideologias que historicamente posicionaram-se contra o sucesso a qualquer preço.
Mais simples do que buscar as condições materiais de mudança do real é executar a mudança discursiva sobre si e prescritiva sobre os outros, centrada num conjunto de valores que assume como verdade apenas as crenças preexistentes do indivíduo e do grupo ao qual pertence. A lógica de competição do neoliberalismo é identificável na concorrência entre lutas por aceitação entre seus pares ou pelo conjunto da sociedade. O ativista de si é a imagem especular da empresa de si, como fetiche e narciso, desejoso de sucesso e na luta por seu reconhecimento.
A “novela trágica” da vida real
Mas o que isso tudo teria a ver com mais um campeão de audiência? Ora, talvez nada seja mais simbólico e que afirme mais a pertinência das categorias apresentadas neste texto do que pensar que o que passa nas telinhas da TV, do celular e do computador, hoje, sejam pessoas competindo umas contra as outras em busca de um valor em dinheiro que, para alguns, significa o triunfo social e a ascensão a um novo patamar de classe; para outros, a possibilidade de aquecerem suas carreiras e promoverem a distribuição e o consumo de suas “mercadorias pessoais” por seu público. Não é necessário citar nomes, pois o importante são as funções de cada elemento na dinâmica do ritual de validação e interdição de discursos, pessoas e ações, balizadas pelo solipsismo, auto-referenciação e a experiência pessoal colocada como determinante do julgamento: se EU sou X, APENAS EU posso dizer se VOCÊ é ou não é X ou Y – uma imposição de identidade (ou de representação) sobre diferenças e multiplicidades.
A imolação psicológica de um dos participantes (cumprindo o ritual assinalado por Silvia Viana), inclusive pela imposição da normatividade intrínseca à visão dos participantes sobre desconstrução, a demonstração mais evidente do ativismo de si – ou da transformação e capitulação de bandeiras de luta social como diferenciais mercadológicos (para além das apropriações comuns, como o uso das minorias para vender produtos em comerciais de TV, filmes romantizando passados míticos de continentes que sofrem com a pobreza e a doença e outras ilusões que a Indústria Cultural nos brinda aos borbotões) – afirma sem sombra de dúvida que a aposta, se é que houve, da produção na diversidade dos participantes serviu para mostrar que a lógica da mercadoria não é exclusividade de um campo político ou psicossocial, tendo se tornado uma prática majoritária na sociedade, inclusive entre quem, em teoria, menos pertenceria aos modelos-padrão.
*Benito Eduardo Maeso é professor do IFPR, pesquisador de pós-doutoramento no Departamento de Filosofia da FFLCH/USP. Autor de As diferenças em comum: Deleuze, Marx e o agora (Appris).
Referências
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985
DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016
FRASER, Nancy. O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história. Revista Mediações (UEL). v. 14, n. 2, 2009
HAN, Byung-Chul. A sociedade do cansaço. São Paulo, Vozes: 2015.
HAN, Byung-Chul. Psicopolítica. Madri: Herder, 2013
MAESO, Benito. As Diferenças em Comum: Deleuze, Marx e o Agora. Prefácio: Marilena Chauí. Curitiba : Appris, 2020.
MARX, Karl. O capital, vol. 1. O Processo de produção do Capital. Prefácio: Jacob Gorender e Louis Althusser. Posfácio Francisco de Oliveira. São Paulo: Boitempo, 2013
VIANA, Silvia. Rituais de Sofrimento. Coleção Estado de Sítio. São Paulo : Boitempo, 2013.
Notas
[i] E que tomo a liberdade de indicar meu recente livro (As Diferenças em Comum) para um aprofundamento do tema.
[ii] O uso de termos como empowerment – empoderamento – nas lutas sociais, longe de ser uma subversão da linguagem empresarial, pode ser entendido como um reforço da ideologia competitiva que a palavra carrega
[iii] O trabalho de Nancy Fraser sobre a cooptação de certos segmentos das lutas feministas pela lógica da empresa, cooptação que passa a reduzir um problema complexo como a opressão do patriarcado na sociedade apenas a uma luta por salários iguais, ou seja, por poder de consumo e satisfação igual ao masculino, mostra que a equivalência abstrata operada pelo dinheiro e pela circulação e apresentação das mercadorias no campo social nunca pode deixar de ser objeto de crítica social séria. Essa apropriação e adestramento das lutas sociais, no formato denunciado pela autora, reproduz a ideia da aferição do valor da pessoa em sua equivalência em mercadoria-dinheiro. O fetiche de si é também o quanto você “vale”, o preço de seu eu-produto no mercado. Quanto mais caro se é, mais o indivíduo se autodeseja.