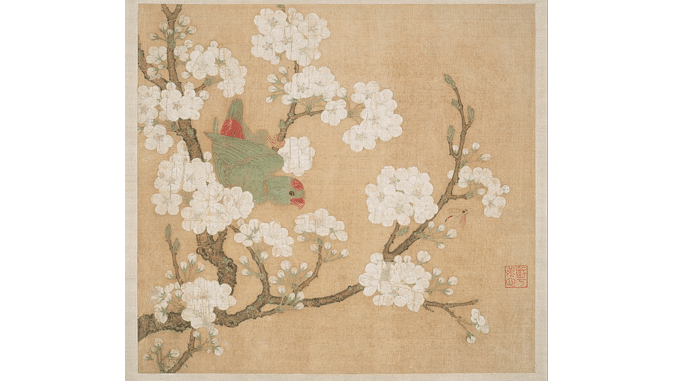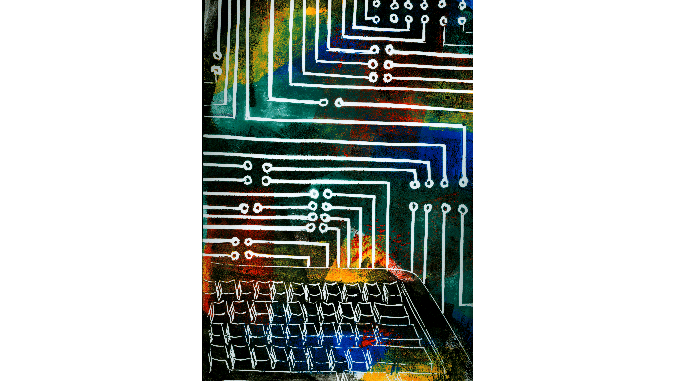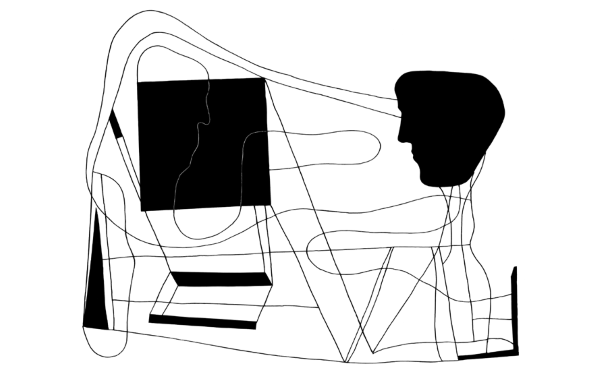Por HUGO ALBUQUERQUE*
Enquanto os Estados Unidos ampliam o cerco à China, o país asiático lança estratégia calcada em autodefesa e moderação
O noticiário internacional está agitado como nunca. Ou pelo menos como nunca esteve desde o fim da Guerra Fria, quando se insistiu que a história teria conhecido seu fim. Se a enigmática rebelião do Grupo Wagner na Rússia aturdiu a todos, a visita de Tony Blinken, homem forte da diplomacia americana, apenas abre uma nova rodada da agora tensa relação entre Estados Unidos e China.
No fundo, os dois fatos remetem a um mesmo plano de fundo: como a Globalização chegou ao seu limite; enquanto o poder de Washington nunca foi tão forte no mundo rico, ele nunca esteve tão em xeque no “resto” do mundo – ou no mundo tratado como resto. E digamos que a globalização é vítima de si mesma, ao ter realizado formalmente sua fantasia de integração, revelando as desigualdades internacionais e as colocando em curto-circuito.
Sim, é no uso pragmático das brechas da Globalização que muitos países pobres puderam emergir, ou mesmo se reconfigurar – como a Rússia, colapsada pela transição desastrada para o capitalismo nos anos 1990 ou, ainda, como as titânicas China e Índia, países de população apenas comparáveis entre si, puderam se recuperar em relação à agressão colonial do século XIX e XX.
Seja como for, o abismo econômico entre países ricos e “pobres” diminuiu, mudando, também, a correlação internacional de forças políticas. Por outras razões, as classes médias dos países centrais foram atingidas, sobretudo nos Estados Unidos, enquanto seus bilionários ascenderam como uma super-elite tóxica para a democracia, os trabalhadores sobretudo da Ásia prosperaram.
Ainda, África e América Latina puderam ver alguma luz no fim do túnel, apesar das insistentes interferências políticas dos países ricos em busca dos seus recursos naturais. O resumo da ópera é uma suprema polaridade – e confrontação mais ou menos fria – entre um mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, e um mundo multipolar, que, por definição, está ancorado na Ásia.
Tony Blinken em Pequim
Herdeiro de uma verdadeira dinastia de tecnocratas do Departamento de Estados, Tony Blinken foi tarde demais a Pequim. Ainda em abril deste ano, em pleno Ramadã, os chineses mediaram em Pequim a paz entre Arábia Saudita e Irã, para a surpresa dos analistas internacionais. Em seguida, se viu uma verdadeira peregrinação de líderes europeus – incluindo Alemanha, França e Espanha – para a capital chinesa.
As recepções aos europeus eram dosadas com altivez e austeridade, contrastando com as boas-vindas a líderes de países emergentes como o Brasil – com o presidente chinês Xi Jinping chamando Lula de “velho amigo” – e o abraço à presidenta hondurenha Xiomara Castro, que rompeu com Taiwan e reconheceu a República Popular da China como a verdadeira China, depois de décadas.
Xi Jinping terminava rodeado, com as lideranças globais lhe orbitando e Pequim assumindo o seu papel na tradição chinesa, na qual ela é conectada simbolicamente à estrela Polar – chamada de Púrpura pelos chineses (zǐwēi [紫微]). Por essa razão, seu centro nevrálgico é Cidade Proibida Púrpura (Zǐjìn Chéng [紫禁城]): e a estrela Púrpura é aquela que se mantém fixa no plano celeste enquanto as demais lhe rodeiam.
Nada disso é do agrado de Washington sob a administração Biden, que tem pressionado parceiros para assumirem a posição de um cerco naval em torno da China, enquanto não reverte as sanções antichinesas da era Trump. O discurso sinofóbico, que tem sua forma racista e anticomunista em Trump encontra um equivalente “democrático” e preocupado com os “direitos humanos” em Biden.
Finalmente em Pequim, Tony Blinken acenou com clichês diplomáticos, que não se sabe se são amigáveis, ameaçadoras ou, apenas, soberbas – como a declaração de que os “Estados Unidos não desejam mudar o sistema chinês” ou que “não apoia a independência de Taiwan”, por mais que isso contraste com os atos, movimentações e provocações bélicas americanas – navais, inclusive – no Pacífico.
A razão para apontar como uma vitória chinesa nas declarações de Tony Blinken não é que ele vá cumpri-las, mas que Xi Jinping tem unidade suficiente na China para forçar um alto dignatário americano a desdizer seus atos com suas próprias palavras – afetando sua credibilidade, seja por demonstrar fraqueza aos olhos de uns ou ardilosidade aos olhos de outros.
O curioso caso da “independência taiwanesa” da China é um ás na manga da geopolítica de Washington, isso se trata de um incrível factoide internacional: nem Taiwan se reivindica como independente, nem mesmo os Estados Unidos a ilha como tal e, por fim, a maioria dos taiwaneses não defendem a independência local, segundo dados insuspeitos da Universidade Nacional Chengchi de Taipei.
China e Taiwan já estão em integração econômica e comercial há muito tempo, com a reunificação quase como consequência inercial. Mas se a ilha enriqueceu graças aos investimentos gigantescos do Ocidente durante a Guerra Fria, recebeu grande parte do tesouro chinês levado pelo governo em Kuomintang em fuga nos anos 1950, hoje suas taxas de crescimento têm estagnado e centros tecnológicos chineses já preparam a ultrapassagem.
O factoide da independência de Taiwan é um meio de justificar, para uma opinião pública internacional incauta, a presença de cada vez mais vasos de guerra ocidentais, sob liderança americana, no Pacífico sem que os chineses tenham feito qualquer gesto ameaçador ao distante território dos Estados Unidos. Ao aparato militar americano na região, juntam-se agora até as forças australianas, filipinas em um misto de cooptação e pressão.
Por sinal, os Estados Unidos mantêm desde o final da Segunda Guerra, no Japão e na Coreia do Sul, dezenas de milhares de soldados, incontáveis bases militares. Ainda, a poderosa Sétima Frota da Marinha dos Estados Unidos está sediada no Japão, enquanto navega pelas águas do Extremo Oriente exibindo a hegemonia imperial do país. A diferença é que nas últimas décadas, os chineses engendraram uma poderosa marinha.
Se americanófilos na China, aturdidos com a acachapante vitória de Xi Jinping no último 20º Congresso do Partido Comunista, esperavam que a mão de Blinken estendida fosse desarmar a política externa independente, nada feito. E seja por desarranjo interno ou para apagar a imagem da declaração de Blinken na Ásia, Joe Biden fez declarações fortes anti-chinesas num ato de sua campanha de reeleição, o que não ajuda muito.
A Rússia, o invisível evidente nas relações sino-americanas
É notório que a oposição de Washington à chamada operação especial na Ucrânia nada tem a ver com um, digamos, recém-descoberto pacifismo. Elas tangem um interesse particular e específico dos Estados Unidos na Europa e, por outro lado, expressa a doutrina pela qual Washington deteria o monopólio da força em escala internacional – como a nação excepcional que o país se julga em sua cosmogonia.
Isso significa dizer que Washington ou a “América” se coloca em uma posição, nada humilde, de plenipotenciária internacional. Isso tanto para se afirmar como única nação que pode lançar operações militares fora de seu território e, ainda, ser aquela que pode autorizar ou vetar quem pode fazer o mesmo em relação a terceiros. Do mesmo modo que o dólar como medida para o comércio global, a liderança americana é o mesmo para a guerra.
A Rússia, no contexto atual, afetou tanto interesses americanos diretos na Europa Oriental quanto a doutrina do excepcionalismo americano. Quando os Estados Unidos supunham que expandiriam, sem maiores contratempos ou dores, a Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) sobre a Ucrânia – e consequentemente pelo mar Negro –, foram surpreendidos com a ação das forças armadas russas.
Todo o plano original, que remonta às interferências americanas em Kiev a partir de 2014, se baseia na ideia de ampliação da fronteira da Otan com os russos e, ainda, o acesso ao espaço no estratégico mar Negro – o que, no contexto dos fins de 2021, parecia uma retaliação ao início da operação do gasoduto Nordstream-2, o qual ampliaria a participação russa no cobiçado mercado de energia europeu.
Joe Biden supôs que sanções “devastadoras” poriam termo à liderança de Vladimir Putin, caso ele fizesse algo, mas esqueceu que não tinha capacidade de sancionar também aqueles que não sancionassem a Rússia – sobretudo os chineses, caso estes simplesmente não quisessem lançar sanções contra Moscou ou, ao contrário, fossem negociar na sua moeda nacional a enormíssima oferta energética russa.
Se a ação militar russa é, também, alvo de críticas na comunidade internacional, sua ocorrência não se dá fora de um contexto de avanço da Otan, descumprindo acordos políticos do final da Guerra Fria. Mas também não veio desacompanhada de erros de cálculo salutares: a operação especial não foi capaz de vencer as defesas ucranianas, que ganharam tempo suficiente para receber dinheiro e armamento ultramoderno do Ocidente.
Nem Putin conseguiu dobrar a Ucrânia com a operação militar iniciada há mais de um ano, nem Biden conseguiu atingir seu objetivo de asfixia econômica – e, de certa forma, Biden arcou com os efeitos colaterais das sanções, vendo o próprio crescimento econômico americano cair, a inflação subir e, consequentemente, sua rejeição se ampliar às portas de uma tentativa de reeleição.
Contudo, a seu favor, Biden teve no conflito a oportunidade de realizar enormes gastos militares, os quais se destinam à Ucrânia, mas não demandam o sacrifício de soldados americanos – o que lhe favorece junto ao poderoso complexo bélico-industrial americano, sem o custo de enviar cidadãos para algum lugar distante do planeta. Lá, já há as tropas ucranianas, e os gastos excedem a Guerra do Afeganistão.
Há outros “bônus”, ao final do conflito, Kiev ficará endividada por décadas, tendo uma enorme da demanda reprimida por reconstrução e uma dívida moral e política com os Estados Unidos. Ainda, se a inflação gera um efeito ruim no curto prazo dentro país, isso também é um meio das empresas achatar o salário de seus trabalhadores, ampliando, assim, a margem de lucro, uma vez que o preço das mercadorias sobe, mas não o custo com a massa salarial.
Uma parte da inflação europeia, aliás, tem sido causada pelo crescimento dos lucros das grandes corporações durante o conflito ucraniano. Sob o véu da emergência bélica, e os efeitos disso sobre os custos da energia, hoje se desenvolveu uma dinâmica apocalíptica no velho continente. Essa informação, aliás, é do insuspeito Fundo Monetário Internacional (FMI).
Mas os riscos estruturais dessa ousada estratégia insistem em crescer, na medida em que o conflito ucraniano se alonga. Isso inclui crises bancárias, desagregação social nos Estados Unidos e as ameaças de desdolarização da economia global – uma especulação distante que foi acelerada no último ano –, o que concerne à capacidade de gestão dos Estados Unidos sobre sua enorme dívida pública no longo prazo.
No fundo, Biden demandaria que a China, apenas para atender o interesse americano, que aplicasse sanções contra a Rússia, mesmo não estando envolvida no conflito. E sem que os Estados Unidos sequer cogitassem suspender as sanções aplicadas por Trump, cujo objetivo era, precisamente, vencer a guerra comercial e atingir o desenvolvimento tecnológico chinês – eis aí a grande contradição, a qual parte dos Estados Unidos.
Por sinal, essa mesmíssima contradição emergiu no Diálogo de Shangri-La deste ano. Se antes Shangri-La era uma conferência de segurança envolvendo países da Ásia-Pacífico, hoje ele se tornou um dos poucos fóruns públicos no qual Estados Unidos e China têm mantido diálogo. Essa regra do silêncio, temperada por incidentes militares recorrentes, se conecta às sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra altos oficiais chineses por uma grande razão: Rússia.
Um desses casos rumorosos dá conta do – recém-nomeado – ministro da Defesa chinês, o general Li Shangfu, cuja fala no Diálogo Shangri-La delineou os principais nó górdios da relação sino-americana: como os reiterados “incidentes” têm acontecido muito próximo das águas territoriais chinesas e são os Estados Unidos, não a China, que tem se aproximado do território alheio.
Sancionado pessoalmente pelos Estados Unidos ainda em 2018 – portanto, muito antes do conflito ucraniano –, o general Li cometeu o “pecado” de capitanear a compra de aviões de combate russos pela China, sem qualquer ameaça aos Estados Unidos – isso, na qualidade de chefe do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos chinês. A Interferência americana, portanto, saltou aos olhos mesmo do espectador mais desatento.
A severa sanção pessoal ao general Li lhe valeu o desagravo de Xi Jinping e da liderança chinesa, o que dentre outras coisas resultou sua promoção a ministro de Defesa este ano. Uma resposta do recém-empossado Xi Jinping no terceiro mandato presidencial. Isso obriga altos oficiais americanos a terem de se reunir com um militar sancionado por eles mesmos, pondo em migalhas o que importa nessa sanção: sua capacidade intimidatória.
Enquanto isso, a China mantém a posição de neutralidade ativa em relação ao conflito ucraniano, o que é menos um assentimento com a guerra, mas uma lógica de corresponsabilização de ambas as partes beligerantes – no caso, Otan e Rússia. Nada disso agrada à narrativa de Washington, que ecoa amplamente no mundo rico, mas é a narrativa de Pequim que tem ecoado na maior parte dos países e da população global.
Agindo sem agir
Segundo o mandamento do Dao De Jing, o Clássico do Caminho e da Virtude, escrito há milênios por Laozi, é preciso agir sem agir (wéi wúwéi [為無為]). A partir daí, é possível decodificar a atuação de Xi Jinping no cenário internacional. Para além do binarismo agir/ parar da tradição ocidental, os chineses apresentam uma possibilidade de negação da ação (“nada” ou “sem”) calcada no movimento – no sentido que a “greve” opera em nossa prática.
A isso se junta a doutrina confuciana da humanidade (rén [仁] e a aversão de Mozi à guerra ofensiva. Nos tempos da adaptação do marxismo na China, Mao Zedong enfatizava as doutrinas de Laozi e Confúcio como dialéticas idealistas antigas – e Mozi como um “Heráclito chinês”. Não é de se estranhar que o marxismo chinês aja em relação aos dois primeiros como Marx em relação a Hegel, e em relação a Mozi como os “pré-socráticos”.
Em outras palavras, Xi Jinping e a atual liderança chinesa invertem o idealismo daoista e confucionista e atualizam Mozi, o que se revela em sua ação nas relações exteriores. No lugar de unipolarismo, multipolarismo; no lugar da guerra, comércio e uma resposta francamente defensiva – sem capitulação nem precipitação – face ao cerco naval que se insinua ao seu território, o que é vital para a humanidade hoje.
Contudo, o desgaste das partes no conflito ucraniano é inevitável, o que já gera tensões nos dois polos beligerantes. De um lado, a rebelião do Grupo Wagner na Rússia foi, tanto mais, uma disputa na cúpula de poder russa acerca da estratégia de Moscou: um endurecimento e radicalização das ações, com mobilização nacional russa ou um recuo ensaiado?
Do outro lado, Joe Biden pode ter convencido a opinião pública da necessidade de apoiar a Ucrânia, mas isso lhe torna escravo de sua própria estratégia: uma vez que os americanos concordam com isso, agora a atual administração terá de se mostrar “forte” e “vencer” o adversário. Hoje, isso seria equivalente a “derrubar Putin” – a reação surpresa de Washington ao motim do Wagner, contudo, prova que não há planos de contingência caso Putin imploda.
Putin, por outro lado, se aproxima da verdade final, que a admissão de uma derrota para a Otan ou a decretação formal de guerra, com mobilização nacional. Por ora, ele conseguiu reacomodar os atores, tirando o Grupo Wagner do campo de batalha sem punições, enviando seu líder Yevgeny Prigozhin para a Bielorrússia. Enquanto isso, sob forte crítica, o ministro da Defesa Sergei Shoigu permanece no cargo.
A persistência do conflito é fruto de seguidos erros de cálculo bilaterais, seja de Washington ou Moscou, e a liderança oligárquica de Kiev não está preocupada com os custos humanos disso, portanto temos um risco – e Zelensky tem, por ora, recusado propostas alternativas de paz, seja do Vaticano, da China, do Brasil ou da Indonésia. Por ora, interessa apenas a “paz do Ocidente”, que é um processo que passa pela necessidade de derrota de Putin.
Em resumo, nada garante que uma piora do conflito não emerja e mesmo o realismo pacifista chinês não dará conta disso – o que é igualmente válido se o processo de cerco à China se eleve, exigindo uma resposta defensiva de Pequim. Nesse sentido, as constantes respostas autodefensivas chinesas vão implicar, mesmo em um contexto de defensiva estratégica, em algum grau de embate.
Tudo ainda depende de uma variável cada vez mais enigmática, que são os rumos da política externa americana em razão do desenvolvimento político interno. O cenário atual é de aumento da desigualdade social, divisão entre campo e cidade, elevação do discurso racista contra minorias internas e falta de confiança no próprio sistema. Nada garante que isso tudo não possa conduzir a ações impensadas.
Hoje, os democratas apostam numa globalização sob cabresto, com um desacoplamento moderado, mas o significado disso não é menos irracional que o discurso de desglobalização total de Trump. Por ora, como aponta o linguista americano Noam Chomsky, são os americanos que têm rompido seus acordos em relação à Rússia e, também, em relação à China.
A estratégia chinesa tem, apesar disso tudo, sido um fator de sensatez, que atrasa os ponteiros do relógio do fim do mundo. A grande inação de Xi Jinping contra a guerra é o equivalente a uma greve global antibélica. E mais do que um conflito de potências, é um conflito de diferentes disposições. O Brasil de Lula tem sido um elemento importante nisso também. Há limites, contudo, e todos devemos nos mobilizar mais fortemente contra o fim do mundo.
*Hugo Albuquerque é jurista e editor da Autonomia Literária.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA