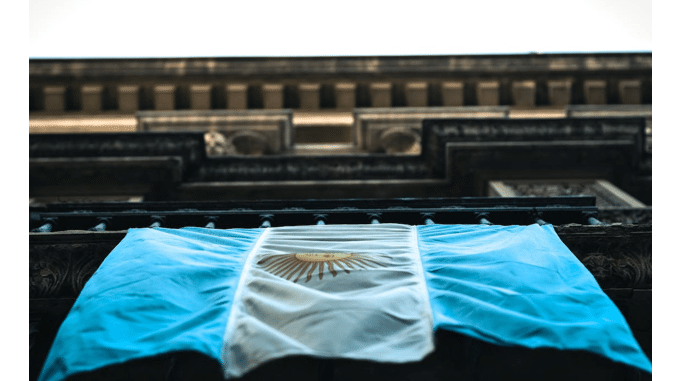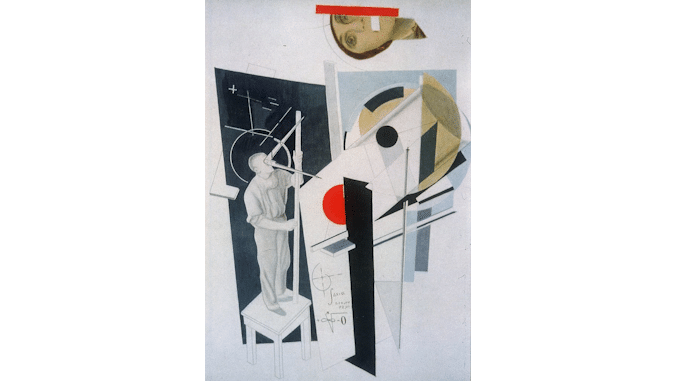Por Walnice Nogueira Galvão*
Comentário sobre filmes inspirados nestes três clássicos da literatura inglesa.
Os filmes de vampiro constituem uma considerável tradição cinematográfica, que se alçou ao patamar de gênero autônomo, ainda que pop. Os dados computam – até o momento em que escrevo – no patrimônio da humanidade 156 filmes, 120 curtas, vinte novelas de tevê, dezenove séries televisivas e seiscentas histórias em quadrinhos; faltam estatísticas para os videogames. O gênero seria responsável pelo surgimento de um bestiário e de uma iconografia.
Brotados do terror atávico que os mortos suscitam nos vivos, sabe-se que as religiões e os ritos se encarniçam em esconjurá-los para que permaneçam em seu lugar e dele não saiam, deixando-nos em paz. O medo básico é o de que eles voltem: “alma-do-outro-mundo” em francês é revenant, ou aquele que volta, e “alma penada” é a que cumpre pena de vagar pelo mundo dos vivos, em vez de ficar bem quietinha onde lhe compete. Não é outro o sentido do Dia dos Mortos, do Halloween, das celebrações de defuntos, das cerimônias de sepultamento, tão importantes em qualquer sociedade.
Entes como esses, antes de chegar ao cinema, provêm da literatura – do romance gótico e do Romantismo, que explorou a face noturna da psique, deleitando-se tanto no decadentismo como no satanismo – e em alguns casos até do folclore. Há seres sobrenaturais dos dois lados. Do lado do bem, das luzes, da esfera solar: fadas, duendes protetores, elfos, Papai Noel. Do lado do mal, das trevas, da esfera lunar: lobisomens, fantasmas, assombrações, avantesmas.
Os vampiros, pertencentes à tribo dos mortos-vivos, constituem juntamente com Frankenstein e com o Médico/Monstro os três arquétipos principais. Não por acaso, o protagonista de cada um dos três livros fundadores é um cientista: o professor Van Helsing, o Dr. Frankenstein e o Dr. Jekyll. E sempre implicam num esquema esquizofrênico, de duplicação entre dois homens, ou de doppelgänger. Basta atentar para as relações entre o professor e seu assistente em Drácula, entre o médico e seu xará em Frankenstein, entre o médico e o monstro em que se transforma.
Frankenstein, que nasceu da inspiração de Mary Shelley no livro homônimo (1818), é um ser humano criado em laboratório, a partir da montagem mal feita de pedaços de cadáveres. De certo modo, é precursor do transplante de órgãos e da engenharia genética, bem como da plastificação de corpos para estudos de anatomia, agora exibidos em galerias de arte. Implica na usurpação de uma prerrogativa de Deus, até então o único Criador. Concorre para isso o pressentimento de que as forças da natureza liberadas pela Revolução Industrial, de que o livro é contemporâneo e conterrâneo, podem – como o Gênio em As mil e uma noites – atender a todos os desejos dos amos, mas nunca mais regressar à garrafa, uma vez destampada.
Estudo da dupla personalidade, O médico e o monstro já foi refilmado inúmeras vezes e se origina de um romance de Robert Louis Stevenson (1886). O médico fabrica e bebe uma poção que o transforma no oposto, numa de suas experiências científicas. Oriundo da época vitoriana, quando imperava o puritanismo, ilustra, na cisão entre as duas pessoas, um filantropo e o outro um assassino, a dificuldade de integrar numa só personalidade as forças recalcadas do instinto, como a sexualidade e a agressividade.
É o esquema dos contos de fada, onde convivem uma mãe boa e uma madrasta má, duplicação que a criança opera por não poder aceitar que ambas sejam aspectos complementares da mesma pessoa: a mãe que alimenta e afaga, a madrasta que se enfurece e castiga. Ou dos mitos de irmãos inimigos (sibling rivalry), um bom e outro mau, como Caim e Abel. Observa-se, como na saga de Frankenstein, o temor aos desdobramentos da ciência e da tecnologia.
O primeiro Frankenstein do cinema (1931) tem como protagonista Boris Karloff, numa caracterização a tal ponto notável que influenciaria toda a sequência. Nas histórias em quadrinhos prevalece, perfeitamente reconhecível, seu fenótipo. Em qualquer filme de monstro, lá está ele, mesmo que com outro nome e em entrecho alheio, como o mordomo de A família Addams (direção de Barry Sonnenfeld, 1991): estatura de gigante, cabeçorra e testa ainda maior, olhos esgazeados, cicatriz de costura riscando a testa em linha paralela à do cabelo, com parafusos e porcas de metal atravessando o pescoço de lado a lado, tudo isso vestígios da montagem de que resulta. Atores extraordinários, como Robert De Niro em Frankenstein de Mary Shelley (direção de Kenneth Branagh, 1994), teriam o prazer de interpretá-lo.
Para vampiros, o livro de base é Drácula, do irlandês Bram Stoker (1897). No filme de mesmo título (1931), a cara de Bela Lugosi no papel do protagonista ficou também impregnada em toda a produção posterior. Ele quase não fala, mas sua máscara é muito expressiva: sobre o fundo branco, uma boca de lábios finos enegrecidos pelo batom roxo, olhos escuros que brilham malevolamente na cercadura também negra, a calota de cabelo cor de azeviche alisado para trás com brilhantina. Quase sempre as reedições, mesmo recentes, trazem Bela Lugosi na capa.
Quando até um seriado juvenil como Buffy, a caça-vampiros passa há anos na tevê, ninguém mais ignora as características dos vampiros. Dormem de dia num esquife e perambulam à noite, já que a luz do sol lhes é nefasta. São imortais, a menos que tenham o coração trespassado por uma estaca de madeira. Podem ser afugentados por alho, cruzes e água benta. Sua imagem não se reflete nos espelhos. Ostentam caninos hipertrofiados, de rigor para o close nas cenas em que mergulham na carótida das vítimas. Infectam os incautos e ao sugar-lhes o sangue passam adiante sua condição. Metamorfoseiam-se em morcegos, hematófagos que foram fonte de inspiração para a criação dos vampiros humanos.
Não faltou uma interpretação materialista, que neles visualiza simbolizada a superexploração dos servos pelos senhores feudais. E um modelo histórico no príncipe Vlad o Empalador, da Romênia (século XV), por alcunha Drácula, ou O Demônio, imortalizado por uma gravura em que se banqueteia à vista dos coitados que mandou empalar. Vlad provinha de uma província chamada Valáquia, depois incorporada à Transilvânia, tradicional berço de vampiros literários e cinematográficos.
Grandes cineastas, experimentando a mão, como Francis Ford Coppola em Drácula de Bram Stoker (1992), ou Werner Herzog, dourariam periodicamente os brasões de um gênero menor. Afora os filmes de concepção mais tradicional, sem maior graça, resultariam algumas linhas bem interessantes, e que se beneficiaram, sobretudo, de alguns diretores inventivos. Uma explora a crise existencial, outra o erotismo e ainda outra a paródia.
Dois filmes ilustram a primeira. Em Entrevista com o vampiro (direção de Neil Jordan, 1994), que passa com frequência na tevê a cabo, Brad Pitt, vampiro, mas do lado do bem, perde seu tempo e sua lábia tentando convencer Tom Cruise a substituir o sangue humano por sangue animal. E em Fome de viver (direção de Tony Scott, 1983), Catherine Deneuve e David Bowie, com todo o seu charme e beleza, vivem vampiros entediados e altamente conscientes, fadados a alimentar seu vício pela eternidade.
Os que carregam nos acentos sexuais chegam a resultados bem curiosos. Um deles é Rosas de sangue (1960), de Roger Vadim, cujo título original, Et mourir de plaisir, dava melhor ideia de suas más intenções. Outro, o de Werner Herzog, Nosferatu, o vampiro da noite (1979), assim intitulado em homenagem ao ilustre antecessor compatriota (Murnau), abriu oportunidade para que o grande Klaus Kinski desse um show de interpretação, em especial quando assediava a beleza vulnerável de Isabelle Adjani.
A paródia viria a ser inevitável, tal a carga de terror e de melodrama, a exigir algum grau de catarse. Entre outros, Mel Brooks dedicaria sua verve farsesca a Drácula, morto mas feliz (1995). E é aqui que se inscreve A dança dos vampiros, derivando seu interesse do fato de ter um visual belíssimo, graças a uma notável direção de arte, e ter o próprio Roman Polanski como protagonista. Sendo uma paródia, permite ao diretor o desmantelamento dos clichês do gênero, havendo até um vampiro gay. E o final constitui a piada maior: o desastrado professor à caça desses seres rapta do castelo duas pessoas infectadas, ou dois novos vampiros, não mais trancafiados, mas soltos no mundo por suas próprias mãos. Ou seja, fica insinuado o futuro de um mundo só de vampiros.
Um pouco de exagero, e seria feito um filme que mostra vários deles ao mesmo tempo. É o que se vê em Van Helsing – O caçador de monstros (direção de Stephen Sommers, 2004), que junta Drácula, o Lobisomem e Frankenstein. Em matéria de excesso, ninguém leva a palma a Robert Rodriguez em parceria com Quentin Tarantino, do primeiro Um drink no inferno (1996), que se tornaria uma trilogia. É um acerto o encontro de ambos, numa espécie de estética da rapidez e do choque, com guinadas inesperadas e muito senso de humor, negro e grotesco. Tarantino apresenta-se em grande forma, no papel de um psicopata e pervertido que ouve vozes. Não só as situações propostas já são exasperadas, mas o filme vai enveredar por uma orgia de sangue, todo mundo sendo mordido e virando vampiro.
Não se pode falar nesses seres, é claro, sem prestar homenagem à produtora inglesa Hammer, especialista em terror, a Peter Cushing (que, momento de glória, encarnou o próprio Dr. Frankenstein, o cientista que cria o monstro seu xará) e a Christopher Lee, que estrelou nada menos que oito filmes de Drácula. Depois, faria toda uma carreira falando da experiência, sobretudo em documentários para tevê, tal sua identificação com a personagem. Sua efígie seria aproveitada em campeões de bilheteria como Guerra nas estrelas e O senhor dos anéis, nos quais é ator de proeminência.
Numa das melhores fases que o cinema já conheceu, o expressionismo alemão, surgiram filmes inaugurais como O gabinete do Dr. Caligari (1919), de Robert Wiene, Nosferatu o vampiro, de F.W. Murnau (1922) e M, o vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang (1931). Neste último o termo é usado por metáfora: não se trata de um vampiro propriamente dito, mas de um assassino serial que estupra e mata menininhas.
Na literatura, como vimos, o gênero constituíra uma resposta ficcional possível à angústia despertada pela Revolução Industrial. Sua penetração no cinema da própria Alemanha coincide com a ascensão do nazismo, com as doutrinas de eugenia e com a paranoia nutrindo fantasmagorias sobre seres impuros ou mistos (como vampiros, como Frankenstein, como o Médico/Monstro, como o formoso robô de Metrópolis, de Fritz Lang, em 1926), ou seja, não arianos. Delineiam-se no horizonte, logo depois levadas a cabo, as experiências médicas com seres humanos, tendo por objetivo intervir na programação genética, que implicariam nas horripilantes práticas de mutilação e tortura do gabinete do Dr. Mengele em Auschwitz, insinuadas nesses filmes.
*Walnice Nogueira Galvão é professora Emérita da FFLCH-USP. Autora, entre outros livros, de Lendo e relendo (Sesc / Ouro sobre azul).