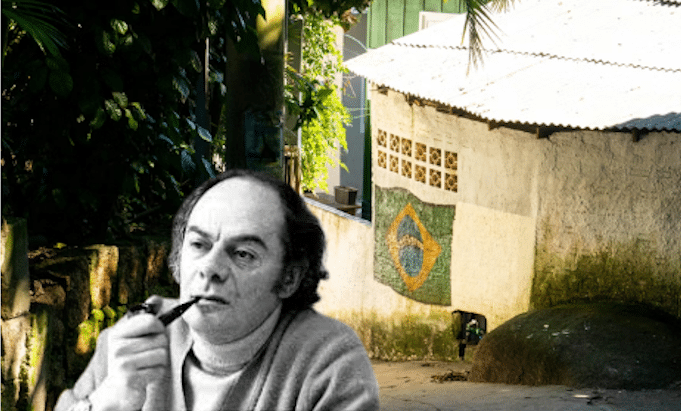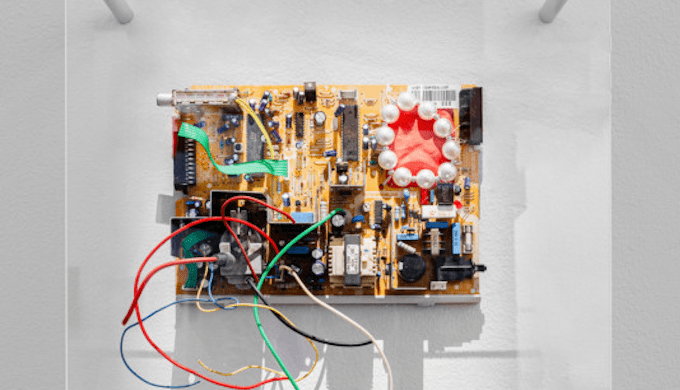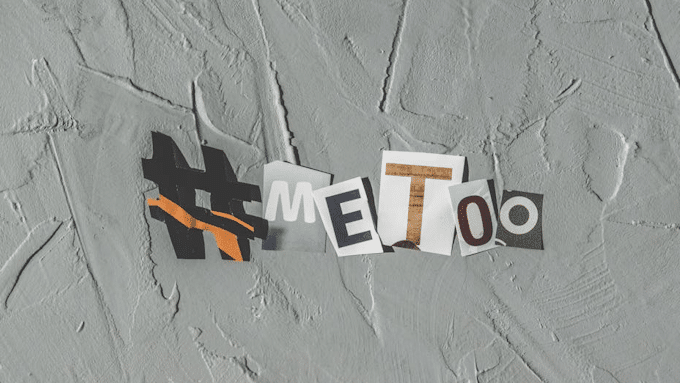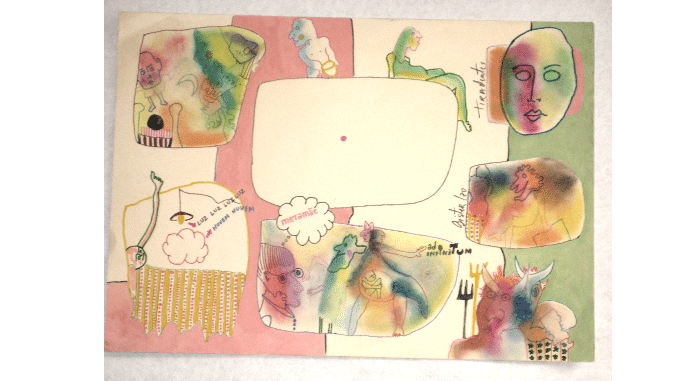Por LUIZ MARQUES*
A crise permanente em que nos encontramos é um modo de governar
No Dicionário do pensamento social do século XX, organizado por William Outhwaite e Tom Bottomore, editado em Oxford e vertido três anos depois para o português (1996), há um verbete sobre “crise”. Nele, se lê: “em toda crise os envolvidos confrontam-se com a questão hamletiana, ser ou não ser”. Em grego, a palavra krisis não distingue entre crise e crítica. A duplicidade de sentido ao descrever um impasse manteve-se, no campo da política. A junção de significados remete a eclosão do dilema ao juízo de uma situação crítica. Não existe crise sem um discurso sobre crise.
“O diagnóstico de crise representa uma vigorosa posição explicativa. Ele não visa uma ‘filosofia da história’, mas constrói hipoteticamente uma história capaz de funcionar como justificativa por ações políticas para os que vivenciam a crise”. Em tal acepção, expõe a agonia de uma totalidade histórica que exige uma opção sobre o que é desejável e o que não é. Subsiste algo de muito desafiador nas escolhas, pelo que trazem embutido as configurações inovadoras e nunca experimentadas no real.
O conceito que exprime a crise na sociedade capitalista foi formulado por Karl Marx, a partir do construto de “contradição” entre as classes sociais – burguesia vs. proletariado – que não podem resolver a equação em um sistema fechado. A bipolaridade dialética atravessa, em simultâneo, as individualidades com protagonismo na luta de classes. A lenda sobre Creonte e Antígona traduziu os grandes conflitos da antiguidade. Ele, ao exercitar a liberdade em circunstâncias concretas, no limite da lei. Ela, ao personalizar o absurdo sem medir a consequência dos atos. Na frequência sonar de zumbis, é a alegação dos terroristas do 6 de janeiro (1921) em Washington ou do 8 de janeiro (2023) em Brasília. Acrescente-se a relação contraditória entre a sociedade e a natureza. Num crescendo, as tensões conduzem a um teatro trágico e ao paroxismo que põe em risco a sobrevivência humana.
A utopia da distopia
Desde os anos 1970-1980, a população mundial vive sob a explanação legitimadora de uma crise; não a passageira, mas a duradoura. Lá se vão mais de quarenta anos, praticamente duas gerações em que – antes de falar mamãe – os bebês desde cedo aprenderam a conhecer e temer o lobo mau, a crise. A assustadora designação se converteu em sinônimo da contenção em haveres sociais, da erosão em infraestrutura e da desindustrialização.
A queda da produção tornou inútil o escoamento de produtos. Assim como a dependência externa fez dispensável o fomento às universidades e à pesquisa científica e tecnológica. De volta à sina de entreposto comercial das potências estrangeiras, a exportação de commodities agrícolas se afigurou suficiente às “elites” vira-latas e, o arrocho salarial sobre o funcionalismo, passou a ser a regra seguida pelos dirigentes do atraso voluntário.
Inibiu-se aportes públicos em obras para alavancar o crescimento econômico sustentável. Com o mantra do equilíbrio fiscal travestiu-se de “decisão técnica” uma narrativa ideológica, apenas para impedir a reprodução do modelo do Estado de Bem-Estar social que floresceu na Europa, pós-guerra. Então, o Estado tinha uma condição de demandador da indústria privada e fornecedor de salários indiretos, para potencializar ao máximo o consumo do conjunto dos trabalhadores. O capital repassava os ganhos de produtividade do trabalho aos salários, consentâneo a velha cartilha do fordismo, para estabilizar o sistema. Em contrapartida, os sindicatos aceitavam a moldura do capitalismo, com vistas à incorporação dos novos consumidores ao paraíso das mercadorias.
Para se ter uma ideia, o New Deal (1933-1937) para reformar a turva economia norte-americana e auxiliar os milhões de náufragos da Grande Depressão, que vagavam imersos na miséria fruto do cataclismo financeiro de 1929, não viria à tona sob a tenaz vigilância dos dez mandamentos do paradigmático Consenso de Washington (1989). A bíblia da pregação neoliberal contemporânea encampada pelo Banco Central (Bacen), entre nós, não alcançaria a boia de salvamento. “A economia neoclássica (ortodoxa) transformou-se num sistema hermético, que proíbe ao olhar descortinar perspectivas além de um horizonte estreito”, anota o professor da Universidade Livre de Berlim, Elmar Altvater, em O fim do capitalismo como o conhecemos.
Franklin Roosevelt considerava que “duas pessoas inventaram o New Deal, o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, Getúlio Vargas”. A fundamentação teórica veio com o ícone da macroeconomia, Teoria geral do emprego, dos juros e da moeda (1936), de John Maynard Keynes. Fernando Henrique Cardoso quis jogar no lixo a “herança maldita”, ao abrir a cancela da inserção subalterna e indigna do país à globalização do neoliberalismo. Coube a Luiz Inácio Lula da Silva retomar e aplicar a proposta de um Novo Acordo nos primeiros mandatos (2003-2010). No momento, porém, a administração 3.0 esbarra em resistências retrógradas. O Congresso impõe óbices ao Arcabouço Fiscal para frear os “gastos públicos”, a rigor, os investimentos do Estado.
Eis o segredo trancado a sete chaves pela hegemonia predatória das finanças. Pena a mídia não reivindicar a liberdade de expressão para denunciar os interesses do rentismo e as privatizações tocadas no último quadriênio. Segundo Eduardo Moreira, “a mídia não cobre as privatizações, faz a propaganda”; inclusive em casos indefensáveis e escabrosos como a Eletrobras. Parafraseando o ex-banqueiro, o filme se repete frente a astúcia dos rentistas, na versão do “jornalismo econômico”.
O termo crise sempre ocultou uma deliberação política, por detrás do léxico tecnocrático das pseudo autoridades formadas na tradição dos Chicago boys. Regada pelo medo, a crise imita um fantasma para direcionar a execução de medidas excepcionais. Medidas que encorpam o Estado de exceção, sem nenhum compromisso formal ou material com a Constituição de 1988. O alívio do sofrimento anterior é sublimado por um sofrimento posterior, via uma legislação que acomoda o habitus de sofrer. A utopia da distopia é legalizar a infelicidade pública. O estratagema cria a falsa crença de que as instituições republicanas seguem no âmbito de uma normalidade, embora os solavancos.
A manivela golpista
“O que há de inédito, na quadra histórica atual, é que a crise é apresentada explicitamente como contínua e não esconde a positividade em relação aos interesses neoliberais. O novo já chegou, o que não significa que todos os resquícios do Estado constitucional desapareceram. A permanência de alguns institutos e práticas leva à ilusão que dociliza aqueles que acreditam que se está no marco do Estado democrático de direito. O que chamam de ‘crise’ é, na verdade, um modo de governar”, sublinha o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Rubens R R Casara, em Estado pós-democrático. Entende-se o sucesso da literatura de autoajuda no contexto miserabilizado com desamparo geral, amplo e irrestrito que reza: ajude a si mesmo, e nada espere do aparato estatal.
As políticas de austeridade, o desemprego premeditado, a precarização dos ofícios, a aprovação da lei das terceirizações, a interrupção do projeto de moradia para cidadãos de baixa renda, o abandono das escolas públicas, a reforma do ensino médio e a falta de acenos a um futuro seguro fazem parte da financeirização em curso da gestão de pessoas e coisas. Esta foi a lógica do impeachment, e é agora a lógica dos juros mais altos do planeta, nutridos pelo facciosismo lesa-pátria do Banco Central. A marcha a ré para o neocolonialismo não é acidente de percurso. As chantagens do Parlamento sobre o Poder Executivo não ocorreriam, se não houvesse um processo de degeneração da democracia.
Para tanto, contribuiu o ataque ao princípio do direito moderno, a presunção de inocência. A Lava Jato restaurou o medievalismo ao tornar a suspeição, per se, merecedora de punição independente de provas – “onde há fumaça, há fogo”. Somam-se as investidas ao pilar da democracia moderna, a lisura eleitoral. Cenários que culminaram na convocação dos embaixadores estrangeiros para uma sessão de acusações à confiabilidade das urnas eletrônicas, na apuração dos votos. O ex-presidente incentivou o putsch, na hipótese de perder o pleito. “Foram anos de realejo, da insistência quase ininterrupta com que Jair Bolsonaro girou a manivela golpista, com palavras e gestos”, lembra Fernando de Barros e Silva (Piauí, maio 2023). A desqualificação do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do pluralismo político coroaram os despautérios.
No pano de fundo da pós-democracia se acham os meandros da mercantilização de tudo e todos, a sociedade de espetáculo, o totalitarismo da mercadoria, o hiperindividualismo, a fusão do poder político com o econômico; curto e grosso, o retrocesso civilizacional da “pós-modernidade”. A preocupação dos governantes se resume à manutenção da (des)ordem social, com monitoramento armado das populações indesejadas das periferias. Chacinas compõem o eugenismo sociorracial.
O funcionamento aparente das instituições não impediu o deslocamento das decisões para a arena das megacorporações. Basta prestar atenção nos vetores da governança da ultradireita, em proveito da racionalidade neoliberal. Para Pierre Dardot e Christian Laval, em A nova razão do mundo, nas pegadas dos estudos sobre o Nascimento da biopolítica (1978-1979), de Michel Foucault – os critérios de rendimento e lucratividade invadiram a subjetividade dos sujeitos, e consultórios Psi.
As promessas não cumpridas do regime liberal arrombaram as portas para a ascensão da demagogia das correntes neofascistas, que corromperam a democracia por dentro da institucionalidade. Vide a conduta do primeiro-ministro Viktor Orbán (Hungria) e dos presidentes Andrzej Duda (Polônia), Tayyip Erdogan (Turquia), Donald Trump (EUA) e Jair Bolsonaro (Brasil), para não alongar a lista.
O alerta de Gramsci
Os Estados pós-democráticos desenvolveram políticas de controle da vida (biopoder) e, por igual, da morte (necropoder). Não à toa, na abertura do ensaio sobre Necropolítica, Achille Mbembe afirma que “ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder”. Os brasileiros tivemos essa experiência na pandemia do coronavírus. O negacionismo manifestou-se com ares oficiais de soberba, retardou em meses a compra de vacinas e imprimiu uma campanha antiimunização escandalosa, contrariando as recomendações sanitárias do Butantan, da Fiocruz e da Organização Mundial da Saúde (OMS) – num verdadeiro genocídio.
O sentimento antipolítica acompanhado do desgaste da social-democracia europeia, submetida ao receituário do pensée unique cuja matriz recende a Sociedade deMont-Pèlerin (Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman), entorpeceu a sensibilidade das massas. No hemisfério Sul, a criminalização da esquerda pela aliança entre o Judiciário e os meios de comunicação, condensada na difusão do lawfare, refletiu com tonalidades de cinza as políticas progressistas. Menos mal que o PT resiste e abrange 30% da preferência do eleitorado nacional. Ou não comemoraria a vitória na disputa em que o sociopata torrou R$ 300 bilhões do Erário, e perdeu. Com o generoso programa do novo governo, renasce também a esperança do povo na possibilidade da emancipação dos grilhões.
Lula da Silva lidera uma Frente Ampla (policlassista) contra o neofascismo. Contudo, a chapa vitoriosa na percepção dos oprimidos e explorados, que apoiaram maciçamente a alternância, possui o viés de uma Frente Popular (uniclassista) contra o poder da burguesia associada à barbárie. A diferença no cômputo da votação induz a exagerada valorização da adesão do centro político que, com efeito, acarretou um percentual abaixo das expectativas.
O governo anda na corda bamba, ao priorizar nas políticas públicas os setores mais vulneráveis socialmente. Na reconstrução da nação, é preciso alterar a correlação de forças para amenizar as concessões táticas, numa conjuntura sem mobilizações de rua. Aqui, vale o preceito metodológico de Antonio Gramsci: “Observar bem significa identificar com precisão os elementos fundamentais e permanentes do processo”. Avanti!
*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA