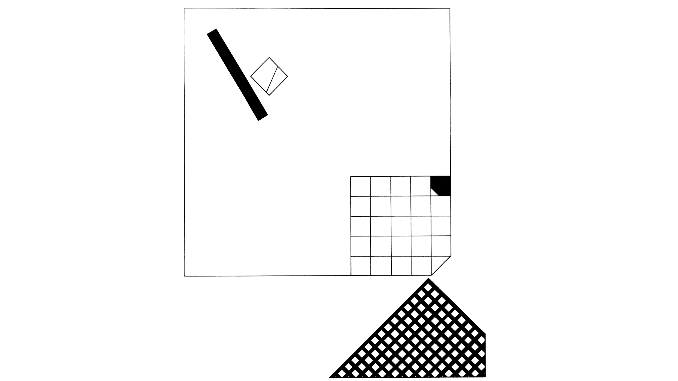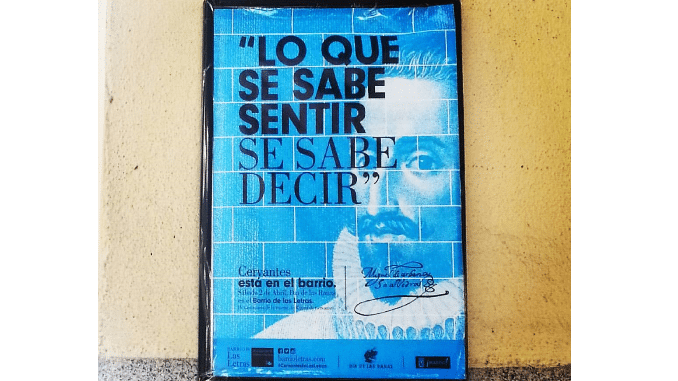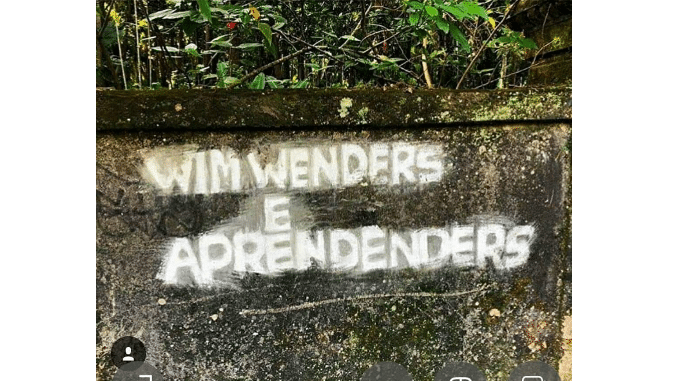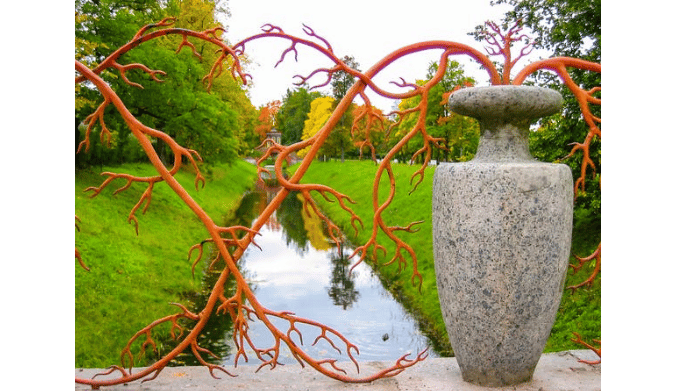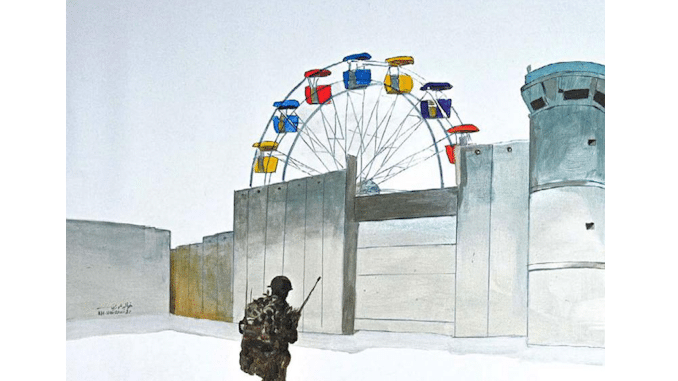Por PAULO MARTINS*
Comentário sobre a obra de Manuel Bandeira
Certos poetas não deveriam ser lembrados mortos, mas ser festejados todos os dias, pois que, simplesmente, são imortais e, assim, seria um desrespeito comemorarmos a ausência de alguém profundamente presente. Este é o caso de Manuel Bandeira.
Nossa cultura deixa ao relento poetas mortos. Até parece que suas obras teriam acabado de dizer tudo o que tinham em potência, com seu enterro. Grave equívoco. A crítica e muitos leigos ainda não esgotaram as possíveis leituras da obra de Bandeira, logo, mesmo após mais de 50 anos de sua morte no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1968, continua vivo, eterno e infinito.
Só os bons poetas compreendem a imortalidade e sabem, pois, nos traduzir que sempre há vida após a morte de um grande poeta. Certo autor medieval anônimo vaticinou: “palavras escritas permanecem, as faladas voam” (uerba uolant, scripta manent). Hoje compreendo o que efetivamente significa o tempo presente dessa máxima, a permanência certa daquilo que é bem escrito, ao contrário dos discursos voláteis da estreita e restrita oralidade.
Mas, por que é dado aos escritores e aos poetas tamanho privilégio? Seríamos nós, simples mortais, matéria perecível, incapazes de entender que boa poesia não morre? A resposta certamente é não. Contudo, os poetas desde sempre apostam nisso. Sabem que seu ofício, sua arte, encontrará acolhida na alma, sob os olhos atentos de bons leitores, independentemente de época. Não é de outra forma que ainda hoje lemos Homero ou compreendemos quando Horácio nos diz “erigi um monumento mais perene que o bronze” (exegi monumentum aere perenius), tratando de seus três primeiros livros de odes. Porém, poucos sabem ler poesia. Assim, poucos além dos bons poetas entendem que não há relação direta entre a morte do poeta e o fim de sua poesia.
Se tal premissa é verdadeira, continuaremos a escrever homenagens aos mortos-vivos até o fim dos tempos, tentando alertar o maior número de pessoas de que há vida após a morte de um grande poeta.
Em 1977, mais precisamente no dia 17 de abril (Jornal do Brasil), Carlos Drummond de Andrade – outro imortal – conseguira sintetizar a obra de Manuel Bandeira, não escrevendo um texto de crítica, mortal e limitado, (se comparado à arte da poesia), mas erigindo sobre seu amigo Manuel e sua poesia um belo poema (“Manuel faz novent’anos”) aos moldes daquele a quem se referia, afinal Bandeira foi assíduo nas homenagens poéticas. Pois bem, é justamente falando acerca da imortalidade que Drummond, bem à maneira de Bandeira, começa seu poema: “Oi, poeta! / Do lado de lá, na moita, hem? Fazendo seus novent’anos… / E se rindo, eu aposto, dessa bobagem de contar tempo, / De colar números na veste inconsútil do tempo, o inumerável, / O vazio-repleto, o infinito onde seres e coisas / Nascem, renascem, embaralham-se, trocam-se, / Com intervalos de sono maior, a que, sem precisão científica, chamamos [de morte.(…)”.
Dessa maneira, a carência de precisão científica da morte é sua completa inexistência para Drummond. Bandeira está apenas do outro lado de uma moita, se rindo de nós. O tempo para ele é uma dessas bobagens nas quais se colam números a seus trajes não costurados. Para Drummond, pois, Bandeira apenas dorme “profundamente”.
Esta ideia desde sempre perseguiu o poeta do Recife. O poema “Profundamente” do livro Libertinagem, por exemplo, alia o tema da memória distante do Recife à memória mais próxima do Rio, transfigurando o tempo em algo inerte e sem valor.
“Onde estão todos eles? / Estão todos dormindo / Estão todos deitados / Dormindo / Profundamente”.
O local do sono eterno, ou do sono maior, ou da verdade a que se refere Drummond, por sua vez, possui características ideais. Logo, para os poetas este espaço, a que nós mortais, matéria progressivamente em decomposição, denominamos morte, é o local ideal da poesia. Lá todas as coisas estão em si, são verdadeiras, “ilatentes” (alétheia, ἀλήθεια). Não é de outra forma, portanto, que no Érebo (“Pasárgada”), um tuberculoso pratique ginástica, ande de bicicleta, suba em pau-de-sebo, monte em burro brabo, etc. O irrealizável, o impossível (adynaton, ἀδύνατον) tem espaço na eternidade onde o tempo não para, não se fracciona em nosso limitado calendário e tão somente escorre numa perenidade infinita, o sempre – o aei, ἀει, grego que também está na aetas latina. Tudo é possível.
Porém, se a poesia se refere ao eterno (eternidade, aeternitas) com letras e vozes do hic et nunc (aqui e agora), qual será a consistência da prática poética no mundo do sono eterno? Drummond questiona: “(…) Hoje me sobe o desejo / de saber o que fazes, como, / onde: em que verbo te exprimes, se há verbo? / em que forma de poesia, se há poesia, versejas? / em que amor te agasalhas, se há amor? / Em que deus te instalas, se há deus? / Que lado, poeta, é o lado de lá, / Não me dirás, em confiança? (…)”.
Drummond quer nos enganar, ao questionar sobre o outro lado da vida, a morte, sobre como os mortos se comunicam, como escrevem poesia e como se amam. Ele sabe que a voz do amigo lá não é diferente de sua voz cá na terra. Bandeira já prenunciara ao propor em “O último poema” que: “Assim eu quereria o meu último poema / Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais / Que fosse ardente como o soluço sem lágrimas / Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume / A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos / A paixão dos suicidas que se matam sem explicação”.
A forma ideal de poesia é um universal que serve a qualquer mundo, ao dos vivos e dos mortos. A forma ideal é simples, é ardente, é bela, é fogo. E, nesse sentido, ecoa em seu versos modernos um platonismo camoniano, plasmado, modelado em seus versos livres. Mais do que isso, Bandeira é capaz de atingir a perfeição da poesia, operando materiais diversos que percorrem o absolutamente mundano, cotidiano e vulgar até o inacessível sublime. Desde a simplicidade de um “Café com pão // Café com pão // Café com pão // Virge Maria que foi isso maquinista?(…)” até a sublime delicadeza complexa de um “Quando a morte cerrar meus olhos duros // – Duros de tantos vãos padecimentos, // Que pensarão teus peitos imaturos // Da minha dor de todos os momentos?(…)”.
Acerca deste ideal que permeia a obra de Bandeira, Gilda e Antonio Candido de Mello e Souza já haviam pensado na introdução ao volume Estrela da Vida Inteira (Nova Fronteira) de 1966: “A mão que traça o caminho dos pequenos carvoeiros na poeira da tarde, ou registra as mudanças do pobre Misael pelos bairros do Rio, é a mesma que descreve as piruetas do cavalo branco de Mozart entrando no céu, ou evapora a carne das mulheres em flores e estrelas de um ambiente mágico, embora saturado das paixões da terra. É entre estes dois modos poéticos, ou dois polos da criação, corre como unificador um Eu que se revela incessantemente quando mostra a vida e o mundo, fundindo os opostos como manifestações da sua integridade fundamental”.
Por outro lado, é certo que o modernista Bandeira prima pela capacidade de se expressar sob a égide de qualquer matiz estético, dessa forma o ideal corporifica-se em qualquer meio de expressão. Vale dizer, contudo, que não foi Bandeira que encontrou o modernismo, mas, ao contrário, foram os modernistas que o encontraram – e Mário de Andrade tem responsabilidade nisto. Seu ecletismo formal e temático os tocou. Aqueles que buscavam a ruptura, encontraram nele a síntese renovadora e avassaladora necessária à fratura estética.
Assim, ao observamos Bandeira, filiado a certo simbolismo, cuja musicalidade exacerbada salta aos olhos de leitores mais curiosos; a um romantismo, que tão bem soube comentar e traduzir; a um radicalismo poético na conformidade de certa estética mais visceral; aos experimentos formais característicos da poesia concreta, tão distante de sua formação poética e a uma sexualidade psicanalítica, que o remete a uma impossibilidade da vida real e sensível, podemos dizer que o mundo ideal preconizado concretizara-se em forma e conteúdo.
A esta diversidade de Bandeira, que certamente induz à universalidade ideal, Drummond, belamente, sintetiza: “(…) Manuel canção de câmara, Manuel / canção de quarto e beco, / ritmo de cama e boca / de homem e mulher colados no arrepio / do eterno transitório: traduziste / para nós a tristeza de possuir e de lembrar, a de não possuir e de lembrar, / a de passar, mescla do que foi, do que seria, simultaneamente projetados / na mesma tela branca de episódios / – em nós, vaga, soprada a cinza, / em ti, o sopro intenso de poesia.(…)”.
A “mescla do que foi, do que seria , // simultaneamente projetados// na mesma tela branca de episódios” que Drummond fala é justamente a fusão “dos dois polos da criação” de Dona Gilda e Antonio Candido e aquilo a que nos referimos acerca do ideal universal para o qual convergem concepções poéticas diversas e para o qual a diversidade mundana e supra real, conciliadas, reagem sob forma de poesia, que intensamente lírica, atinge a todos, ora pela simplicidade humilde do discurso – como propõe Arrigucci Jr. em Humildade, paixão e morte (Companhia das Letras) –, ora pela complexidade ontológica que foge à nossa compreensão.
Dessa forma, o simbolismo de Bandeira, facilmente observável em Cinza das Horas (seu livro inaugural – 1917), nasce de uma poesia sujeita a uma técnica extremamente acurada que não visa ao efeito exterior, não se dirige tanto ao sentimento, ao coração, como a regiões menos exploradas da alma, como já alertara Sérgio Buarque (“Manuel Bandeira” in O Espírito e a Letra, I). É assim que afirma em “Versos escritos n’água”: “Os poucos versos que aí vão, / Em lugar de outros é que os ponho. / Tu que me lês, deixo ao teu sonho / Imaginar como serão”.
Indelevelmente ligado a esta tradição, Bandeira afirma em Itinerário de Pasárgada: “compreendi, ainda antes de conhecer Mallarmé, que em literatura a poesia está nas palavras, se faz com palavras e não com ideias e sentimentos, muito embora, bem entendido, seja pela força do sentimento ou pela tensão do espírito que acodem ao poeta as combinações de palavras onde há carga de poesia”.
Da mesma forma, a poesia romântica alemã é tópica em sua poesia. Sua estadia na Europa antes da Primeira Grande Guerra possibilita contato mais direto com o alemão, e assim, pôde conhecer toda a força de Goethe, Hölderlin, Schiller e tantos outros. Contudo, a sua afinidade com a poesia moderna realmente é seu ponto mais significativo. Constrói para si uma poética que se alimenta da tradição e do cânone e os deglute e os absorve para produzir um efeito reorganizador de sua obra e, consequentemente, de outros que virão a ser, ou melhor, da própria poética moderna. Seu contato prévio com formas alheias de expressão lhe possibilitam uma crítica severa às mesmas. Mário de Andrade (em Aspectos da Literatura Brasileira) assim fala de Libertinagem, no qual sua maturidade moderna nos atinge avassaladoramente: “Libertinagem é um livro de cristalização. Não da poesia de Manuel Bandeira, pois que este livro confirma a grandeza dum dos nossos maiores poetas, mas da psicologia dele. É o livro mais indivíduo Manuel Bandeira de quantos o poeta já publicou. Aliás também nunca ele atingiu com tanta nitidez os seus ideais estáticos, como na confissão de agora”.
Mário referir-se-ia ao poema “Poética”, talvez um dos maiores instrumentos estéticos compostos pelo modernismo brasileiro, antológico em cada um de seus versos. Este poema reflete os ideais de toda uma geração de poetas. Seu último verso é uma bela hipérbole que restringe e, ao mesmo tempo, universaliza a produção poética moderna: “- Não quero mais saber do lirismo que não seja libertação.” Ao mesmo tempo que determina uma redução, ao negar o lirismo, propõe uma sua universalização ideal que é a libertação.
Tal movimento dialético proposto pode ser observado, por exemplo, no dístico “Poema do Beco” de 1933: “Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? / O que eu vejo é o beco”.
Ou em “Última Canção do Beco”: “Beco que cantei num dístico / Cheio de elipses mentais, / Beco das minhas tristezas, / Das minhas perplexidades(…) / Beco que nasceste à sombra / De paredes conventuais, (…) / Adeus para nunca mais!”.
O beco tão presente em sua obra corresponde a um universo limitado físico que se contrapõe a universalidade do mundo. Entretanto, esta limitação física é trabalhada de forma a ser transposta e reavaliada universalmente em modulação lírica, eclodindo em libertação. Assim temos que o universo ideal em Bandeira que parece estar restrito por uma simplicidade aparente, por uma pequenez do mundo cogitado, transforma-se no mote aglutinador das expectativas universais. E justamente são estas expectativas universais aparentemente simples de seus poemas que o convertem, Bandeira, em um poeta da imortalidade.
*Paulo Martins é professor de Letras Clássicas da USP e autor de Elegia romana: construção e efeito (Humanitas).