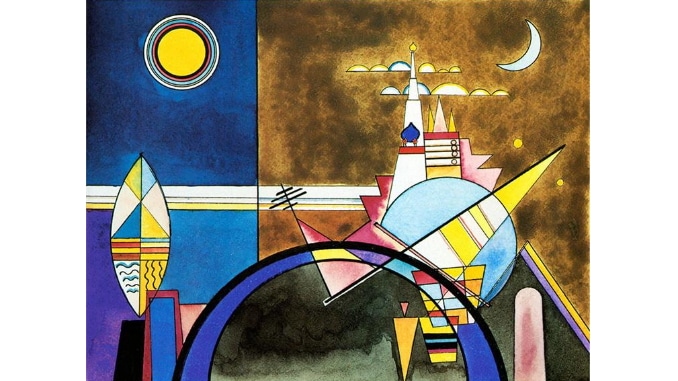Por ERMÍNIA MARICATO & PEDRO ROSSI*
É necessário que os Planos Diretores saiam da retórica, deixem a condição de fetiches, para se tornarem planos de ação
Planos Diretores estão sob ataque em cidades de todo o país: Vitória, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Londrina, Maringá, Porto Alegre, Florianópolis, Natal, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Rio de Janeiro, Juazeiro do Norte… A lista é extensa. Fazem parte dessa tentativa de mudança da regulação socioterritorial propostas como ocupação de áreas ambientalmente frágeis, flexibilização de índices de construção e de ocupação do solo, rebaixamento da contrapartida paga pelas empresas imobiliárias para aumentar o potencial construtivo e ampliação do perímetro urbano, entre outras. Essas e outras medidas combinam o aumento do padrão de adensamento e verticalização em áreas estratégicas para ganhos rentistas com a dispersão urbana que também alimenta a especulação fundiária, além de elevar o custo de manutenção pública das cidades.
Na atual conjuntura, a baixa competência do poder local para elevar a arrecadação tributária contrasta com a efervescente ampliação dos negócios imobiliários. O aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sob as duas formas previstas na Constituição Federal, no tempo e no espaço, é insuficiente para lidar com os gigantescos problemas vividos pela população no cotidiano das cidades (embora seja preciso reconhecer que ainda há muito espaço para aumentar a arrecadação com IPTU). O imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) está contido e não recolhe para o município. A “outorga onerosa pelo direito de construir” acima do coeficiente básico, definido no Plano Diretor, surge como uma fonte alternativa de receitas. Em algumas cidades, como São Paulo, de acordo com dados do Sistema de Orçamento e Finanças do município, essa arrecadação chegou a mais de meio bilhão de Reais em 2020, portanto, estamos falando de quantias significativas. E ainda há a justificativa, defendida pelas forças progressistas, de capturar para os cofres públicos parte da chamada “valorização imobiliária”, ou seja, ganhos decorrentes de investimentos públicos e privados sobre a forma de aumento de preço dos imóveis.
Enquanto havia um certo ambiente democrático na gestão das cidades (Prefeituras Democráticas e Populares dos anos 1990 e início de 2000), essa arrecadação era orientada para a diminuição da desigualdade urbana. Com a aprovação da Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta o capítulo da Política Urbana na Constituição de 1988, e dá ao Plano Diretor um protagonismo inédito definido, necessariamente, com participação democrática, grande parte de profissionais, estudiosos e lideranças sociais se lançaram na construção da utopia de cidades justas e sustentáveis por meio dos Planos Diretores. Com o avanço do neoliberalismo e da regressão da participação democrática capilar, o “negócio da cidade” se radicaliza. Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo passam a ser negociados entre o executivo municipal, o legislativo local e o mercado imobiliário, comprometendo, também, o investimento público que é indispensável para as chamadas operações urbanas.
Portanto, está em curso um articulado e galopante movimento de descaracterização dos espaços urbanos. Cada vez mais, bairros dão lugar a torres que podem atingir 50 andares (até mesmo em cidades de porte médio) formando verdadeiras barreiras que condenam os arredores à ausência de insolação e ventilação – sem falar na depreciação da qualidade de vida cotidiana, cuja morfologia urbana, fruto dessa produção espacial desenfreadamente irresponsável, menospreza o cotidiano das pessoas e as afasta das relações sociais na escala humana.
Mais além, e combinada à demolição de sobrados ou casas térreas em bairros consolidados, há também o fenômeno da dispersão das cidades, com a ampliação dos perímetros urbanos, acarretando um significativo aumento no custo da infraestrutura urbana e da manutenção pública e privada dos serviços da cidade. Como mostra extensa bibliografia, o aumento das viagens diárias em transporte coletivo está diretamente relacionado à dispersão urbana.
A desigualdade social no Brasil, uma das maiores do mundo, tem uma clara representação nos territórios urbano e rural. Essa fratura é conhecida nas cidades, mas não nas suas reais dimensões: a informalidade/ilegalidade é mais regra que exceção. A produção de moradias nesses bairros periféricos não conta com a propriedade registrada da terra, não resulta de projetos de arquitetos e engenheiros, não possui licenciamento concedido pelas prefeituras, não observa a legislação de uso e ocupação do solo ou o código de edificações, tampouco é amparada com financiamento imobiliário ou participação de empresas de construção. Em algumas metrópoles, esse processo é responsável pela maior parte do espaço construído, com consequências trágicas para o meio ambiente, o transporte e a saúde. Essas cidades sem Estado e sem Mercado (leia-se mercado capitalista formal) são produzidas e “geridas” por estruturas paralelas: facções do crime organizado e milícias que contam com alguma colaboração do poder público, como mostra pesquisa da Universidade Federal Fluminense (UFF) recentemente divulgada.
Não é por falta de leis e planos que nossas cidades são como são. O arcabouço legal urbanístico brasileiro é muito avançado, em especial o Estatuto da Cidade, festejado no mundo todo. Por lei, os Planos Diretores deveriam ser, obrigatoriamente, participativos e democráticos, além de incorporar, necessariamente, as diretrizes orçamentárias. Mas nossa legislação não tem efetividade. Não raramente é desconhecida por parte do judiciário. O fato é que o Plano Diretor regula uma parte das cidades: a cidade formal ou a cidade do mercado.
Mesmo na cidade formal, é muito comum a ocorrência de “obras sem planos e planos sem obras”, ignorando a orientação dos Planos Diretores. Metrôs, pontes, viadutos, novas avenidas, ou seja, grande parte do investimento público em obras é dirigida por um lobby que é orientado pela captura das rendas imobiliárias ou fundiárias por meio do aumento do preço dos imóveis, e não pela necessidade da maior parte da população que sofre cotidianamente com a precariedade na moradia e na mobilidade. Como exemplos, o monotrilho em São Paulo, que atravessa bairros de alta renda conectando-os ao aeroporto de Guarulhos; o BRT carioca, que liga a Barra da Tijuca ao aeroporto do Galeão; o metrô de Salvador, que também se destina ao aeroporto; o VLT de Fortaleza, entre tantos outros.
Ainda que de forma precária, a legislação urbanística e os Planos Diretores garantiram certa qualidade para parte da população urbana, até que a tsunami neoliberal auxiliada pela liquidez monetária, ou a financeirização da economia, definissem o mercado imobiliário como um dos campos de investimentos prioritários. Com a pandemia do novo coronavírus, o aumento do desemprego, da fome e da violência, aumentam também os despejos coletivos e até administrativos. Aproximadamente 10.000 famílias foram despejadas entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Quase 95 mil famílias estão ameaçadas de despejo, segundo a coordenação da Campanha Despejo Zero. As cidades estão vivendo uma dupla tragédia em plena pandemia: a da ofensiva imobiliária especulativa numa ponta e o aprofundamento da pobreza na outra, sendo que o crescimento do mercado imobiliário não responde às necessidades da maior parte da população que não tem renda suficiente para bancar um financiamento para compra da moradia, ou acompanhar o aumento dos aluguéis definidos pelo IGP-M.
Em que pese o cenário, essas ofensivas não estão sem respostas. Contam com a oposição de coletivos formados por professores e estudantes universitários, movimentos sociais, ONGs, entidades profissionais – arquitetos, engenheiros, advogados, assistentes sociais, médicos, etc. – em numerosas cidades, como mostra a rede BrCidades. As Defensorias Públicas locais são presenças frequentes, assim como parcelas do Ministério Público e até de magistrados. Um exemplo dessas mobilizações surge na capital paulista. A Frente São Paulo Pela Vida – que reúne aproximadamente 500 entidades, coletivos e movimentos da sociedade – se opõe à revisão do Plano Diretor durante a pandemia, momento em que a maior parte da sociedade não possui condições de participar do processo, como determinado pelo Estatuto da Cidade – seja face às restrições sanitárias impostas no período, que determinam distanciamento social e isolamento de pessoas contaminadas, seja pela impossibilidade de comunicação virtual, dada a insuficiente de internet nos domicílios. A Frente São Paulo Pela Vida alega que a revisão do Plano Diretor não é urgente. Cobra, contudo, uma agenda emergencial contra a crise econômica e humanitária instaurada que dê conta das condições de higiene, saúde, alimentação, habitação, comunicação, mobilidade e renda para famílias e pequenos empresários no município.
A reconstrução da democracia no Brasil não pode prescindir do protagonismo da participação capilarizada que se multiplica no chão das cidades promovendo a informação e a cidadania. A democracia participativa – nos bairros, escolas, igrejas, clubes, entre outros – permite subverter a manipulação dos algoritmos das redes sociais e jogar luz sobre o que a grande mídia trata como um contexto minoritário de moradores de favelas. 85% da população brasileira que é urbana e vive sacrifícios diários nas cidades, mas não são alcançadas por debates sobre leis que interferem em sua condição de vida. É necessário que os Planos Diretores saiam da retórica, deixem a condição de fetiches, para se tornarem planos de ação. É urgente comprometer o investimento público com um Plano de Ação.
*Ermínia Maricato é Professora titular aposentada da FAU-USP, fundadora do LabHab-FAU-USP.
*Pedro Rossi é professor e coordenador do curso de arquitetura e urbanismo do UNIESP e membro da Coordenação da Rede BrCidades.
Publicado originalmente no site da revista CartaCapital.