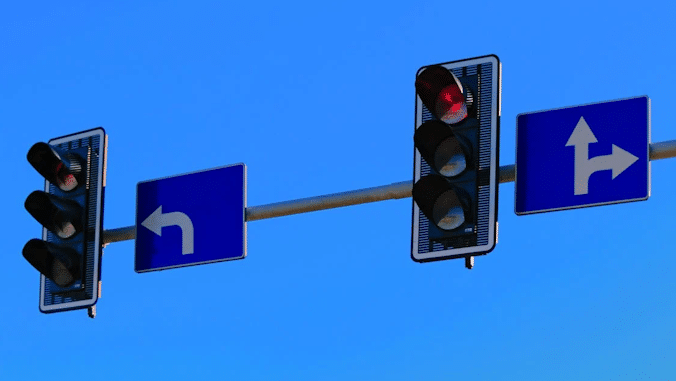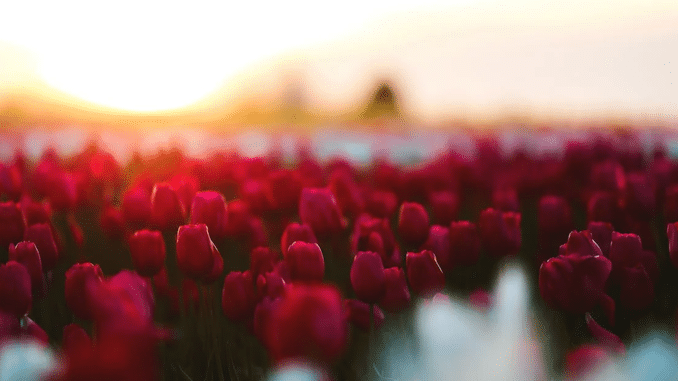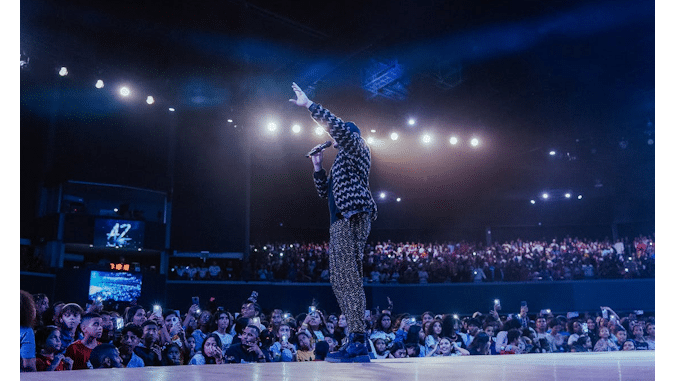Por FERNANDO SARTI FERREIRA*
O custo que a estagnação e a decadência da atividade industrial no Brasil deixam não é superficial: um rastro de desagregação social e econômica
Nessa semana a Ford anunciou o fechamento de suas últimas fábricas no Brasil, encerrando um período de 101 anos de atividade no setor manufatureiro do país. A empresa, ao espalhar pelo globo durante a década de 1920 diversas fábricas montadoras de automóveis, foi percursora de uma estratégia de expansão no mercado mundial que seria reproduzida entre as grandes indústrias estadunidenses, europeias e japonesas no pós-1945.
Esse processo buscou replicar em escala global o sucesso da organização de fábricas montadoras pelo território estadunidense. Além de reduzir os custos de transporte – 26 automotores desmontados ocupavam o mesmo espaço que sete ou oito veículos montados -, as fábricas montadoras ao redor do globo também podiam se aproveitar de uma maior proximidade dos mercados consumidores, assim como burlar restrições alfandegárias, especular com o câmbio e muitas vezes combinar a introdução de modernos processos de produção com a disponibilidade de uma mão de obra muito mais barata e pouco organizada. Apesar de nesta etapa a presença da montadora não ter produzido a chamada “nacionalização de componentes”, ou seja, estimulado o surgimento de indústrias auxiliares, como a de autopeças, não se deve desprezar o peso econômico que a montagem tinha, uma vez que, naquela época, cerca de 25% do valor dos veículos advinha desse processo.
No ano de 1921, a Ford inaugurou sua fábrica na Rua Solon no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. O prédio foi projetado por Albert Kahn, arquiteto da fábrica de Highland Park, em Detroit, onde, em 1913, pela primeira vez na história, um automóvel foi produzido em uma linha de montagem. A construção, com sua esteira mecânica, era o que havia de mais moderno em relação às novas formas de organização do trabalho que se espraiavam a partir da indústria automobilística. Estrategicamente localizada às margens da estrada de ferro Santos-Jundiaí, a fábrica recebia de trem os automóveis desmontados fabricados nas oficinas do Rio Rouge em Detroit.
Tamanho era o volume das exportações para as sucursais na América do Sul que a empresa colocou em operação em 1924 o SS Onondaga, um navio a vapor de 80 metros de comprimento e 3.800 toneladas, com capacidade para transportar 1.500 carros, 150 tratores e milhares de peças para montagem, para suprir suas fábricas montadoras na região. No ano de 1925, quando a Ford atingiu a marca inédita de 136 mil unidades montadas em suas sucursais estrangeiras – excluindo o Canadá -, a fábrica da Rua Solon foi responsável pelo nada desprezível 12% deste total.
A instalação das sucursais da Ford ao redor do mundo, especialmente em economias exportadoras periféricas – além de São Paulo, durante a década de 1920, a Ford passou a montar carros em Buenos Aires (a terceira maior fábrica no exterior), Cidade do México, Santiago do Chile e Istambul -, obedeceu tanto aos limites impostos pelo mercado interno estadunidense às possibilidades de lucros das grandes empresas daquele país, como também ao boom das commodities que se seguiu à recuperação da economia mundial após à Primeira Guerra Mundial. Se em 1925, a fábrica da Rua Solon atingia o recorde no número de veículos automotores montados, as receitas de divisas provenientes da exportação de café também atingiam seu máximo histórico, chegando a 74 milhões de libras esterlinas…
O encerramento das atividades manufatureiras da Ford no Brasil não é fruto da desindustrialização do país, mas do fato do Brasil nunca ter se industrializado. O crescimento da indústria brasileira foi viabilizado e perseguido enquanto o complexo agrícola-mineiro exportador admitiu e os mecanismos de dependência tecnológica permitiram aos grupos multinacionais a captura de parte dos excedentes produzidos pelo setor primário. Ou seja, atualmente, os grandes grupos econômicos que controlam a economia brasileira não têm a menor intenção de capitalizar sua renda na indústria, tampouco as multinacionais enxergam a produção industrial no Brasil como forma para capturar os excedentes produzidos por nossa economia fundamentalmente primário exportadora.
A tal indústria nacional nunca foi outra coisa senão uma espuma. Como projeto, ela foi derrotada. Restou seu caráter de atividade secundária e acessória, servindo apenas como forma de ajustar os desequilíbrios das contas externas provocadas pelas flutuações mais ou menos estruturais dos ciclos das commodities. Do ponto de vista interno, chama atenção como o crescimento industrial brasileiro entre 1950 e 1980 marcou a transição do café para a soja. A Revolução tecnológica e a reorganização da divisão internacional do trabalho a partir de 1973, sobretudo a industrialização do leste asiático, possibilitaram que com a renda obtida por meio das exportações fosse possível suprir o consumo das camadas superiores do Brasil novamente com produtos do além-mar.
A diversificação econômica que havia amparado o setor primário exportador após 1930 tornou-se obsoleta, assim como toda a superestrutura jurídica e política e as formas de consciência social correspondentes – vide o desmonte da Previdência Social, da Legislação Trabalhista, mas, sobretudo, a desarticulação e o quase desaparecimento do proletariado fabril. Não é à toa que voltou à moda um liberalismo elitista, apimentado e repaginado pelo darwinismo social radical do neoliberalismo pinochetista.
O custo que a estagnação e a decadência da atividade industrial no Brasil deixam, contudo, não é superficial: um rastro de desagregação social e econômica, jogando ainda mais água no moinho da precarização da vida da população brasileira. Como consequência, a violência contra o inorgânico, majoritariamente encurralado nas periferias, corresponde à transformação dos massacres de Canudos e do Contestado em política cotidiana, ordinária e preventiva. Não se trata aqui de repetição como tragédia, mas da longa duração de nossa noite colonial.
*Fernando Sarti Ferreira é doutor em história econômica pela USP.
Publicado originalmente no Boletim do GMARX-USP.