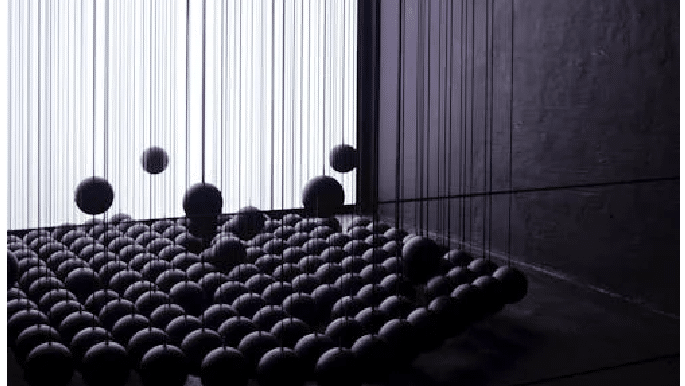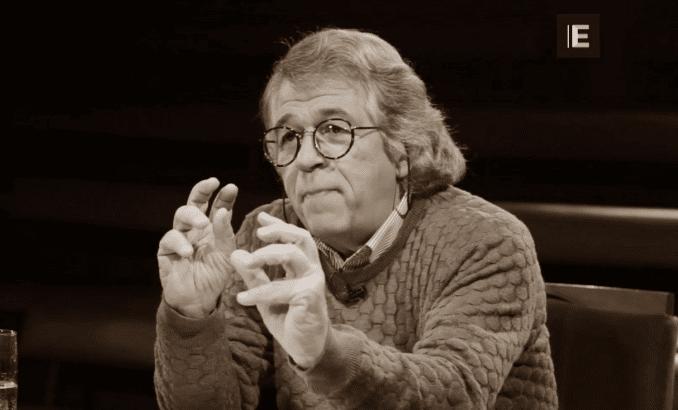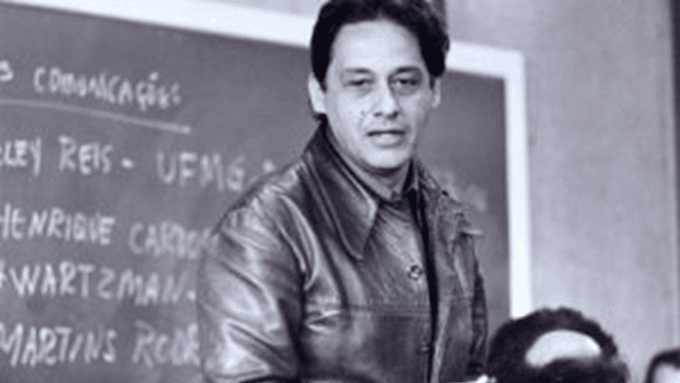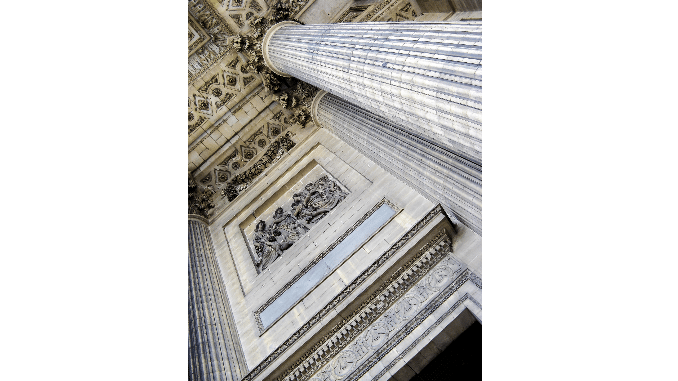Por JEAN MARC VON DER WEID*
A guerra não acabou e não acabará tão cedo, independente o que vai acontecer em Gaza
1.
O mundo está festejando a trégua entre o Hamas e o governo de Israel, suspendendo o massacre da população de Gaza, que já dura 15 meses de horror. A parte concreta do acordo está limitada ao processo de troca de prisioneiros, já iniciada há alguns dias.
Não é pouca coisa para os mais diretamente interessados, os civis não combatentes submetidos a bombardeios quotidianos, expulsão com ou sem destruição de suas casas, hospitais, escolas e outras infraestruturas sociais essenciais, falta de alimentos, água e medicamentos e muitas outras coisas corriqueiras em um quotidiano normal, mesmo em comunidades empobrecidas. Por isto, o fato em si da interrupção dos “combates” (eufemismo para o embate entre, alegoricamente, o estilingue e o canhão) deve ser comemorado. Mas o que esperar para o presente e o futuro?
Como em todo episódio de conflito entre povos e/ou Estados, o presente e o futuro do processo dependem de quanto cada lado considera ter conseguido através do enfrentamento. Quem está cantando vitória e por quê?
A resposta a esta pergunta é cheia de ambiguidades. Como era de se esperar, os líderes de cada lado afirmam ter ganho a parada. Leio em vários artigos que o Hamas “obrigou” o governo de Benjamin Netanyahu a negociar e a suspender a ofensiva. Alguns chegam a afirmar que o Hamas teve uma vitória militar, esgotando a capacidade operacional do exército israelense. Outros argumentos são mais pé no chão e falam de vitória política, muito embora não admitam que houve uma derrota militar.
Na história são muitos os exemplos deste tipo de quiproquó. Já nos tempos da república romana, derrotas militares contra Pirro, rei do Épiro, custaram tanto ao vitorioso que prefiguraram a sua futura destruição. Em tempos modernos, o melhor exemplo de uma derrota militar amplamente compensada por uma vitória política foi a ofensiva do Tet, em 1968, na guerra entre os EUA e o Vietnã (o povo do Sul e o Estado do Norte). Embora a esquerda tenha afirmado, ao longo do tempo, que a ofensiva do Vietcong tinha sido uma vitória militar, a tese não se sustentou e foi discretamente abandonada.
Prevaleceu a correta visão de que o preço pago pelo império americano na vitória militar foi muito alto, não tanto em baixas entre os seus soldados, mas na vontade de seguir lutando dos eleitores americanos. Por outro lado, a derrota militar não diminuiu a vontade de lutar dos vietnamitas, tanto do norte como do sul. Como dizem os teóricos da guerra, desde Sun Tzu, passando por Clausewitz e Mao Tse Tung, o objetivo de toda guerra é eliminar a vontade de lutar do inimigo.
É difícil não considerar que estes 15 meses de combates não foram uma derrota militar para o Hamas (e para os seus aliados, Hezbollah e os governos da Síria e do Irã). Estimativas do exército israelita indicam a morte ou aprisionamento de mais de 15 mil combatentes do Hamas. Admitamos que haja uma inflação de mortos feridos ou prisioneiros nos números anunciados. Mesmo supondo que entre as cerca de 70 mil vítimas dos bombardeios e combates (cálculo de organizações humanitárias, inclusive judaicas) não mais do que 20% sejam combatentes, estaremos próximos dos números do TAHEL.
Em um balanço estritamente militar, além dos combatentes mortos, feridos e prisioneiros, armamento e infraestruturas foram destruídos, diminuindo o poder de fogo do Hamas. E não se pode deixar de notar a eliminação das lideranças políticas e militares da organização palestina. Para completar o quadro, a destruição da estrutura política e militar do Hezbolah, a queda do regime de Assad na Síria e a humilhação do regime dos aiatolás no Irã na troca de bombardeios entre os territórios, levam a um isolamento militar do Hamas, que vai ter dificuldades de se rearmar.
Argumenta-se que tudo isto não é mais do que uma derrota tática para a causa palestina (e para o Hamas) e que o TAHEL não conseguiu eliminar, nem militar nem politicamente, o Hamas em Gaza e que “a luta continua”. Há algo de verdade nesta afirmação e alguns analistas apontam para o recrutamento de perto de cinco mil jovens que se somariam aos perto de sete mil sobreviventes entre os militares do Hamas nesta etapa da guerra. De fato, para o enfrentamento continuar, o essencial é o estado de espírito da população palestina.
2.
Tudo se resume, no longo prazo, ao sentimento dominante entre os oprimidos: a sensação de sofrimento e esmagamento ou a revolta e a vontade de lutar. A brutalidade e desumanidade do TAHEL e do governo Netanyahu afetaram profundamente a vida de 2,4 milhões de pessoas. O fato de que apenas cinco mil jovens se somaram aos combatentes do Hamas indica que, ou está faltando capacidade de organizar e armar novos recrutas frente a uma adesão potencial muito maior, ou a grande massa dos palestinos está esgotada pelo sofrimento e reza pela paz, qualquer paz.
Não sabemos qual a realidade do sentimento desta população. Acredito que, se tivessem para onde ir, já estariam a caminho, na sua grande maioria. A meu ver, o governo de Benjamin Netanyahu entrou em um beco sem saída quando ligou a máquina de moer gente naquele pequeno território, sem deixar uma válvula de escape ou uma porta de saída.
A estratégia dos sucessivos governos de Israel, desde a sua fundação e pelo movimento sionista antes dela, é a limpeza étnica. Isto vem sendo feito em surtos sucessivos de terrorismo explícito ou encoberto contra civis palestinos. Na primeira onda, logo nos meses que se seguiram à fundação do estado de Israel, mais de dois milhões abandonaram seus lares e foram se aglomerar no Líbano, Síria ou em Gaza. Mas na presente ofensiva, Gaza foi cercada por todos os lados, não sobrando um caminho para fora. O Tahel empurrou a população na direção da fronteira com o Egito, esperando que a pressão acabasse por forçar o vizinho a abrir a porta.
Chegou-se a dizer, sem que isto fosse confirmado, que o governo de Benjamin Netanyahu ofereceu a criação de uma mega infraestrutura de campos de refugiados no Egito, em pleno deserto do Sinai, que permitiria a “limpeza” de Gaza e sua futura reocupação por colonos judeus. O plano falhou pela resistência do governo egípcio, temeroso com a criação de um enclave radicalizado em seu território e que poderia dar a mão aos extremistas islâmicos da Irmandade Muçulmana, fortes no país.
O agora revelado “Plano Trump” para conseguir a paz em Gaza é nada mais nada menos que o sonho dos mais radicais na extrema direita do governo de Israel: esvaziar Gaza de seus habitantes palestinos, levando-os para o Egito e para a Jordânia. Donald Trump citou 1,5 milhão de pessoas a participarem deste êxodo, esquecendo outras 900 mil, mas para o megalômano esta diferença de quase um milhão não deve ser importante. Embora ele não tenha dito, é de se supor que estaria disposto a assumir os custos da empreitada. Falta só “combinar como os russos”, ou seja, os governos do Egito e da Jordânia, não por acaso os mais dependentes de subsídios americanos depois de Israel.
A alternativa israelense para a promoção da limpeza étnica em Gaza era e é o holocausto, isto é, matar de fome, sede, doenças e bombas os mais de dois milhões de habitantes. Não existem dados sobre o total de óbitos palestinos, por diferentes causas, nestes 15 meses. Supondo que as baixas por outras causas sejam duas vezes maiores do que as 70 mil diretamente provocadas pelos combates e bombardeios, seriam 210 mil óbitos no total. Neste ritmo, seriam precisos mais 14 anos de massacre para eliminar a população palestina.
Ou, alternativamente, adotar soluções ainda mais radicais e horrendas para acelerar o processo. Uma notícia recente apontando para a decisão de Donald Trump de liberar a entrega de um amplo arsenal de bombas de duas toneladas para o Tahel mostra que o governo americano também trabalha com um plano B, o do extermínio.
Apesar da radicalização de uma parte importante da população de Israel, ainda tenho dúvidas de que a maioria dos judeus, dentro e fora de Israel, sustente a longo prazo esta opção desumanizadora, que a tornaria um espelho da máquina de extermínio nazista usada contra o seu próprio povo. No entanto, o movimento de crescente e intenso ódio recíproco (que já atravessa três gerações) está levando à ampliação do reflexo de autodefesa dos israelenses que vem a se somar ao ideário da determinação religiosa do “direito à terra prometida”. Este sentimento pode levar à aceitação do extermínio dos não judeus como uma necessidade histórica.
3.
Muitos consideram que esta opção por um holocausto já está sendo aplicada em Gaza e que chegar à limpeza étnica é só uma questão de escala ou de tempo. O impiedoso massacre dos palestinos está sendo feito mais às claras do que a “solução final” de Hitler. Esta foi aplicada pelos nazistas na Alemanha e países conquistados de forma muito mais discreta, mas custo a crer que tanto os judeus de Israel quanto da diáspora possam engolir indefinidamente este horror.
Entre os muitos fatores a considerar na avaliação de perdas e ganhos para os dois lados, é muito importante lembrar o impressionante desmonte da imagem dos judeus na opinião pública mundial. Muitos amigos judeus criticarão o uso deste conceito étnico no lugar de israelita, mas neste caso faz sentido. O povo que foi alvo de extermínio sob o domínio nazista foi o judeu, assim como as vítimas dos pogroms na Rússia tzarista. É claro que ser judeu e ser israelita são coisas não idênticas.
Mas o efeito das ações dos israelenses ou do seu governo e seu exército afetam a imagem de todos os judeus, dentro e fora do Estado de Israel. Isto é ainda mais significativo porque o sionismo busca justamente colar a identidade da população israelita com a de todo o “povo judeu”, mundo afora. Seja qual for a razão, o fato é que o capital de empatia e solidariedade adquirido pelos judeus devido ao holocausto está sendo erodido profundamente pela política de limpeza étnica adotada pelo Estado de Israel.
Podemos discutir se os fornos crematórios dos campos de extermínio dos nazistas se equivalem aos bombardeios indiscriminados em Gaza ou se a escala pode ser comparada. Ainda acho que existem diferenças significativas entre os métodos nazistas e os do governo de Benjamin Netanyahu, sobretudo na escala das vítimas, mas não se pode deixar de notar as notáveis semelhanças.
Frente a esta perda de identidade positiva, a reação do governo de Benjamin Netanyahu é dobrar a aposta e mobilizar as organizações judaicas em todo o mundo para garantir uma máquina de propaganda que acoberte o horror crescente da busca pela ocupação total da terra prometida, do Mediterrâneo ao rio Jordão.
Enquanto vão sendo trocados os prisioneiros de parte a parte vemos o esboço do futuro conflito na manutenção parcial do bloqueio do norte de Gaza pelas tropas do Tahel, pela ampliação do arsenal de bombas de alta potência, pelo descanso e rodízio das tropas na região de Gaza. Mas o mais importante está ocorrendo em outro lugar, com a intensificação das agressões aos moradores palestinos da Cisjordânia, tanto por parte de autoridades como por civis organizados em milícias.
Desde que Israel ocupou a Cisjordânia depois da guerra dos seis dias, em 1967, a proporção de judeus e palestinos se inverteu e a maioria hoje está com os primeiros, com 700 mil colonos. Ainda existem cerca de 400 mil palestinos vivendo sob a administração israelense e sem quaisquer direitos, como cidadãos de segunda classe em um apartheid mais do que evidente.
Centenas de milhares foram sendo expulsos de suas casas e aldeias, ao longo destes 58 anos, e tiveram que emigrar para o Líbano, Síria ou … Gaza. Mas os números de palestinos habitando os territórios de Israel ainda são importantes. Por isso mesmo, o sionismo e a ampla maioria do eleitorado israelense não aceitam dar direitos iguais de cidadania aos palestinos habitantes tanto das terras cedidas ao tempo da criação do Estado de Israel, em 1947, como das posteriormente ocupadas em sucessivas guerras com os vizinhos.
A lógica é de simples matemática: desde a origem do Estado de Israel a maioria dos habitantes era de palestinos na quase totalidade dos territórios entregues pela ONU. Se todos tivessem direitos políticos iguais aos da população judaica teriam maioria no governo do novo Estado.
A resolução da ONU falava na criação de dois Estados (incluindo um palestino), mas não foi definido o destino dos habitantes não judeus nas terras concedidas. Mesmo com a forte migração de judeus para Israel e a ainda maior expulsão de palestinos, os números ainda falam contra o esforço de domínio étnico dos judeus. Com efeito, os estrategistas do sionismo nunca deixaram de apontar para o chamado “risco, ou ameaça, populacional”, representado pela maior taxa de fertilidade entre os palestinos.
A deliberação da ONU falava em dois Estados, mas apenas um foi criado em 1947. O problema é que os estados árabes votaram contra a resolução e foram seguidos pelos movimentos palestinos, muito menos organizados na época do que as organizações sionistas que tinham inclusive braços armados (e terroristas). Apenas em tempos muito mais recentes, nos acordos de Camp David, a Organização de Liberação da Palestina, a OLP, veio a admitir a criação dos dois estados, também aceitos pelo Egito, Jordânia e Líbano.
Mas o tempo passou e o arremedo de Estado de mentirinha em Gaza e na Cisjordânia, a segunda sob controle do governo de Israel, desmoralizou a proposta e fortaleceu o radicalismo do Hamas, do Hezbollah e uma infinidade de outras organizações menores, mas não menos extremistas e que propõe nada menos do que a eliminação do Estado de Israel e a retomada das terras ocupadas pelos sionistas. É outra limpeza étnica com sinal trocado.
4.
A pergunta aue não quer calar é: por que Benjamin Netaniahu aceitou a trégua, contra a posição dos chefes militares e dos serviços de inteligencia? Nem o objetivo real (limpeza étnica de Gaza) nem o declarado (destruição militar e política do Hamas) foram atingidos, embora os avanços tenham sido grandes. Por outro lado, muita gente considera que Netaniahu precisa da guerra para se manter no governo e este objetivo pessoal seria o que define o conflito. Sempre discordei dessa posição embora concorde que o presidente de Israel de fato necessite do estado bélico permanente para não ver seu governo ser derrubado no parlamento.
Alguns consideram que o fascista israelense obedeceu as ordens do fascista maior, o americano, que se elegeu afirmando que a guerra na Palestina acabaria antes da sua posse. Também não me parece uma análise razoável. Depois da posse, Donald Trump deu uma travada em toda a cooperação econômica e militar dos EUA em todo o mundo, com excessão de Israel, Egito e Jordânia.
Embora desconfie que ele carregue uma boa dose de antissemitismo visceral e que veja na colonia judaica nos EUA um suporte dos democratas, ele é certamente mais avesso aos palestinos e, sobretudo, os iranianos, com os quais já prometeu “acertar as contas”. Por outro lado, salvo em raros momentos e, de modo geral, bem curtos, nenhum dirigente israelense deu muita pelota para os eventuais arreganhos pacifistas de presidentes americanos. Apesar de protestos e pressões eventuais os gringos sempre acabam por apoiar o expansionismo israelense desde a fundação do Estado.
A explicação mais provável para a aceitação da trégua por Benjamin Netaniahu é a combinação de várias pressões, a maior delas a da opeinião pública em Israel, clamando pelo retorno dos sequestrados. Some-se a isso os “ultimatos” de Donald Trump e a pressão da opinião pública internacional, embora me pareçam fatores secundários. A tregua não atrapalha os planos de longo prazo do Tahel e do governo de Benjamin Netaniahu e tira o foco das operações de limpeza étnica na Cisjordânia.
Afinal, trocados os reféns, a guerra pode recomeçar por qualquer pretexto. O risco de queda do governo não se confirmou, apesar da saída do ministro da guerra ultradireitista. Enquanto durar a negociação os partidos de direita e até parte do centro apoiarão o governo e isto já estava negociado por Netaniahu antes dele se declarar pela trégua.
A derrota militar do “eixo da resistência” e o forte abalo representado pela matança dos líderes mais prestigiados e históricos do Hamas e do Hezbollah vai favorecer um acordo viável para o futuro?
Certamente não é o caso. Israel está longe do seu objetivo histórico: um território ocupado exclusivamente por judeus, do mediterrâneo ao Jordão. Admitindo que os movimentos palestinos não combatentes, como a OLP, venham a conseguir apoio da população para a criação de um Estado Palestino aceito pela ONU e pelo governo de Israel ficam por responder algumas questões cruciais: (i) que território seria esse? O Estado de mentirinha incluia Gaza e a Cisjordânia. A primeira está arrasada e a segunda ocupada em sua maior parte pelos colonos israelitas. Ambas estão ocupadas pelo Tahel. Não estou vendo o governo de Israel, mesmo um governo menos extremista do que o de Benjamin Netanyahu, retirando os colonos da Cisjordânia e o exército de Gaza. Se Trump arrancar à força um acordo do Egito e da Jordânia para receberem 2,4 milhões de moradores de Gaza ainda restarão algumas centenas de milhares na Cisjordânia e outros tantos no próprio território de Israel. No empurrão do êxodo de Gaza o resto vai ter o mesmo destino.
(ii) O que fazer com as minorias palestinas nos territórios israelenses? Se a limpeza étnica não for possível como vai ser conseguida uma solução institucional respeitando os direitos de todos os interessados? A proposta mais correta, teoricamente, seria a criação de um só Estado multiétnico palestino/judaico, com direitos iguais para todos em um regime democrático e laico. Há pelo menos um exemplo de aplicação com sucesso deste tipo de solução: o fim do regime de apartheid na África do Sul.
Há várias semelhanças (e muitas diferenças) entre os dois casos. Não houve limpeza étnica na África do Sul, mas criaram-se estados tampão de negros, sob controle das forças armadas brancas. O apartheid não é muito diferente do regime atual nos territórios ocupados e no próprio Estado de Israel. Como o Estado de Israel, o regime sulafricano teve que enfrentar uma oposição armada e não armada, a segunda mais ampla e eficiente do que a primeira. O ódio racial era um sentimento tão ou mais poderoso do que na Palestina, embora sem o componente religioso.
A diferença mais significativa entre os dois casos é capacidade da diáspora judaica de promover os interesses do Estado de Israel na arena inrterncional, enquanto o regime da África do Sul foi isolado politicamente em quase todo o mundo, com um boicote econômico altamente eficaz para convencer a elite branca a chegar a um acordo. Assim como no caso de Israel, o governo americano foi dos últimos a se engajar no movimento de mudança do regime da África do Sul. Como sempre, a diplomacia imperial via nestes regimes um baluarte dos seus interesses hegemônicos, tanto no Oriente Médio, como na África Austral.
A solução sul-africana se deu nos marcos da derrota dos extremistas dos dois lados e a ascensão de personagens políticos (Mandela e de Klerk) que tiveram, simultaneamente, um enorme pragmatismo para chegarem a um acordo e uma enorme capacidade de liderança para levar seus seguidores a aceitarem este acordo.
Estas condições estão muito longe de serem reproduzidas no presente e no futuro previsível do imbróglio Palestina/Israel. A guerra não acabou e não acabará tão cedo, independente o que vai acontecer em Gaza.
*Jean Marc von der Weid é ex-presidente da UNE (1969-71). Fundador da organização não governamental Agricultura Familiar e Agroecologia (ASTA).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA