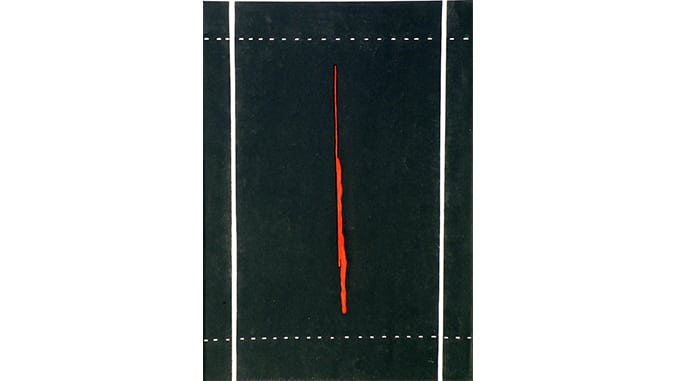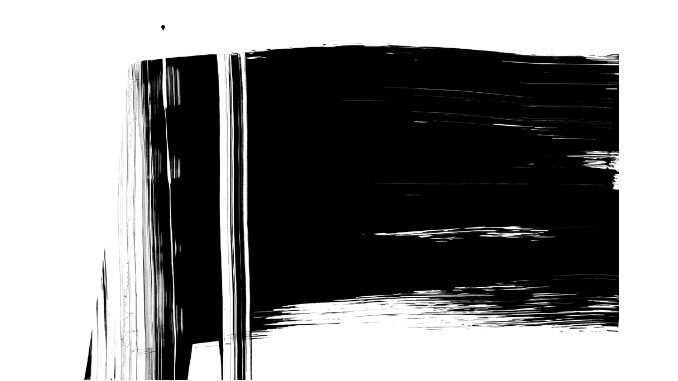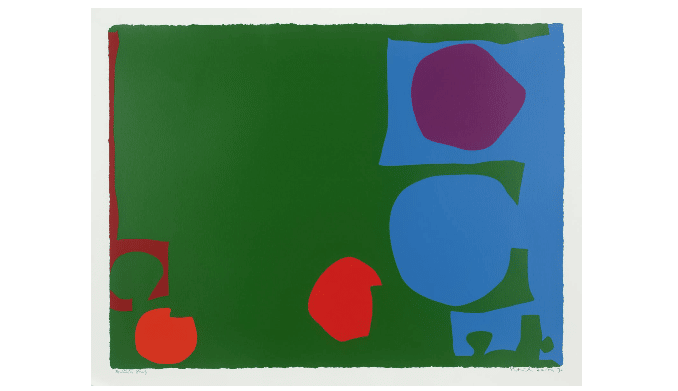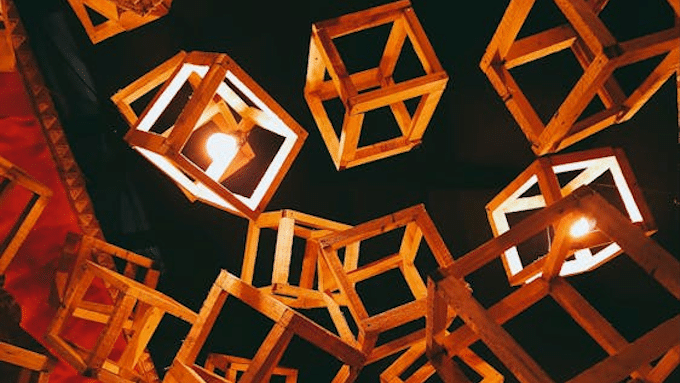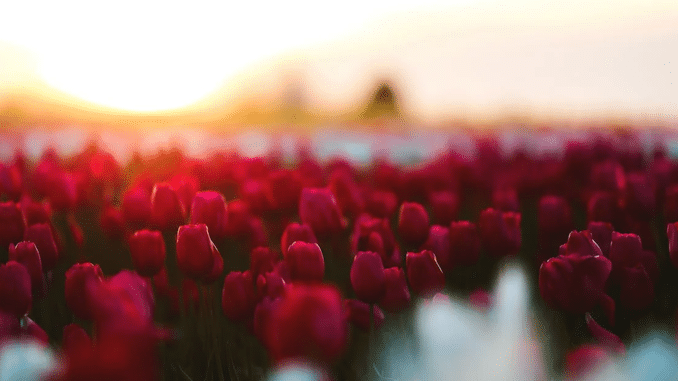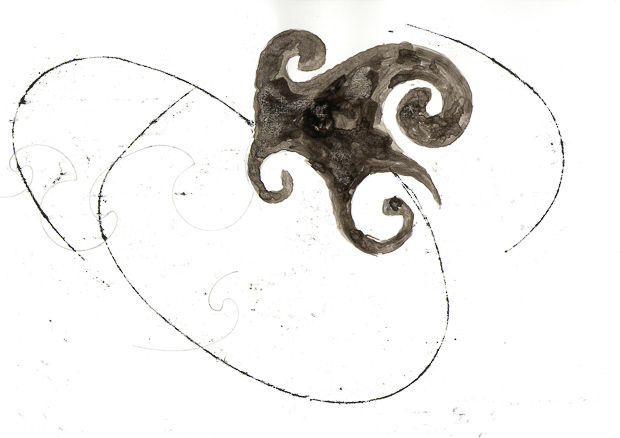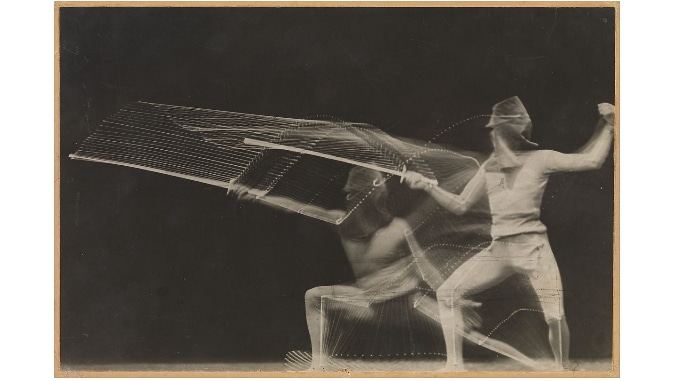Por SERGIO SCHARGEL*
Ideologia é um daqueles termos complicados de definir e que sofre extensivo debate nas ciências sociais dado sua polissemia. Não que se discorde de seu significado, é consenso que implica uma visão de mundo, um sistema de crenças, mas o dissenso gira em torno de sua extensão: até que ponto vai a ideologia? Em outras palavras: até que ponto vai esse filtro do real? Pode a ciência ser ideológica? E a arte?
Nesse ponto, há dois principais caminhos possíveis: (a) ideologia como sistema de crenças não científico, interpretação distorcida da realidade; (b) ideologia como fenômeno global, que abrange todas as esferas e não isenta nem mesmo a ciência ou a arte. Uma divisão que polarizou os estudos sobre ideologia desde que o termo apareceu pela primeira vez, empregado durante a Revolução Francesa.
Mas tomemos partido aqui da segunda interpretação. Não sem antes ressaltar que, claro, não estamos tirando qualquer valor objetivo da arte ou da ciência ao afirmar que estas também não estão imunes à ideologia – lembremos de todos os mecanismos que ambas desenvolveram para coibi-la –, apenas rechaçamos aqui a pretensão positivista de absolutização do real através do científico. Mas há um gênero artístico-literário em particular que lida de forma curiosa com a ideologia: a distopia.
Karl Mannheim, teórico que estudou o conservadorismo, percebeu a ligação da ideologia com a utopia em seu livro Utopia e ideologia. Paul Ricoeur, em seu livro homônimo, destrincha não apenas as posições de Mannheim, mas desenvolve a discussão ao atravessá-la por outros teóricos. Ambos percebem que a ideologia atua como mola propulsora para uma interpretação que sacraliza um possível, daí a utopia. Mas ambos ignoram o curioso aspecto contrário da ideologia: a sua visão sobre o lado oposto.
Veja bem, se a ideologia é responsável por sacralizar um sonho sob a forma de utopia, ela também se torna igualmente responsável por imaginar um pesadelo relacionado à ideologia oposta. Em outras palavras, a distopia se torna o meio literário por excelência para destilar ataques políticos. O futuro arrasado pelos outros, o possível futuro impossível, um pesadelo em que a ideologia oposta a do escritor é imaginada como totalitária, dominante, hegemônica.
Só que isso não é novidade. A distopia surge, historicamente, como um gênero literário por si só intrinsecamente político. Talvez o gênero mais político que há, ao menos junto da sátira. George Orwell, como sabemos, escreve 1984 e Revolução dos bichos para atacar o Stalinismo. Aldous Huxley é mais sutil em seu Admirável mundo novo, mas as inspirações políticas e sociais são também notáveis. Evgueni Zamiátin, com Nós, não falha em mesmo antecipar algumas das políticas do Stalinismo. Assim, como negar o caráter político de um gênero que nasce — e que se quer — ideológico?
O século XX trouxe violência o suficiente para alimentar a criatividade de uma geração de escritores pessimistas, em suas várias frentes. A distopia é apenas um desses vários efeitos. Um gênero hiperbólico que desenha verdadeiros pesadelos ficcionais como ferramenta para atacar pesadelos do real. Ao menos esta é sua origem, um método de criar violência estética para lutar contra a barbárie. Claro que, no século XXI, essa função foi deturpada.
Pois a distopia permanece como método de ataque sobre ideologias opostas, isto é imutável. Bernardo Kucinski mira no bolsonarismo e na ditadura militar quando escreve A nova ordem, Margaret Atwood no fundamentalismo cristão e na extrema-direita reacionária com O conto da aia e Os testamentos. Mas algo mudou, ou ao menos se tornou mais evidente: a distopia, ela também, foi capturada pela barbárie. Não é mais apenas ferramenta literária de luta, tentativa de alertar contra a destruição, mas de espalhá-la. Mais do que nunca, a disputa ideológica e política transbordou à distopia.
Isso porque começaram a se disseminar distopias da extrema-direita. Primeiro temos o já clássico de A revolta de Atlas, de Ayn Rand. Exemplos brasileiros também não faltam, ecoando velhos e conhecidos espantalhos como o “combate à corrupção” e o “comunismo”. O doutrinador é um exemplo, no qual um super-herói, versão pouco criativamente inspirada no Justiceiro, se dedica a chacinar políticos. Muito mais explícito, Destro imagina um Brasil completamente destroçado pelo domínio do comunismo. “A simples existência desta HQ já deve ser comemorada como histórica e pioneira no Brasil”, diz o site Terça Livre, de Allan dos Santos, investigado no inquérito das fake news.
O impulso ideológico sobre a distopia tampouco se limita aos escritores: o público responde em massa. Naturalmente, não se espera que o público leitor de A nova ordem seja formado por bolsonaristas ou simpatizantes, mas por aqueles que detestam o governo absurdo de Bolsonaro, distópico em si. Com a eleição de Donald Trump, 1984 voltou à lista dos livros mais vendidos nos EUA. Antes, com Barack Obama, fora a vez do livro de Rand. Conservadores escrevem sobre um futuro arruinado por liberais, liberais escrevem sobre um futuro arruinado por conservadores. E o público, disposto a qualquer câmara de eco que corrobore com sua ideologia política e demonize a oposta, migra conforme a distopia da vez.
A distopia imprime um ethos, acentuado em época de recessão democrática mundial: cada ideologia política passa a imaginar um futuro em que o grupo de oposição torna-se supremo e totalitário. O possível futuro impossível, a ideia de que o presente caminha à destruição, é a força motriz por trás da distopia. Rejeitando o preconceito, é possível se fazer boa literatura panfletária. Exemplos históricos não faltam. Mas também não faltam exemplos contemporâneos da literatura distópica sendo utilizada sem qualquer pretensão com a forma ou conteúdo, apenas como meio de ataque às ideologias opostas.
Sergio Schargel é doutorando em ciência política na UFF e em literatura brasileira na USP.