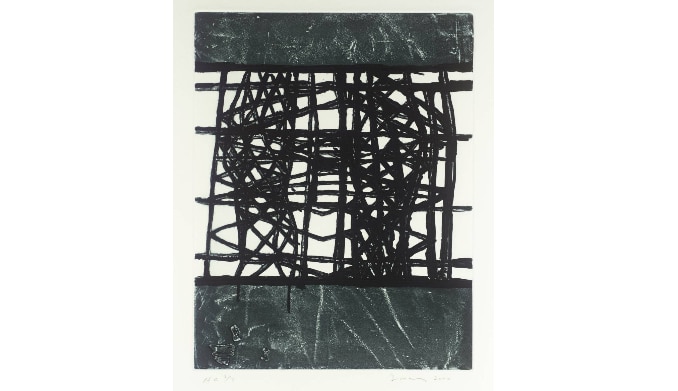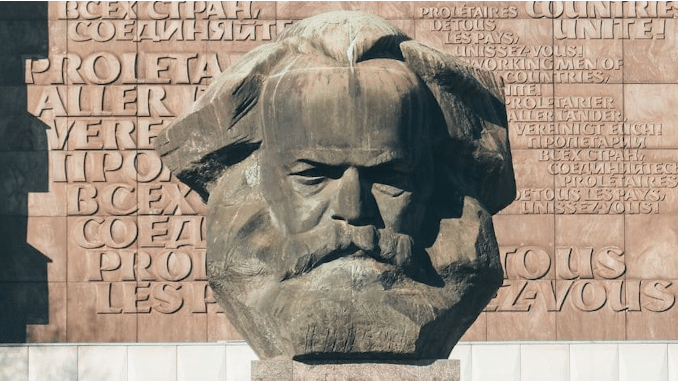Por MARCOS SILVA*
Comentário sobre o filme dirigido por Wagner Moura
Fazer um filme sobre um homem como Carlos Marighella é privilégio e risco: admirado por muitos, devido à corajosa luta contra a ditadura civil-militar de 1964/1985; hostilizado por outros tantos, que consideram aquela luta uma traição à pátria (assim confundida com a ditadura); tema de livros, filmes, canções e mais obras produzidas em diferentes linguagens. Ele é um problema para quem o aborda, grande personagem antes de o filme (ou qualquer modalidade artística e intelectual) surgir.
Wagner Moura, conhecido e respeitado ator, enfrentou esse desafio ao dirigir o filme Marighella, num momento em que o personagem, a luta armada e as esquerdas brasileiras em geral – ao menos desde a derrubada da Presidenta Dilma Roussef (2016) – recebem ataques e agressões vindos do governo e de seus apoiadores. E isso num mundo sem URSS nem bloco soviético, onde os países que ainda se declaram comunistas adotam medidas, na economia, de cunho similar às capitalistas.
É uma obra de arte e uma interferência política nessa nova ditadura nacional. Os boicotes governamentais, e até de setores da imprensa, que o filme sofreu, antes e depois de ser lançado comercialmente no Brasil, demonstram que os golpes críticos por ele desferidos atingiram seus alvos. Aquele governo e seus aliados continuam a tratar Carlos Marighella como “inimigo nº 1 do Brasil”.
Até a cor da pele do ator Seu Jorge, que encarna o personagem e reafirma sua identidade social (filho de uma mulher negra e um imigrante italiano, neto de escravos), foi usada por esses detratores para rejeitarem o filme, evidente racismo, sem referências similares à beleza facial do delegado Lúcio, calcado em Sérgio Fleury, interpretado por Bruno Gagliasso… Atores representam também, ou quase sempre, o que não são em suas vidas pessoais! A cor de Seu Jorge, nesse filme, é uma crítica à prática de black-face (atores brancos com rosto pintado para representarem personagens pretos).
A escolha de Gagliasso para aquele papel rechaça a bela aparência (que Fleury, modelo de Lúcio, não possuía) como suposta prova de correção ou inocência. O documentário Cidadão Boilesen, de Chaim Litewski, de 2009, já fizera a mesma crítica a seu personagem central, famoso também pela imponência física (houve quem o considerasse tão belo quanto o ator norte-americano Kirk Douglas…) e associado a torturas e práticas correlatas da OBAN (Operação Bandeirantes, entidade de informações e violento combate aos adversários da ditadura de 1964/1985).
Outra estratégia de Wagner, como diretor e co-roteirista do filme, foi atribuir a alguns personagens os prenomes dos atores que os interpretam: Humberto Carrão é Humberto; Bella Camero aparece como Bella; Guilherme Ferraz dá voz a Guilherme; Henrique Vieira é o frei Henrique, aliado de Marighella e da ALN (Ação Libertadora Nacional), o grupo dissidente do Partido Comunista Brasileiro que Carlos criou, junto com outros comunistas, ao discordarem da direção partidária no que diz respeito às atitudes do PCB diante da ditadura. Assim, parte do elenco mescla ainda mais intensamente sua História pessoal ao perfil dos personagens que interpretam, explicitam nesses seres parte de suas identidades.
A obra se inicia e se encerra com a imagem do filho de Marighella, homônimo do pai, flutuando no mar, metáfora de sobrevivência, continuidade e infinitude do líder comunista e de seus projetos políticos, além de definição dos críticos da ditadura que vieram depois dele (muitos dos espectadores dessa obra) como seus filhos virtuais.
Algumas informações básicas sobre aquela experiência ditatorial (duração, violência governamental contra opositores, luta armada promovida por setores que a ela se opunham) aparecem em legendas, complementadas por imagens de ruas ocupadas por tanques de guerra, outros veículos bélicos, tropas – índices de uma ditadura vista apenas como militar, o que é frequente em muitos filmes, na imprensa e mesmo em estudos de especialistas, que silenciam responsabilidades de civis (empresários, artistas, juristas, economistas e outros setores sociais de elite) por aquela barbárie.
Marighella aparece a criticar a direção do Partido Comunista Brasileiro (designada como covarde), a defender a luta armada contra a ditadura, mas também em seu cotidiano pessoal, a lavar louças com a mulher (Clara Charf), fazendo piadas com amigos, na vida clandestina de militante contra aquele governo, definido, numa fala de Carlos, como exemplo de regimes que matam pessoas. Clara, militante comunista, interpretada pela atriz Adriana Esteves, finda reduzida a apêndice ilustrativo e pessoal de Carlos.
Surgem armas escondidas pelos militantes de esquerda, inclusive numa igreja católica. Policiais, em contrapartida, matam seres humanos pelas costas, gesto de covardia, como era prática do Esquadrão da morte, envolvido com tráfico de drogas e práticas similares. Comunistas realizam expropriações em bancos, o próprio Marighella discursa num desses atos, explicando didaticamente o que faziam como sendo uma “retomada” de valores monetários que os mesmos bancos e outras empresas (quer dizer: o capitalismo) extorquiam de pobres. Em suma: isso não é banditismo nem filme de ação (embora Moura use recursos de linguagem desse gênero cinematográfico), é um fazer político antiditatorial e anticapitalista.
A expropriação é caracterizada por tensão, troca de tiros com seguranças e soldados, mortes e ferimentos dos dois lados. Representantes da repressão governamental aparecem a dialogar com personagens que falam inglês (referência ao patrocínio norte-americano da ditadura), é anunciada a estratégia de “quebrar a alma” dos oponentes que enfrentam. O delegado Lúcio afirma que o povo está do lado do governo, profissão de fé sem fundamento. Se esse apoio existisse, para que seria necessária uma ditadura?
Em contrapartida, Marighella, ao ser indagado por um jornalista francês se era maoísta, trotskista ou leninista, responde: “Eu sou brasileiro!”. Isso pode ser uma sutil denúncia do poder imperialista, mas também se aproxima de isentar empresários nacionais de poder na ditadura. Onde estão aqueles associados à violência ditatorial, que a projetaram e garantiram?
Carlos aparece, em diferentes momentos da narração, a ver pequena fotografia do filho jovem, que morava com a mãe em Salvador, BA, imagem de afeto e dor pelo distanciamento que sua militância impunha.
Há um clima de morte da política (busca da felicidade individual e coletiva, do bem comum, da justiça, segundo Aristóteles, na obra Política), assassinada pela ditadura, e os militantes de esquerda lutam contra esse crime, combate que ultrapassa suas pessoas, na recuperação daquela busca. A repetição da frase “A gente não vai parar”, pronunciada três vezes consecutivamente por Marighella, evidencia essa vontade de vida, contraste com o triste desfecho que os espectadores já conhecem.
O filme de Wagner Moura traz a luta armada desses homens e mulheres de esquerda como um problema, não uma solução: que é lutar contra uma ditadura? Existe um quase silêncio da obra sobre a população brasileira pobre, pela qual tais comunistas lutavam, índice de certo isolamento dessa vanguarda política em relação àqueles que defendiam. Conquistas momentâneas de tais combatentes de esquerda (transmissão radiofônica clandestina, sequestro do embaixador estadunidense no Rio de Janeiro) não eliminam o tom narrativo de marcha para a derrota diante da ditadura, que os espectadores sabem ter ocorrido tragicamente.
A repressão ditatorial, por sua vez, aparece sob o signo de crueldades contra os mais fracos, que são agredidos física e psicologicamente, humilhados em cenas de violência explícita, marcadas por sangue e dejetos. O delegado Lúcio, que encarna as funções de Sérgio Fleury, parece sentir prazer diante de um homem sem poder físico para o enfrentar e que, apavorado, sofre uma crise de incontinência urinária. E aqueles sadismos obedecem a uma lógica política de extermínio dos opositores e maior exploração dos trabalhadores.
Há um cotidiano de dificuldades e sofrimentos, mais visível em relação aos próprios militantes (os pobres quase somem, exceto pelos vínculos com alguns dos comunistas), enfrentado com frases de esperança como “Vai dar tudo certo”, enquanto nada indica esse final feliz. A narrativa apresenta um crescente sentimento de derrota desses lutadores políticos, face visivelmente entristecida de Marighella, declaração de falta de estrutura para enfrentar um poderoso e violento inimigo, cenas de horror explícito (chutes de repressores em pessoas já subjugadas), torturas, assassinatos pelos representantes do governo.
As relações dos militantes de esquerda com a Igreja Católica e alguns de seus sacerdotes se aproximam de uma identidade daqueles homens e mulheres com o martírio cristão, quase uma narrativa hagiográfica, Paixão de Cristo vivida por tantos e tantas, o que já se manifestara antes, dentre outros exemplos, no filme Batismo de sangue, de Helvécio Ratton, de 2007, também dedicado à trajetória final de Marighella e àqueles contatos.
A morte de Carlos é caracterizada como armadilha e linchamento praticados pelos agentes da ditadura, seguidos pela mentira de Lúcio em seu relato sobre o sucedido, que encena uma imaginária e inexistente “legítima defesa” dos assassinos.
Mas a luta continua no filme: os que morreram como militantes (exceto o próprio Carlos) reaparecem, no desfecho, a cantar entusiasticamente o Hino Nacional Brasileiro; eles são apresentados como o Brasil verdadeiro, patriótico, o avesso daqueles criminosos golpistas, torturadores e assassinos. Há uma espécie de recuperação do civismo (“Eu sou brasileiro!”, resposta de Marighella ao jornalista francês) pelos que lutaram contra uma ditadura também capaz de se exibir a cantar o Hino Nacional e que até se proclamava “revolução”. Vale a pena esse recuperar? O golpe contra Dilma Roussef, em 2016, e os governos que a ele se sucederam usaram e usam um civismo ornamental e mentiroso. Quem o critica deve cantar aquele mesmo Hino? É correto deixar o Hino apenas nas vozes dos assassinos da Política? Mas a mesma política, nessa cena, renasce, Fênix diante da ditadura, conquista da arte.
O filme de Wagner Moura é uma narrativa envolvente, que comove com um bom elenco (muitos nomes conhecidos através de novelas da Rede Globo, que tem ligação com a produção da obra, via Globo Filmes), oportuno no plano político, dependente de alguns conhecimentos prévios, pelo público, sobre o personagem principal e seu entorno, inclusive os inimigos. Espectadores jovens comentam que nunca tinham ouvido, antes do filme, referências a Marighella em aulas de história, o que demonstra o limite do ensino escolar e as potencialidades da cultura histórica informal para o aprendizado de novas gerações.
Sem a ousadia artística e interpretativa de outros filmes brasileiros sobre a ditadura de 1964/1985, concebidos em momentos artísticos e políticos diferentes (Terra em transe, de Glauber Rocha, 1967; Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, 1981; Nunca fomos tão felizes, de Murilo Salles, 1984; Cidadão Boilesen, de Chaim Litewski, 2009), Marighella é um ato de coragem política e cálculo também de mercado, que consegue atingir públicos diversificados, inclusive via pirataria na internet, antes de seu bem sucedido lançamento em salas de cinema.
Diante da ditadura de 2016/hoje, tempo em que negacionismos renomeiam a ditadura de 1964/1984 com amenidades como “regime militar” ou “período de exceção”, quando o filme foi concluído (2019) e lançado comercialmente (2021), ele representa bons resultados críticos, reconhecidos indiretamente pela fúria dos criticados e pela recepção favorável de um público que reflete sobre seu universo.
*Marcos Silva é professor titular no Departamento de História da FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de Ditadura relativa e negacionismos: Brasil, 1964 (2016,2018…) (Ed. Maria Antônia).
Referência
Marighella.
Brasil, 2019 (lançado em 2021), 155 minutos.
Direção: Wagner Moura.
Roteiro: Felipe Braga, Mário Magalhães e Wagner Moura.
Argumento: baseado no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mario Magalhães.
Fotografia: Adrian Teijido.
Montagem: Lucas Gonzaga.
Elenco: Seu Jorge, Bruno Gagliasso, Adriana Esteves, Herson Caprie.