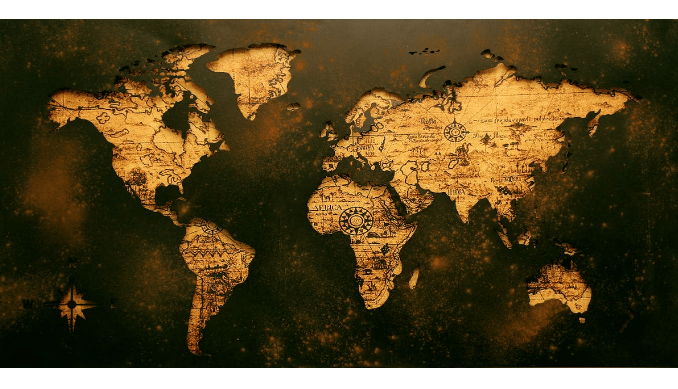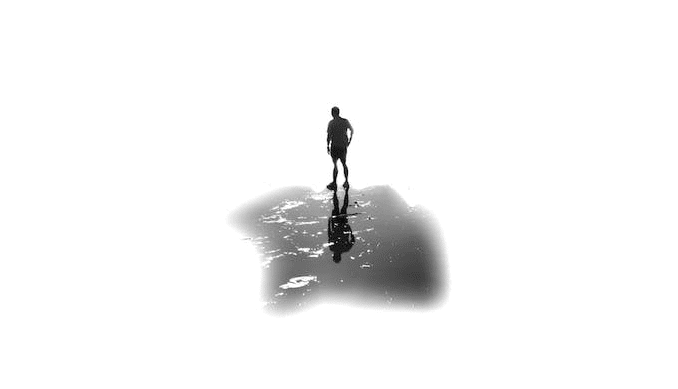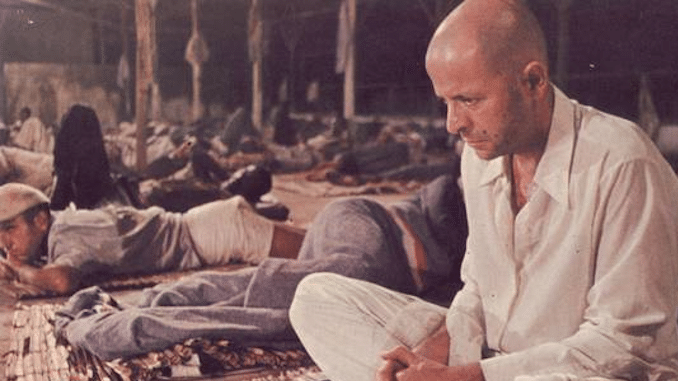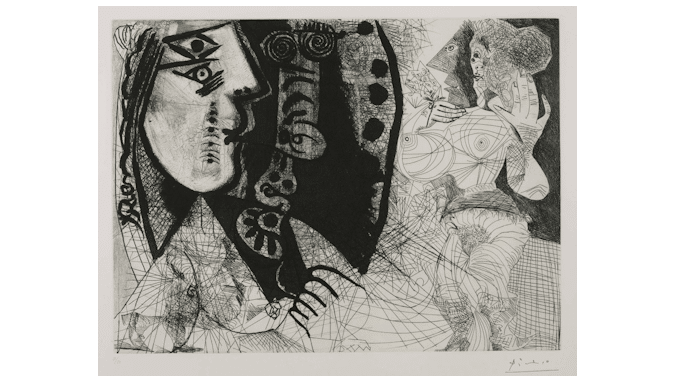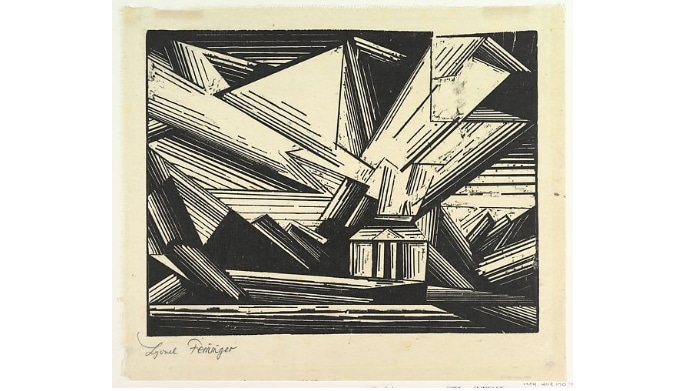Por HENRIQUE AMORIM & GUILHERME HENRIQUE GUILHERME*
A indicação de um capitalismo industrial de plataforma, em vez de ser uma tentativa de introduzir um novo conceito ou noção, visa, na prática, apontar o que está sendo reproduzido, mesmo que de forma renovada
1.
A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na produção e na vida cotidiana deu origem a teorias, sobretudo nos anos 1980 e 1990, que sugeriram que o “antigo” capitalismo industrial teria se transformado em uma sociedade pós-industrial. Nessa nova sociedade, as contradições inerentes ao capitalismo teriam se deslocado da produção e do trabalho para outras lugares da vida social.
Essa ideia está baseada em dois pressupostos equivocados: O primeiro deles considera a indústria como um simples sinônimo de fábrica, o que levou um conjunto de autores[i] à conclusão de que o capitalismo teria superado a produção fabril e, portanto, trabalho e classe trabalhadora teriam perdido sua importância política e social.
O segundo equívoco está em uma compreensão limitada, e muito presente entre os economistas, de que industrial seria sinônimo de setor secundário. Com base na divisão por setores da economia, setor primário (agricultura), o secundário (indústria) e o terciário (serviços), a indústria seria restringida à produção fabril.
A perspectiva pós-industrial pode ser confrontada, primeiro, partindo das referências de Karl Marx sobre as formas iniciais de indústria capitalista no campo, o que discutiu no capítulo “A Assim Chamada Acumulação Primitiva” de O capital. Além disso, em outro momento dessa obra, quando Marx discute as metamorfoses e o ciclo do capital, vemos que o capital, considerado pelo autor em seu ciclo global como capital industrial, recebe essa denominação justamente para sinalizar que a forma industrial “abarca todo ramo da produção conduzido de modo capitalista.” (Marx, 1985, p. 41).[ii]
A partir dessa premissa conceitual, podemos compreender que indústria vai além de fábricas ou setores econômicos específicos: industrial é uma forma de produção. Mais ainda do que isso, industrial é a forma central da produção das e nas sociedades capitalistas.
2.
A segunda confrontação contra a perspectiva pós-industrial pode ser feita quando se observa a presença das formas estruturais de organização da produção capitalista ao longo da história. Com base na divisão em classes sociais, a cooperação capitalista dá origem a forma histórica capitalista de organização do trabalho. É sob a cooperação capitalista que a divisão social do trabalho especificamente capitalista é organizada: baseada no trabalho social combinado sob o comando do capitalista.
As plataformas digitais tanto reproduzem quanto expandem essa forma. Nesse contexto, o processo de externalização produtiva se aprofunda, impulsionado pela introdução dessa nova força produtiva ou das plataformas digitais como uma “nova maquinaria”. O trabalhador coletivo, renovado sob os princípios da cooperação capitalista, reproduz a estrutura industrial-cooperativa enquanto tem aprofundada a subordinação ao capital, incorporando antigas e novas práticas de gestão do trabalho.
A exploração do trabalhador coletivo é fortalecida, com isso, à medida que o trabalho socialmente combinado é reorganizado no espaço e no tempo. O velho trabalho por peça assume atualmente uma nova forma (Casilli, 2020; Gray; Suri, 2017) em uma ampla gama de atividades: treinamento de sistemas de Inteligência Artificial (Le Ludec et al, 2023); moderação de conteúdo de mídia social; serviços de transporte e entrega de alimentos baseados em aplicativos (Amorim & Moda, 2021); e atividades como a geração de seguidores para influenciadores e produção de desinformação (Grohmann; Corpus Ong, 2024).
Essa radicalização da indústria é desenvolvida simultaneamente com a dispersão do trabalho (Harvey, 1992) em um duplo sentido: primeiro, há uma fragmentação mais profunda do trabalho (divisão em tarefas menores, microtarefas, padronização, scripts); e segundo, há uma manutenção do controle sobre o trabalhador coletivo por meio da internet, das TICs, dados e algoritmos como mecanismos para articular esta dispersão dos trabalhadores/as e de tarefas menores, configurando uma nova combinação entre trabalhos cada vez mais subdivididos.
A produção industrial contemporânea, com os processos de externalização da produção (terceirizações, deslocamentos globais de processos produtivos e, mais recentemente, com a plataformização) mantiveram o controle e centralizaram ainda mais o poder sobre o trabalho, mantendo relações hierárquicas com empresas subcontratadas e, agora, com trabalhadores de plataforma.
Impõem-se, com isso, demandas rigorosas tanto para a qualidade quanto para a quantidade de mercadorias produzidas ou mercadorias e passageiros entregues, muitas vezes com prazos mais curtos e menos previsíveis. Essa disposição permitiu às empresas contratantes a expansão de suas margens de lucro, ao mesmo tempo em que reduziu progressivamente a quantidade de trabalho realizado dentro de suas próprias instalações (Chan, Pun e Selden, 2019).
Este processo reflete apenas a ponta do iceberg, a manifestação mais recente da acumulação flexível (Harvey, 1992), que é caracterizada pela flexibilização produtiva, aumento do desemprego e gestão do trabalho e dos trabalhadores por meio de mecanismos de participação e autoresponsabilização. Assim, a externalização ocorre em múltiplas dimensões: dentro das empresas, impactando as práticas de contratação, salários e horas de trabalho; e em suas relações externas, por meio da terceirização extensiva em níveis nacional e global (Tomasina, 2012).
3.
O capitalismo industrial de plataforma[iii] é sustentado por estruturas que permanecem ‘ocultas’, escondidas debaixo de uma narrativa que posiciona as plataformas digitais e as tecnologias como únicas alternativas ao desenvolvimento social[iv]. A externalização dos processos produtivos é a forma fragmentária e anterior do que agora são conhecidas como plataformas digitais.
A combinação de tecnologias, mundialização financeira e políticas neoliberais permitiu que o capitalismo descentralizasse e dispersasse ainda mais a produção e o trabalho. Por meio desses mecanismos, o capital expandiu as práticas de externalização e corte de custos, impulsionadas pela plataformização do trabalho e pela erosão sistemática dos direitos trabalhistas.
Além disso, o capitalismo industrial de plataforma está se assentando sobre a divisão internacional do trabalho, que molda a organização socioeconômica específica de cada região e influencia sua relação com a (des)proteção trabalhista e com o grau de precariedade locais. Isso quer dizer que, embora as plataformas digitais estejam baseadas em modelos semelhantes em diversos locais do mundo, elas exploram a forma como os mercados de trabalho estão historicamente estruturados dentro de cada formação social, com suas fragilidades e desigualdades sociais específicas, resultando na criação de uma geopolítica de exploração do trabalho em plataformas (Abílio, Amorim, Grohmann, 2021).
Ao pressupor tais fragilidades e desigualdades sociais[v], o capitalismo industrial de plataforma cria a aparência de um autômato tecnológico eficaz e eficiente, a ponta do iceberg, mas que está assentada em uma base de desigualdades, fragilidades sociais e jurídicas que cristalizam processos históricos de informalização e precarização do trabalho.
Dito de forma simplificada: nenhum trabalhador se submeteria a transportar pessoas via aplicativo, de um lado ao outro, 14h por dia, se houvesse alternativas de trabalho e emprego mais dignas ou se as empresas de aplicativo, ao serem obrigadas legalmente, remunerassem esses trabalhadores por todo o tempo em que se encontram à disposição das plataformas.
Como mencionamos, as plataformas digitais carregam as marcas estruturais dos processos de acumulação flexível e externalização, sendo uma síntese desses processos. À medida que a lógica da plataforma se espraia, ela renova relações sociais de exploração historicamente cristalizadas desde a colonização e a Revolução Industrial. Alguns, nessa relação, são responsáveis por fornecer as matérias-primas necessárias para construir as infraestruturas das plataformas; outros por fornecer dados para análise de Big Data; ou ainda por recrutar e organizar trabalhadores para microtarefas e treinamento de Inteligência Artificial.
Se há, nesse sentido, uma diversidade de capitalismos de plataforma no mundo, como propõem alguns autores[vi], essa diversidade é moldada pela mesma diversidade que marcou a gênese e a formação da produção industrial capitalista.[vii]
Ao enfatizar o aspecto industrial do capitalismo contemporâneo, desejamos, portanto, nos distanciar do seleto grupo daqueles que apenas sublinham as novidades das transformações produtivas e secundarizam seus elementos de permanência. Em um contexto em que as transformações são cada vez mais céleres, enfatizar o que se reproduz no aparentemente novo parece ser um bom caminho para a análise crítica da produção capitalista contemporânea na qual as plataformas digitais são peças centrais.
Em outras palavras, a ideia de um capitalismo industrial de plataforma, se assim podemos sintetizar, não opera em sintonia com noções aparentemente semelhantes, como por exemplo, as de “sociedade do cansaço”, “capitalismo de vigilância” ou de “capitalismo cognitivo”. Pelo contrário, ela procura ressaltar os aspectos centrais (e constantes) da produção capitalista mistificados por uma estrutura tecnológica fetichizada.
A indicação de um capitalismo industrial de plataforma, em vez de ser uma tentativa de introduzir um novo conceito ou noção, visa, na prática, apontar o que está sendo reproduzido, mesmo que de forma renovada. Com isso, a análise das plataformas digitais ganha complexidade na medida em que se apresenta como a parte mais visível de um longo e recentemente acelerado processo de externalização dos custos produtivos que aprofunda a forma industrial da produção capitalista.
*Henrique Amorim é professor de Sociologia na Unifesp.
*Guilherme Henrique Guilherme é doutorando em Ciências Sociais na Unifesp.
Referências
Abílio, L. C. (2021) Uberização: Manicures, motoboys e a gestão da sobrevivência. In: MARQUES, Léa (ed.) Trajetórias da informalidade no Brasil contemporâneo. São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2021. 173-191.
Abílio, L. C., Amorim, H., & Grohmann, R. (2021). Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: Conceitos, processos e formas. Sociologias, 23, 26–56. https://doi.org/10.1590/15174522-116484
Amorim, H; Cardoso, A; Bridi, M. (2022) Capitalismo Industrial de Plataforma: externalizações, sínteses e resistências. Caderno CRH, v. 35, p. 1-15, 2022.
Amorim, H., Moda, F. (2021). Trabalho por Aplicativo: uma síntese da intensificação do trabalho, da informalidade e da resistência política no contexto da Pandemia de COVID-19. Revista Trabalho, Política e Sociedade 6:105–24. doi: https://doi.org/10.29404/rtps-v6i10.834.
BELL, Daniel. O Advento da Sociedade Pós-Industrial: uma tentativa de previsão social. São Paulo: Cultrix, 1973.
Casilli, A. (2020) From the virtual class to the click workers: The transformation of work into service in the era of digital platforms. MATRIZes, 14(1), Article 1. https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v14i1p13-21
Castells, Manuel. 1999 A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra.
Chan, J., N. Pun, M. Selden. (2019) A política da produção global: Apple, Foxconn e a nova classe trabalhadora chinesa. Antunes, R (ed.) Riqueza e miséria do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. São Paulo: Boitempo.
Gorz, A (1982) Farewell to the Working Class. An Essay on Post-Industrial Socialism. Pluto Press.
Gray, M. L., Suri, S. (2017). The Humans Working Behind the AI Curtain. Harvard Business Review. https://hbr.org/2017/01/the-humans-working-behind-the-ai-curtain
Grohmann, R., Qiu, J. (2020). Contextualizando o Trabalho em Plataformas. Contracampo, 39(1). https://doi.org/10.22409/contracampo.v39i1.42260
HABERMAS, Jünger. Teoria de la Accion Comunicativa. Madrid: Taurus, 1987.
Harvey, D. (1992) Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Editora Loyola.
Inglehart, Ronald. 1977 The silent revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Le Ludec, C., Cornet, M., & Casilli, A. A. (2023). The problem with annotation. Human labour and outsourcing between France and Madagascar. Big Data & Society, 10 (2). https://doi.org/10.1177/20539517231188723
Marx, K (1985) O Capital: Crítica da Economia Política, Volume II, Livro Segundo. São Paulo: Nova Cultural
Steinberg, M., Zhang, L., & Mukherjee, R. (2024). Platform capitalisms and platform cultures. International Journal of Cultural Studies, 1-9
Steinberg, M. (2022). From Automobile Capitalism to Platform Capitalism: Toyotism as a prehistory of digital platforms. Organization Studies, 43(7), 1069–1090. https://doi.org/10.1177/01708406211030681
Surie, A., Sharma, L. V. (2019). Climate change, Agrarian distress, and the role of digital labour markets: Evidence from Bengaluru, Karnataka. DECISION, 46(2), 127–138. https://doi.org/10.1007/s40622-019-00213-w
Tomasina, F (2012) Los problemas en el mundo del trabajo y su impacto en salud. Crisis financiera actual. Rev. Salud Pública, 14, 56-67.
Touraine, Alain. 1970 Sociedade pós-industrial. Lisboa: Moraes Editores.
Notas
[i] É possível indicar como representantes dessa perspectiva, cada um ao seu modo, por exemplo, (BELL, 1973); (CASTELLS, 1999); (GORZ, 1982); (HABERMAS, 1987); (INGLEHART, 1977); e (TOURAINE, 1969).
[ii] Autores como os operarístas italianos trabalharam a ideia da expansão da fábrica, apontando para o conceito de “fábrica social”. Percebemos, no entanto, que há uma intensificação da produção industrial capitalista, seja ela material ou imaterial, tangível ou intangível, de produtos ou de serviços. Mais do que isso, essa intensificação da lógica industrial de produção está presente de forma renovada nas plataformas digitais de trabalho.
[iii] A ideia de Capitalismo Industrial de Plataforma aparece pela primeira vez em: Amorim; Cardoso e Bridi (2022).
[iv] Steinberg (2022) fornece um contraponto convincente a essas teses, rastreando as origens das plataformas digitais até a indústria automobilística, particularmente o Sistema de Produção da Toyota.
[v] Abílio (2021), por exemplo, destaca como as características de precariedade prevalentes em empregos tradicionalmente dominados por mulheres estão sendo extrapoladas para o trabalho baseado em plataformas.
[vi] Steinberg et al (2024) propõem uma leitura plural para abordar de forma abrangente os múltiplos efeitos da plataformização e descentralizar o “Ocidente” nas discussões sobre plataformas. Eles destacam que as análises centradas na Europa e nos EUA não consideram os diferentes papéis dos Estados em relação às plataformas. Focando na Ásia, eles destacam a plataformização liderada pelo Estado e as relações variadas entre Estado, mercado e plataformas. Nesse sentido, a teoria, para esses autores, deveria refletir a diversidade dos “capitalismos de plataforma realmente existentes”.
[vii] Um exemplo de como esse debate pode tomar forma é a discussão em torno do “Gig Work”, na qual se destaca que para a maioria dos trabalhadores do Sul Global o “gig” é parte estruturante dos mercados de trabalho, muito antes do advento das plataformas (Grohmann e Qiu 2020; Abílio 2021; Surie e Sharma 2019).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA