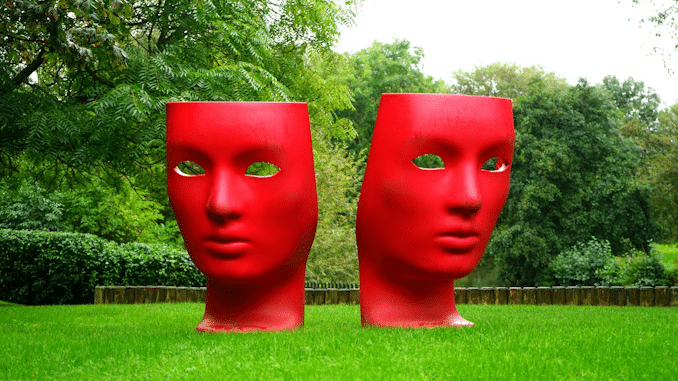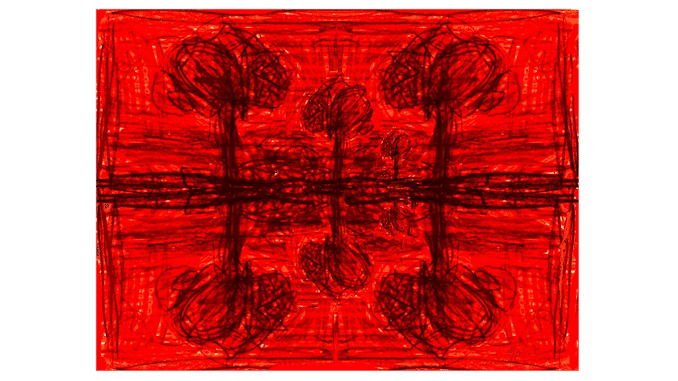Por LUIZ MARQUES*
Nunca um voto decidiu tamanha relevância como o que será depositado nas urnas eletrônicas nas eleições deste ano
A démarche autoritária no Brasil
As próximas eleições acontecerão no contexto de uma crise sem precedentes da democracia, pela extensão e profundidade em escala internacional e nacional. Uma passada de olhos sobre alguns dos pré-candidatos à presidência, que se digladiarão no histórico divisor, é o suficiente para entender o avançado grau de deterioração do regime democrático, entre nós.
Na política, o prócer do continuísmo (Bolsonaro) e o postulante que se oculta em uma fictícia “terceira via” (Moro) comungam o mesmo credo neoliberal, logo, anticivilizacional. “Paulo Guedes é o melhor quadro desse governo”, finca o magistrado que desonrou a toga e, por conseguinte, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como incompetente e suspeito. Na economia, ambos compartilham um idêntico pendor para o fascismo, por definição, também anticivilizacional. O ex-ministro da Justiça (ops), quando no medíocre exercício do cargo, pretendia legalizar a “lei de excludente de ilicitude”. Uma licença para que as autoridades armadas pudessem matar a rodo, sob a alegação de uma “forte emoção”.
O então funcionário do desgoverno da brutalidade buscava uma autorização legal para que os policiais atirassem primeiro e perguntassem depois, com total impunidade. O “monopólio da violência física legítima pelo Estado”, teorizado por Max Weber há um século, não deveria ser fiscalizado pela sociedade e sequer interna corporis por agentes do policiamento ostensivo. Concepção que se estende ao “orçamento secreto” no Congresso e ao “ministério paralelo” nos porões do Palácio do Planalto, à revelia das incumbências republicanas. O resgate da prisão em segunda instância visou limpar as manchas escuras na biografia do chefe da Lava Jato, o que não logrou. Em paralelo, o mandatário com base em decretos sob medida facilitava o acesso a armas pelas milícias. Escolher entre os fardos é como optar entre uma Pepsi e uma Coca-Cola. Na dúvida do ruim ou do pior, melhor cruzar os braços.
“O nome desse processo é criminalização da pobreza, verdadeira consagração do racismo institucionalizado”, nas certeiras palavras de Luiz Eduardo Soares, em Bala Perdida: a Violência Policial no Brasil e os Desafios para sua Superação (Boitempo & Carta Maior). Não espanta que setores do Centrão, para coroar a barbárie proposta ao país, articulem uma chapa para concorrer à administração estadual em São Paulo com a mentora do pedido de impeachment, a deputada Janaína Paschoal e o ministro da Infraestrura Tarcísio Freitas. Vade retro. A possível vitória de Lula da Silva no primeiro turno da votação presidencial lançará Bolsonaro e Moro na lata de lixo dos embustes, vitaminando o hercúleo esforço de reinvenção da democracia para barrar a démarche do obscurantismo e do autoritarismo. O eleitorado brasileiro, assim, se afastaria da síndrome da República de Weimar, período em que as pessoas acreditavam em curar doenças com queijo cottage (hoje, cloroquina) e fazer ouro com metais comuns (hoje, camisas da CBF). Falsos messias manipulam o desespero.
Sofrimento, liberdade e paz civil
O cientista político polonês, radicado nos Estados Unidos, Adam Przeworski, lançou em 2019 um livro de imediato traduzido para o português, Crises da democracia (Zahar). Nele, encontra-se uma conceituação bastante sintética de democracia. A saber, “um regime em que os ocupantes do governo perdem eleições e vão embora quando perdem” (p. 29). Trata-se de uma conceituação “minimalista e eleitoral” sobre o metabolismo formal dos órgãos da institucionalidade, independente da substância das demandas concretas em tela. Interessa, no caso, a eficiência procedimental à la Touraine na institucionalização dos conflitos na sociedade. Importa o ritual da processualidade para que atritos disruptivos não emperrem a governabilidade em um ambiente sistêmico de liberdade, quiçá para exprimir a falta da liberdade e paz civil, quiçá para padecer de fome, desemprego e precarização – sem declarar guerra aos opressores. O truque é isolar as instituições numa bolha, longe da crua realidade.
De qualquer modo, a definição minimalista e eleitoral contempla a percepção dos membros do Judiciário e da maioria tradicional no Parlamento, numa democracia de tipo liberal. Isto é, capaz de fazer uso da repressão para assegurar a “ordem social” contra os manifestantes nas ruas. Inclusive nas situações em que aqueles se rebelam na intenção de denunciar uma dinâmica, acionada pelas elites econômicas, para violar a soberania popular e enfraquecer o Estado de Direito. O alerta foi feito pelo Grupo de Puebla[i], reunido no México em 29, 30 e 1° de dezembro. O pretexto de que “as instituições estão funcionando” serve de cortina de fumaça para esconder articulações espúrias. Não raro, para sufocar e calar manu militari os insurgentes. Cenário sombrio que a América Latina já sofreu e enfrentou com destemor.
Przeworski não se surpreende com a ascensão da extrema-direita internacionalmente. “A persistência da desigualdade é uma prova irrefutável de que as instituições representativas não funcionam, pelo menos não como quase todo mundo acha que deveriam” (p. 13). Uma circunstância agravada após a emblemática década de 1980. Decênio “perdido” sob o viés do crescimento econômico e do Produto Interno Bruto (PIB) dos países que foram seduzidos e/ou chantageados pelos dez mandamentos do Consenso de Washington, na tentativa de conseguir empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial.
Decênio “vencedor” no viés do neoliberalismo e das finanças, que tiveram as portas abertas para uma duradoura marcha triunfal. A qual prossegue apesar da débâcle imobiliária que arruinou o que parecia sólido nos Estados Unidos, com destaque para as duas mil pequenas instituições bancárias que fecharam. As irresponsáveis desregulamentações liberistas dos mercados resultaram em falências, irradiando a caótica crise nos hemisférios Norte e Sul.
O povo como sujeito da política
O modelo neoliberal hostilizou os valores do humanismo e rasgou o compromisso com as promessas prometeicas da modernidade: a liberdade, a igualdade, a solidariedade. Liberdade para formar uma opinião autônoma sobre os negócios públicos, o que a mídia comercial não permite. Igualdade dos cidadãos perante a Constituição, o que desigualdades estruturais não viabilizam por criar a figura da subcidadania nas periferias, alvo das políticas de eugenia. Solidariedade institucional com as classes subalternizadas, o que não existe posto que a pobreza é tida como um problema dos pobres, não uma chaga a ser combatida pelo Estado.
Na Europa, a convergência de políticas de governo procedentes de distintas orientações partidárias deu a impressão, captada pelos autores pós-modernos, de que as ideologias chegavam ao fim. À direita e à esquerda (leia-se: socialdemocracia), o pensamento único celebrava a responsabilidade fiscal, a flexibilidade do mercado de trabalho, o livre fluxo do capital, o esboroamento dos sindicatos e a redução dos impostos sobre as rendas mais altas. Foi o que bastou para volatizar os antigos e suados direitos sociais e trabalhistas. Que fazer?
Para o professor da Universidade de New York, a “democracia direta” insere-se na estante das “soluções mágicas”, diante da insatisfação crescente com as casamatas de representação. O populismo possuiria duas vertentes: (a) a “participativa” com raízes em Rousseau, salutar mas inconsequente e; (b) a “delegativa” com raízes em Schumpeter, perigosa desde sempre. “Nas eleições, os cidadãos são onipotentes; entre elas, não têm poder algum… como vários teóricos da democracia acham que deve ser” (p. 16). O risco é de que, no ínterim, eliminem-se as mediações (partidos, legislativos, tribunais, etc.) na relação entabulada dos governantes com os governados. Para um balanço mais amplo sobre o polêmico tema, ver o artigo “A Esquerda no Labirinto do Populismo”, de minha autoria, disponível neste site.
Por suposto, o ilustre intelectual desconhece as experiências democratizantes nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), com a utilização de dezenas de Conferências Nacionais nascidas de todas as unidades da federação, para a confecção de políticas públicas em áreas de interesse ativo do conjunto da população. Iniciativas, sim, salutares e de consequências producentes – até o golpe. Afinal, aponta Chantal Mouffe et alli, o “populismo participativo” pode conviver e aprimorar o sistema representativo, para tornar o povo sujeito da política.
O que está em disputa nas urnas
“A democracia funciona quando alguma coisa está em jogo nas eleições, mas não quando coisas demais estão em jogo” (p. 33). Se na esteira de Pierre Dardot e Christian Laval, Boaventura de Sousa Santos e Wendy Brown considerarmos que o paradigma de Hayek e Mises implicou o surgimento de um novo padrão de sociabilidade, de racionalidade e de subjetividade – teremos a noção dramática do que está em disputa no porvir. Bem como a dimensão do risco que paira sobre a nação, com o espectro que exala o neofascismo. Na gramática nativa, o bolsonarismo. O choque de Weltanschauungs estará no epicentro das batalhas. Não há espaço para o “narcisismo das pequenas diferenças” entre os partidos de oposição. “Como no provérbio polonês – o pessimista é o otimista bem informado” (p. 233).
A palavra crise, em grego, refere-se à decisão. Nunca um voto decidiu tamanha premência como o que será depositado nas urnas eletrônicas no mês das revoluções (outubro). A opção estará entre a democracia iliberal autocrática e os passos iniciais até a retomada dos ideais humanistas, por excelência. É o que o presidente Pedro Sánchez agora sinaliza na Espanha como uma “conquista coletiva”, para revogar as regras antes aprovadas e ensaiar a reforma trabalhista – desde la izquierda. Sem esquecer o agradecimento à luzente liderança mundial do compañero Lula. A Rede Globo esperneia para manter a fajuta “ponte para o futuro”, que justificou o mandato tampão do decorativo Temer e o desastre do sinistro Bolsonaro. É compreensível, não aceitável. Os cães ladram, a caravana do pós-neoliberalismo avança.
A dignidade da política depende da coragem dos democratas e dos socialistas. A missão de governar não se confunde com a artimanha de dar benesses aos mercados. Os “gestores” que privatizaram empresas estratégicas são serviçais do capital, sem um pingo de consciência pública. Seus crimes de lesa-pátria precisam ser reparados. Governar é fazer política com um perfil nítido na luta de classes. No Brasil, o complicador advém da indesejada posição dos militares (mais de dez mil) espalhados pelos inúmeros escaninhos do aparelho estatal.
Pena nossa singularidade não se enquadrar no júbilo da análise przeworskiana. “A diferença final mas importante entre o passado e o presente, uma diferença animadora, é que os militares praticamente desapareceram da cena política” (p. 167). “Os militares não deveriam ter nenhum poder institucional, mas são os que têm as armas” (p. 184). Para evocar o premiado romance de Chico Buarque, eis o “estorvo” a remover para a democratização da democracia. Foi-se o tempo dos generais fardados na Saúde, em plena pandemia. Descem as cortinas no teatro de horror da extrema-direita. O Chile esperançou a espessa conjuntura latino-americana, ao alterar a correlação de forças em favor de mudanças. A luta contra o neoliberalismo e o neofascismo somente vingará com a ação de movimentos transnacionais.
Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.
Nota
[i] O “Grupo de Puebla” é um fórum internacional, fundado em 2019 na cidade mexicana de mesmo nome. Tem por objetivo articular ideias, modelos produtivos, programas de desenvolvimento e políticas de Estado progressistas. Reúne presidentes, ex-presidentes, referências políticas e sociais do movimento socialista e, ainda, acadêmicos de doze países de língua espanhola. Seu lema é: “Un nuevo impulso progresista. El cambio es el progresismo”. Para os observadores, é o sucessor do “Foro de São Paulo”.