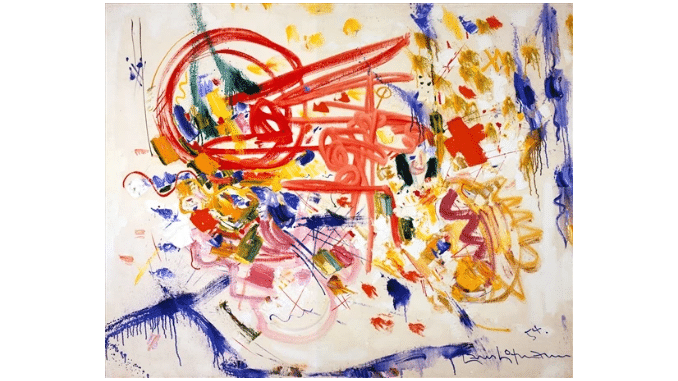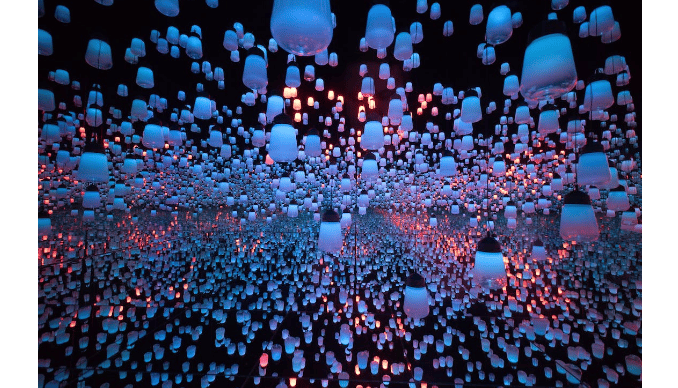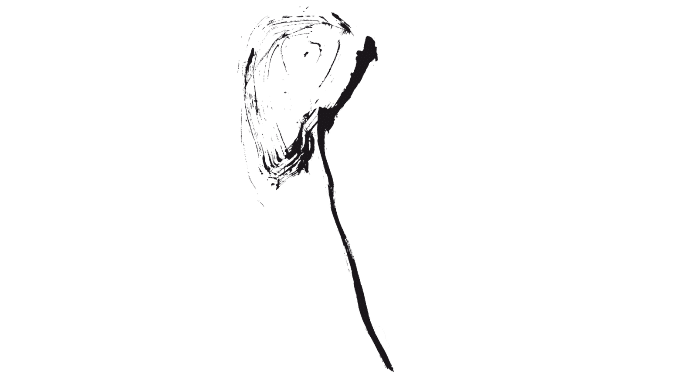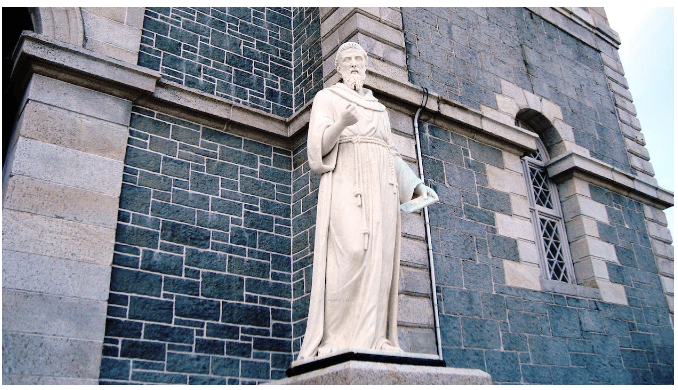Por JOSÉ RAIMUNDO BARRETO TRINDADE*
O tratamento das “finanças públicas” constitui um dos aspectos centrais das relações econômicas do capitalismo do tempo presente
Nas últimas quatro décadas o capitalismo retornou a uma espécie de “leito” histórico anterior a Segunda Guerra Mundial, algo que assinalou o final de um período em que o credo keynesiano dominou a ideologia econômica burguesa, sendo que a “crise da ideologia keynesiana”, como expressou Lauro Campos (2016),[i] define um dos aspectos do atual cenário caótico do sistema capitalista.
Karl Polanyi (2000)[ii] já tinha registrado, em sua esplêndida obra, que a evolução individualista liberal levaria a humanidade a “um mergulho na destruição social”, algo materializado nos dois morticínios globais que vivenciamos na “era da catástrofe” do século XX, o que parece novamente caminharmos a passos bastante velozes.
O tratamento das “finanças públicas” constitui um dos aspectos centrais das relações econômicas do capitalismo do tempo presente, definidas pela disputa dos interesses dos controladores da riqueza financeira e o controle desses segmentos sobre o Estado, frente o restante da sociedade, sendo que a imposição de regimes fiscais cada vez mais austeros se tornou uma das principais premissas do neoliberalismo enquanto momento histórico da acumulação de capital do atual século.
No texto que segue discutimos criticamente os dois principais aportes de compreensão das finanças do Estado capitalista, e como o choque entre essas “ideologias”, faz parte de uma interatividade de continuidade do capitalismo, mas que agora encontra-se em sério risco sistêmico, tão ou mais no limiar, que durante os anos em que Karl Polanyi se inquietava. O objetivo é questionar se ainda é possível uma solução interna a lógica capitalista, ou se, em definitivo, entramos em um novo impasse histórico, e como esses aspectos se colocam numa agenda de soberania nacional brasileira.
As finanças funcionais
J. M. Keynes (1985)[iii] estabeleceu, como parte da “filosofia social” de sua teoria econômica, que o Estado deveria exercer “influência orientadora sobre a propensão a consumir, em parte através de seu sistema de tributação, em parte pela fixação da taxa de juros” e “uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação próxima do pleno emprego”.
Esse elevado grau de intervencionismo estatal foi, sem dúvida, influenciado pelas condições de crise profunda em que se encontrava o capitalismo nas décadas de 30 e 40 do século passado. Como fez notar o marxista alemão Paul Mattick (2010)[iv], para Keynes “era necessário restaurar os ‘hábitos da acumulação’ perturbados”, porém estava “convencido de que a economia capitalista podia ser regulada para que funcionasse melhor sem perder seu caráter capitalista”.
O conceito de princípio da demanda efetiva estrutura a base teórica keynesiana. Esse princípio se coloca literalmente em oposição ao princípio básico da ortodoxia econômica pré-keynes – e, de qualquer modo, pós-keynes – da chamada Lei de Say. J. M. Keynes sustenta que o emprego no capitalismo não é determinado por arranjos salariais entre trabalhadores e patrões e sim pela “demanda efetiva” existente, que depende da “propensão ao consumo” e do “nível de investimento”, assim o sistema econômico pode estar em equilíbrio mesmo sob condições inferiores ao pleno emprego, nenhuma força interna ao sistema de equilíbrio pode elevar o emprego até o pleno emprego. Isto somente é possível pela ação coordenada do Estado.
A demanda efetiva seria uma condição esperada, ou seja, são as expectativas empresariais sobre a demanda futura que determinam emprego e produto correntes. Não é a quantidade de emprego predeterminada que define o produto, isto dependerá do nível em que se estabelecerá a demanda agregada. O nível de emprego e de renda, segundo esse princípio, depende dos gastos esperados, que, por sua vez, estão na dependência dos fatores determinantes da demanda agregada que é definida em termos de dois componentes fundamentais: consumo corrente e investimento.
Esses componentes estão sujeitos a um conjunto de influências e ponderações psicológicas e sociais. O consumo corrente não cresce na mesma proporção do crescimento da renda, define-se uma propensão marginal a consumir como uma lei psicológica. Dessa maneira, para justificar qualquer volume de emprego, deverá existir um volume de investimento suficiente para absorver o excesso de produção total sobre o que a comunidade deseja consumir, quando o emprego se encontra a determinado nível (KEYNES, 1985).
Podemos resumidamente considerar que o nível de emprego e renda somente aumentará se houver um deslocamento da demanda efetiva, o que remete a um triplo movimento: (i) aumento da eficiência marginal do capital; (ii) queda da taxa de juros, e (iii) elevação da propensão marginal a consumir da comunidade.
Foi com base nestes elementos teóricos, muito brevemente aqui resumidos, que os autores pós-keynesianos atribuíram papel-chave ao Estado na condução das políticas econômicas com vistas à gestão e ao equilíbrio do ciclo econômico, condicionando as finanças públicas ao seu papel “funcional” em relação à consecução daqueles objetivos.
Abba Lerner (1957)[v] expressa com clareza o significado do que ele passou a denominar de “finanças funcionais”: “Se não há gastos suficientes, de forma que o nível de emprego é demasiado baixo, a diferença pode ser coberta pelo Estado (…). Se há excessivo gasto, de forma que apareçam os sintomas da inflação, o Estado poderá corrigi-lo”.
A concepção de finanças funcionais vincula-se a uma tradição teórica bastante antiga que pressupõe a ação do Estado como principal mecanismo para “reformar o capitalismo” e, como tal, as finanças funcionais correspondem ao uso da política fiscal, déficit orçamentário e política monetária (atuação sobre a taxa de juro) tendo em vista alcançar as metas de controle sobre o ciclo econômico, especialmente manter o sistema econômico funcionando a “pleno emprego” e com baixa inflação.
Segundo Abba Lerner (1957), existem três regras que regem a direção da economia: (i) “o Estado manterá em todo momento um adequado volume de gastos no sistema”. A economia capitalista sofreria uma predisposição ao “baixo consumo”, de forma que seria “necessário o Estado gastar mais ou diminuir seus ingressos fiscais”, fazendo uso do déficit orçamentário ou mesmo da “emissão monetária”, com vistas a aumentar a demanda agregada. Segundo essa percepção, as receitas fiscais não “podem ser consideradas como meio de sustentação do Estado e sim instrumento de redução das rendas e, portanto, do nível de gastos [consumo] da sociedade”; (ii) o “Estado manterá a taxa de juro ao nível que conduza ao ponto ótimo de investimento”, valendo-se para isso da emissão de títulos públicos e das operações de open market; (iii) não há validade econômica no equilíbrio orçamentário ou na limitação da dívida pública. “O Estado deverá emitir todo o dinheiro necessário para aplicar as [duas primeiras] regras”.
Wray (2003)[vi], um dos mais interessantes autores pós-keynesiano, considera que o “dispêndio governamental nunca é limitado pela quantidade de títulos que os mercados estão querendo comprar (…) apenas pelo desejo do setor privado de fornecer bens, serviços e ativos ao governo em troca da moeda governamental”, de tal forma que qualquer “coisa que esteja à venda em termos do dinheiro doméstico pode ser obtida pela criação de moeda fiduciária pelo governo”. Assim, nesta percepção o Estado capitalista assume a capacidade de um “deus ex-machine” a serviço da lógica de acumulação, algo que denota o papel do Estado keynesiano, em termos de Lauro Campos (2016) “preservar as relações capitalistas”, evitando o seu colapso.
A teoria keynesiana atribui ao Estado um papel anticíclico de caráter permanente, atuando como força exterior determinante sobre as chamadas “falhas de mercado” e elevando a renda líquida nacional ao gerar atividade econômica adicional. Porém, diferentemente da análise keynesiana, as finanças públicas são de fato limitadas pelas condições de reprodução e acumulação do capital e, mesmo que também sirva funcionalmente a um parcial controle cíclico, não tem a capacidade de dinamizar a acumulação, tendo muito mais uma função “constrangedora” sobre a massa de capital de empréstimo disponível na economia.
Os limites da chamada “economia mista” na gestão dos ciclos econômicos de crise e avanço da acumulação de capital desnudou a própria crise da “ideologia keynesiana”. A partir da década de 1970 fica evidente a incapacidade do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo. A queda da taxa de rentabilidade das principais empresas capitalistas do centro, tendo como consequência o declínio do nível de investimento, afetando a receita fiscal, e o aumento do desemprego, convergiam para o esgotamento do padrão de crescimento capitalista do pós-guerra.
A crise capitalista que se iniciara na produção estende-se velozmente durante as décadas de 1970 e 1980 para a demanda, na medida em que a reorganização produtiva das empresas nos países centrais, buscaram recompor suas margens de lucro, pressionando no sentido de uma compressão dos salários reais e estimulando a precarização do emprego, subcontratação e deslocamento de unidades fabris para a periferia do sistema.
A abordagem neoclássica
A abordagem do “orçamento equilibrado”, de corte neoclássico, supõe a “teoria quantitativa da moeda” e a “teoria dos fundos emprestáveis”, para a qual é válido o princípio da equivalência ricardiana entre tributação e dívida pública. Essa percepção estabelece que a tomada de empréstimos pelo Estado desloque os empréstimos do setor privado da economia, tendo somente efeito sobre a taxa de juro, deslocando-a para cima e resultando, por meio de teoria quantitativa da moeda, em elevação dos preços. A consequência analítica resultante é a do chamado Estado objeto, ou seja, as finanças públicas reduzem-se ao equilíbrio orçamentário imposto pela disciplina fiscal.
A percepção neoclássica está ligada à noção dominante de Estado como “entidade” neutra, o que define cada atitude do Estado como atuação separada e repercutindo na economia também de forma isolada. Note-se que essa concepção repercute na ideia de “independência” do BC, como ocorre, por exemplo, nos EUA. É interessante observar que em todos os momentos de crise estrutural (1930, 1970, 2008) e de conflitos bélicos os déficits orçamentários são determinados pelo executivo presidencial com completa anuência da Junta da Reserva Federal (conferir STUDENSKI&KROOSS, 1963[vii]; BERLE, 1982[viii]; DUMÉNIL & LÉVY, 2014[ix]).
O chamado “teorema de equivalência ricardiana” é a versão neoclássica recente, desenvolvida por Robert Barro (1974)[x], a partir da noção ricardiana exposta no capítulo XVIII dos Princípios de Economia Política e Tributação. O enfoque da “equivalência ricardiana” aprimora em termos de modelo o pressuposto de que o financiamento do gasto público com a emissão de dívida tem o mesmo efeito sobre a atividade econômica que seu financiamento mediante impostos, anunciado por David Ricardo há quase 200 anos.
Nesse sentido, parece-nos que as críticas endereçadas a Ricardo se aplicam aos modelos neoclássicos contemporâneos, mesmo com a ressalva de que estes modelos se apresentem formalmente muito mais complexos e especificam hipóteses que não estavam presentes em Ricardo. Para Barro, por exemplo, os consumidores (contribuintes) seriam agentes racionais “altruístas”, de modo que toda geração presente contribui com um montante igual aos custos correspondentes à sua participação no fluxo de benefícios gerados pelo setor público, havendo uma exata contabilidade na transmissão de “utilidades” entre gerações.
Segundo essa teoria, há uma concorrência entre o Estado e os capitalistas pelos chamados “fundos de empréstimo”, resultante da decisão intertemporal das famílias entre consumo e poupança. O crédito é limitado à noção dos “empréstimos reais”, no qual os bancos administram “passivamente” o volume global de poupança disponível. Imagine que mudanças nos déficits do governo não afetem a poupança das famílias. Esta análise é distorcida por não considerar os componentes do sistema de crédito e a dinâmica de acumulação do capital (TRINDADE, 2017)[xi].
O corolário geral desta interpretação é a condição de que toda poupança (S) gerada no sistema encontra, de algum modo, aplicação produtiva (I) e que são as decisões subjetivas de poupar que determinam o investimento. Essa percepção gera a versão predominante de finanças públicas sustentada no equilíbrio orçamentário ou finanças saudáveis, estabelecendo a impossibilidade da manutenção de déficits governamentais, a menos que se admita inflação de custos no longo prazo.
O triunfalismo neoliberal e neoclássico
Durante o século XX tivemos o confronto entre essas duas formas de defesa ideológica do capitalismo. Até terceira década daquele século de extremos, preponderou o credo neoclássico e sua percepção minimalista de Estado e de sociedade. Desde meados do século XX se impôs a ideologia keynesiana, sob diversos aspectos mais simpática às condições de vida de uma parcela considerável da população trabalhadora, porém limitada e muito distante de qualquer forma de proximidade com uma transformação mais expressiva das relações capitalistas de produção.
O retorno triunfal da ideologia neoclássica se dá mediante a conformação de um conjunto de prescrições de políticas liberalizantes e de forte conteúdo ideológico contrário a qualquer forma de solidariedade social e de intervencionismo estatal na economia, base do conteúdo teórico do programa neoliberal, tendo como expoentes desse movimento, nomes como Friedrich Hayek, Milton Friedman e Ludwig Von Mises, dentre outros. Vale ressaltar que não obstante o fato de que não se possa afirmar que a obra daqueles autores se constitua num corpo coeso e integrado de uma “escola econômica neoliberal”, podemos delimitar ao menos como marco histórico de deliberação de uma agenda mais ou menos sistemática de direcionamento de ação política e propagandística o encontro idealizado por Hayek em Mónt Pelerin (Suíça) em 1947, com já tratado por Juarez Guimarães em artigo no site A Terra é Redonda.[xii] De uma maneira geral, a ideologia econômica neoclássica, rebatizada de neoliberalismo, se tornou nos últimos quarenta anos o credo do capitalismo, sendo abandonado o credo anterior keynesiano a um conjunto menor de crentes de esquerda.
Nos encontramos nesta terceira década do século XXI em torno de uma dupla crise ideológica econômica burguesa: de um lado a impossibilidade do triunfalismo keynesiano, não mais satisfatório aos interesses do capitalismo monopolista e sua essência financeira; de outro a crise recolocada da ideologia neoliberal e sua pretensa tecnicidade neoclássica, exposta pela continuado declínio da rentabilidade das empresas capitalistas centrais e pela retomada da disputa entre velhos e novos centros de acumulação, visível no nervo exposto da guerra na Ucrânia.
É necessário reinventar o socialismo para o século XXI em contraposição às diferentes versões do capitalismo, como condição básica para se conceber uma história futura da humanidade.
*José Raimundo Trindade é professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. Autor, entre outros livros, de Crítica da economia política da dívida pública e do sistema de crédito capitalista: uma abordagem marxista (CRV).
Notas
[i] CAMPOS, Lauro. A crise da ideologia keynesiana. São Paulo: Boitempo, 2016.
[ii] POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus,
2000.
[iii] KEYNES, Jonh Maynard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
[iv] MATTICK, Paul. Os limites da economia mista. Lisboa: Antígona, 2010.
[v] LERNER, A. P. Economía del Pleno Empleo. Madrid: Aguilar, 1957.
[vi] WRAY, L. Randall. Trabalho e moeda hoje: a chave para o pleno emprego e a estabilidade dos preços. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003
[vii] STUDENSKI, P. & KROOSS, H. E. Financial history of the United States. New York: McGraw-Hill, 1963.
[viii] BERLE, Adolf A. A República Econômica Americana. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
[ix] DUMÉNIL, G. & LÉVY, D. A Crise do Neoliberalismo. São Paulo: Boitempo, 2014.
[x] Barro, Robert J. 1974. Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy 82(6): 1095-1117.
[xi] TRINDADE, J. R.. Crítica da economia política da dívida pública e do sistema de crédito capitalista: uma abordagem marxista. Curitiba: CRV, 2017.
[xii] Juarez Guimarães. Uma nova “guerra fria”. A Terra é Redonda. Acesso em: https://aterraeredonda.com.br/uma-nova-guerra-fria/.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como