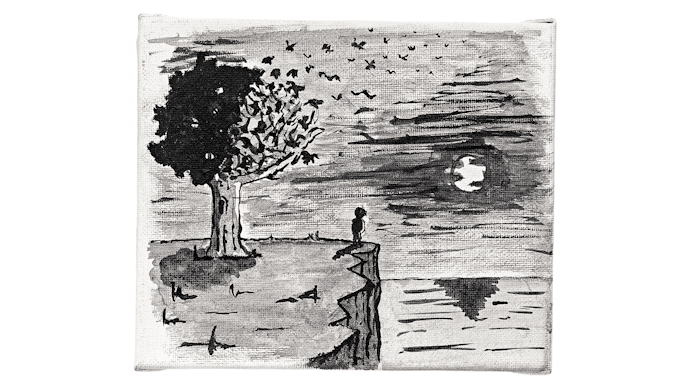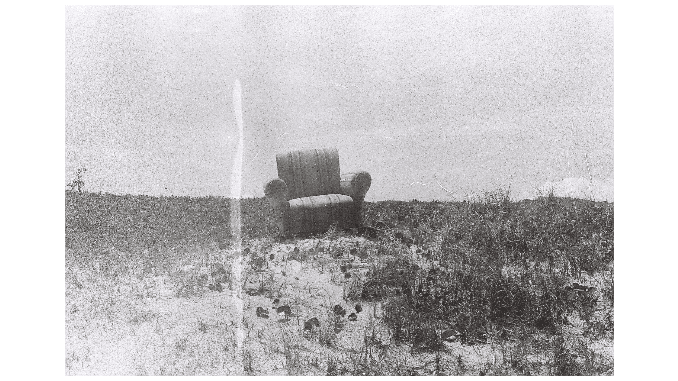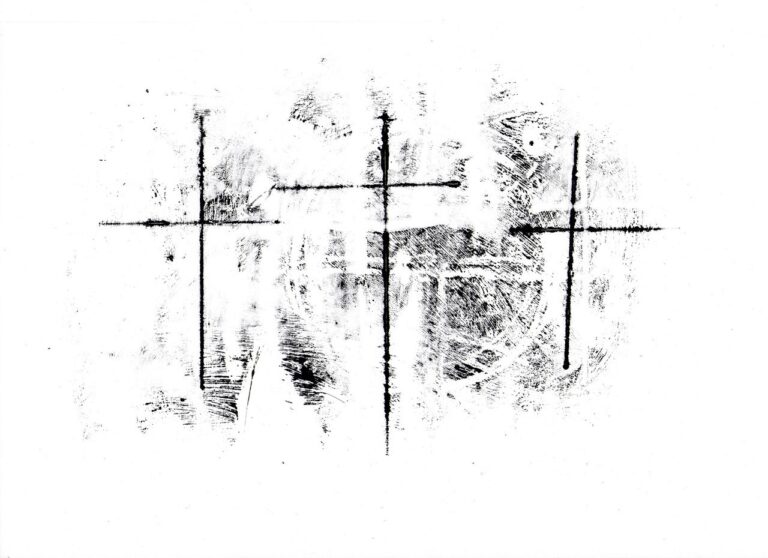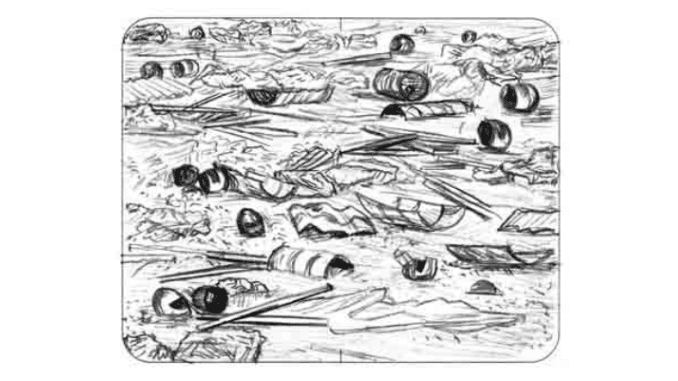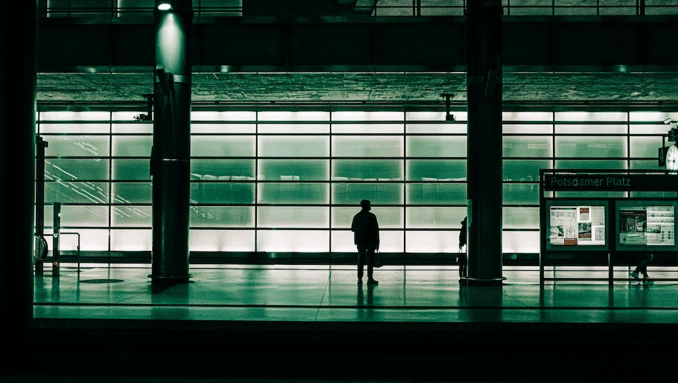Por LUIZ EDUARDO SOARES*
O risco que as milícias representam para a democracia e a urgência de se enfrentar a ameaça à vida face às ações genocidas das políticas de segurança e da justiça criminal, encarceradora voraz
Temos diante de nós mais do que um tema, um desafio que nos angustia, nos mobiliza. É fundamental compreendermos o que significam as milícias, para que seja possível de alguma maneira definir políticas públicas, iniciativas e terapias para essa patologia tão dramática e com efeitos de fato degradantes para a sociedade, para a democracia.
É sabido que essas categorias variam historicamente e têm outras raízes, outras significações. Seguindo a trilha da história, recuo até os anos 60 ou talvez até meados dos anos 50 e, evidentemente, partindo de alguns pressupostos indispensáveis, levando em conta de que país estamos falando.
Nosso país é profundamente desigual e marcado pelo racismo estrutural. Um país cuja história tem sido muito dura e violenta. Portanto, os episódios, esses eventos, as circunstâncias e dinâmicas são profundamente violentos e, nesse sentido, compatíveis com as características da nossa sociedade. Sendo assim, dificilmente seriam possíveis em outros contextos.
Em meados dos anos 50 o chefe da polícia do Rio de Janeiro – esse episódio é narrado pelo professor Michel Misse – constituiu um grupo de policiais cuja função era executar supostos criminosos, os suspeitos para sermos mais precisos, e fazê-lo clandestinamente. Acentue-se a importância desse advérbio, clandestinamente, que evidentemente tem implicações. Nos anos 60, a partir de uma série de circunstâncias, que são inclusive bastante conhecidas, porque sempre aludidas pelos relatos, inclusive os relatos relativos à segurança pública ou à insegurança do Rio de Janeiro no início dos anos 60, formaram-se as “escuderias”, particularmente a “Scuderie Detetive Le Cocq”. Tratava-se de uma associação, um grupo de policiais inicialmente reunidos em torno de uma missão: vingar um colega, o detetive Mariel Mariscot, que havia sido morto por um criminoso.
A “Scuderie Detetive Le Cocq” se autocompreendia e se autodefinia como um grupo de justiceiros. Entretanto, cumprida essa missão mórbida, sinistra, o grupo não se desconstituiria, seguiria adiante atribuindo-se sempre novas missões, e todas elas orientadas por esse tipo de valor que lhes cabia, o de executar supostos criminosos. Ao longo dos anos 60, com desdobramentos diversos que não vêm ao caso, esse grupo original acabou se desdobrando tentacularmente, gestando um conjunto de coletivos ou de grupamentos policiais que então adquiriram um outro nome (esquadrões da morte), e que ainda eram orientados e atuavam sobretudo na Baixada Fluminense.
O professor José Claudio de Sousa estudou com profundidade única esse fenômeno, principalmente na Baixada, onde se realizava o mesmo tipo de tarefa, a execução de supostos criminosos. Esse tipo de prática depois alcançou outras vítimas. Se, inicialmente, a ideia era de que os suspeitos fossem executados, na sequência, esses grupos se converteram em pistoleiros a soldo, atendendo a demandas ad hoc no varejo do cotidiano e das políticas locais. Muitas vezes por motivos comerciais e econômicos; em outras, por motivos puramente pessoais ou políticos, executavam como profissionais do crime, profissionais do que se dizia, à época, da pistolagem. Atuaram não somente no Rio de Janeiro, pois isso foi um fenômeno conhecido Brasil afora. O Espírito Santo foi muito marcado por essa história também, assim como Minas Gerais, Norte e Nordeste. Há também episódios em São Paulo e no Sul.
Portanto, estamos diante não apenas daqueles grupos que foram gerados a partir da incubadora criminal que havia sido aquela Scuderie, inspirada já nas iniciativas dos anos 50, mas também tivemos a adoção da mesma prática e da mesma metodologia por grupos distintos de policiais Brasil afora. Os grupos aqui se converteram inclusive em protagonistas de manchetes na mídia.
Policiais fora de função, o regime militar e os bicheiros
Vários policiais foram, a partir de um certo momento, aliciados pela repressão da ditadura inaugurada em 1964 e, uma vez recrutados e treinados, serviram às práticas de tortura e de assassinato de opositores políticos do regime militar. Eles, entretanto, nunca deixaram efetivamente de estar organicamente vinculados às suas instituições policiais de origem. Com o declínio da ditadura e início do processo de transição, dedicaram-se integralmente às instituições das quais jamais deixaram de fazer parte.
Muitos deles foram perscrutando o mercado, encontraram nichos favoráveis e foram “adotados” pelos bicheiros, que eram os “capos”, os chefes no crime organizado na Baixada Fluminense e na capital do Rio de Janeiro, atuando também para além dessas fronteiras. Eles serviram aos bicheiros não apenas como seguranças. Em algumas vezes, disputaram com os chefes e acabaram ocupando um lugar entre os barões do bicho. O caso mais conhecido é o do Capitão Guimarães (Aílton Guimarães Jorge).
São figuras híbridas, fruto dessa história heterogênea, irregular, descontínua, em que se passava sucessivamente da instituição policial para a atuação na repressão política, dali para o crime organizado diretamente e para um empreendimento econômico criminoso, finalmente. Alguns retornaram e foram absorvidos mais de uma vez por suas corporações. Essa história é muito importante porque ela é reveladora em alguns aspectos. Vamos suspendê-la, por ora, para nos concentrarmos na transição política.
As mazelas da transição política: mudar para que tudo fique como antes
A referência é um processo que se conclui, que culmina, em 1988, com a promulgação da nossa primeira Constituição efetivamente democrática. Evidente que isso não significa que ela tenha sido aplicada plenamente ou que tenha correspondido à realização substantiva da democracia tal como configurada formalmente nos seus termos normativos. No entanto, do ponto de vista formal, era efetivamente um documento importante e único em nossa história. Correspondia a uma conquista extremamente significativa. Entretanto, nós sabemos que as transições no Brasil, mesmo aquelas que envolvem algum nível de ruptura, se deram por negociações entre as elites, que acabaram sempre se recompondo. O Brasil é marcado pela modernização conservadora, pela via prussiana, se envolvendo com o capitalismo, pelas revoluções passivas, enfim pelo capitalismo intrinsecamente autoritário, que exclui a participação das massas, das classes subalternas e que acaba se reproduzindo, a despeito de suas mutações, por seu dinamismo, sempre a partir de rearranjos e novas coalizões que vão se formando entre representantes, líderes e as elites políticas, econômicas e sociais.
Isso não foi diferente em 1988, e a nossa transição foi negociada. Nós saltamos do momento da verdade – para usar aquela distinção sugerida pelo Nelson Mandela e pelo caso da África do Sul, entre o momento de verdade e o momento de reconciliação –, e passamos diretamente para a reconciliação varrendo as cinzas do passado, as feridas, os cadáveres, as brutalidades, a barbárie toda, para debaixo do tapete e passamos imediatamente para o novo regime que se inaugurava com a promulgação da Constituição de 1988.
A negociação dessa passagem envolvia evidentemente os representantes do regime anterior, da ditadura militar, que ainda dispunham de alguma influência, e as demais forças políticas estabelecidas, sendo que o ambiente proporcionava aos representantes do antigo regime um poder de decisão razoável. Eles se interpuseram em alguns casos, e firmaram um pé em torno de algumas exigências; uma delas, entre outras, muito relevante para nós, aqui para nossa reflexão. Eles impuseram uma reserva na área da segurança pública. O campo institucional da segurança pública, quiçá em alguma medida, a justiça criminal, mais particularmente da segurança pública. E as estruturas organizacionais forjadas pela ditadura nos foram, portanto, legadas.
Na democracia herdamos as instituições sem qualquer reorganização, sem qualquer reestruturação. É claro que nos novos tempos, novos ares, novas referências legais, muitos procedimentos foram alterados. Mas percebam que, quando uma estrutura organizacional é preservada, é conservada, ela traz consigo seres humanos, indivíduos, homens e mulheres de carne e osso, com seus valores, suas crenças e suas disposições afetivas. Protocolos de ação, protocolos práticos, que estavam presentes na socialização, são absorvidos, incorporados, e mantidos de tal maneira que nós podemos dizer que essa reserva da área de segurança pública que, portanto, não foi atingida, não foi tocada, não foi atravessada pelo tsunami transformador da democracia, essa reserva acabou suscitando a inauguração, a instauração, de uma dupla temporalidade, se me permitem a imagem.
De um lado nós tivemos o tempo fluente, vivo, da democracia: avanços, mobilizações, ampliação da experiência da cidadania, redução da pobreza bastante significativa ao longo das décadas subsequentes, maior participação; enfim, um conjunto muito significativo de avanço de conquistas, com limites, com contradições, evidentemente. Por outro lado, a consagração dessa outra temporalidade, uma temporalidade cristalizada, congelada, que remete aos tempos imemoriais, à nossa história mais funda, que é a história da escravidão, da brutalidade, do racismo estrutural, das desigualdades.
Essa história que marcou todo o percurso das instituições policiais ao longo do tempo esteve presente na reorganização ali forjada das instituições policiais. E essa história concentrada, temperada pela ditadura, nos foi legada. Portanto, é esse passado congelado, refratário às mudanças, ao dinamismo da democracia, é esse passado que convive, com todo o seu peso, sua espessura e sua resistência com a vibração democrática da sociedade brasileira, sem idealizações, guardadas aqui todas as limitações já referidas.
Vejam que desenho paradoxal, uma dicotomia, uma dualidade, uma contradição. As corporações policiais não podem ser objeto de nenhuma descrição genérica, superficial, que sintetize toda uma complexidade em duas ou três palavras e qualificativos, mas não é equivocado dizer que depois da observação dessas últimas três décadas, no período democrático, está bastante patente que os segmentos mais numerosos desses quase 800 mil homens e mulheres que compõem as nossas instituições policiais, a maioria de fato continua ligada a uma cultura corporativa, cujos valores foram aqueles apurados, maturados, que levedaram nos tempos do nosso passado mais remoto e que foram, digamos, atualizados durante a ditadura.
Ainda são aqueles que justificam execuções extrajudiciais, que confundem justiça com vingança e que são absolutamente refratários ao poder civil, à legitimidade republicana e à autoridade política. Imaginem então, homens e mulheres em armas, essa que é uma função crucial para qualquer estado democrático de direito. O estado democrático de direito não pode prescindir da força. O Estado é detentor monopolista do uso dos meios de coerção, do uso legítimo de coerção, e os aparatos policiais são aparatos fundamentais portanto, e lhes compete no limite o exercício comedido, moderado da força, seguindo evidentemente parâmetros legais, constitucionais, observando tratados internacionais de direitos humanos etc.
Essa é uma função preciosa, fundamental, em que se joga o jogo da vida e da morte. Portanto, nós estamos falando de instituições extremamente importantes, pois elas foram relegadas ao segundo plano, e toda nossa história republicana democrática recente se dá às expensas delas, como se elas permanecessem à sombra, à margem da vitalidade transformadora reformista. E o Brasil como nação conseguiu, então, conviver com o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nos territórios mais vulneráveis, com a brutalidade policial letal sem paralelo entre os países que oferecem dados mínimos a esse respeito, com um nível de violência endereçada sempre, claro, predominantemente aos negros, aos mais pobres e residentes dessas áreas mais vulneráveis, sistematicamente, independentemente de governos, inclusive de suas orientações políticas ideológicas.
Essa temporalidade cristalizada, congelada, refratária aos princípios democráticos, esse enclave institucional que as polícias representam, mostrava inúmeras vezes que era refratária à democracia, repelindo a autoridade política republicana civil. Como se fazia isso? Impedindo que os governadores de fato comandassem essas polícias. É um fato que é preciso reconhecer: os governadores não comandam, salvo excepcionalmente, mas de fato não comandam as suas polícias.
Os Ministérios Públicos, que são responsáveis constitucionalmente pelo controle externo das atividades policiais, a despeito de seus esforços admiráveis, infelizmente ainda são diminutos, insuficientes, minoritários. E a Justiça abençoa a cumplicidade, a que na prática nós verificamos em uma outra parte do Ministério Público, com a reprodução desse tempo congelado que é o passado redivivo que nos acompanha como uma sombra, como uma espécie de fantasma de um outro país a nos assombrar, um outro país que é o reverso, o avesso, que é o oposto daquilo que a nossa Constituição define como sendo o nosso regime constitucional legal.
Isso se dá em função da natureza da nossa transição e das dificuldades extraordinárias que o poder civil teve ao longo de todos esses anos para lidar com essa questão, de elaborá-la, de compreendê-la, de compreender sua gravidade extraordinária.
Temos agora um fenômeno diante de nós que nos impõe a reflexão e a ação. Não é mais possível o silêncio negligente, a omissão cúmplice; não é mais possível pretender ignorar o que representam as polícias como instrumentos repressivos, com bases e com vieses que são inadmissíveis, cuja exibição ostensiva, cuja explicitação em alguns países, mesmo caracterizados pela violência crucial, como os Estados Unidos, provocam revoltas, insurreições que inundam a nação. Aqui nós temos episódios que são lá excepcionais, diariamente rotinizados, naturalizados. Isso não se daria, caso segmentos numerosos da sociedade não fossem coniventes, ou de alguma maneira compartilhassem também esses valores, e isso é extremamente interessante, é fascinante do ponto de vista sociológico, antropológico e histórico, mas é dramático para nós como brasileiras e brasileiros.
O Brasil convive com essa duplicidade, o enclave dessa força que resiste à democracia e convive com ela, com a anuência de instituições republicanas aceitando o inaceitável e aplausos da sociedade por conta do fato de que a cultura dessas corporações, que é uma cultura que tem traços fascistas, é uma cultura racista, misógina, homofóbica, brutal, que justifica o linchamento etc. Os seres humanos não são apenas isso ou aquilo, frequentemente são isso e aquilo e sociedades mais ainda. Pode haver – no caso brasileiro é evidente – empatia, compaixão, disposição afetiva e solidária e ao mesmo tempo a brutalidade mais atroz, a crueldade reiterada, e nós convivemos com isso, sendo simultaneamente o nosso passado e a antecipação de um futuro idealizado que nunca se realiza.
O que são milícias?
Não haveria isso que chamamos milícias, que são grupos compostos por policiais e ex-policiais civis e militares e alguns bombeiros e agregados que são recrutados e aceitos, além de, cada vez mais crescentemente, por traficantes de drogas que são cooptados para as novas coalizões, que hoje tem se estendido, tem se replicado. Por que foi possível chegar a esse ponto, em que temos 57% da população da capital do nosso estado sob o domínio seja de milícias seja de facções do tráfico, sendo a grande parte de milicianos? Nós temos hoje muito mais milicianos dominando a população do que traficantes. São quase 4 milhões de pessoas sob o domínio de grupos armados criminosos, milicianos ou traficantes, sobretudo milicianos, que é o poder que mais cresce e que se aliou ao Terceiro Comando puro, se opondo apenas ao Comando Vermelho, que é uma espécie de ilha de resistência do velho modelo. Como é possível que isso tenha ocorrido? E vejam: isso significa a negação do estado democrático de direito, porque é a negação do próprio Estado, que, ao deixar de ser monopolista dos meios de força legítimos, deixa de se apresentar propriamente como o Estado.
Isso foi possível por conta da nossa história, da natureza da nossa transição, cuja expressão mais imediata é uma política de segurança, por assim dizer, que, com exceções, com raras honrosas exceções ao longo de nossa história recente, se traduziram nessas chamadas políticas de segurança e autorizações para execuções extrajudiciais em confrontos criptobélicos ou protobélicos em áreas de favela e periferia, em territórios vulneráveis, com implicações dantescas e sem que houvesse a produção de qualquer êxito, de qualquer resultado razoável de interesse da sociedade, ou que estivesse minimamente em acordo com a legalidade constitucional.
Por que a nossa história concorreu fortemente para a formação das milícias? Porque é uma história de autonomização, de nichos policiais que passam a agir com essa duplicidade de registro de referência, por isso eu falei dos esquadrões da morte, da Scuderie Le Cocq etc. São núcleos que permanecem na polícia, mas agem ilegalmente e clandestinamente. O leitor se recorda que logo no início foi dito para guardar esse advérbio; é relevante, porque isso não se converteu em padrão instituído, legalizado. Mesmo na ditadura, quando havia pena de morte, se requeria o julgamento. Mas o que está a se falar aqui é do linchamento, da execução extrajudicial, e, por favor, não confundam execução com legítima defesa, que é evidentemente autorizada pela Constituição e por todas as constituições democráticas e pelos tratados dos direitos humanos evidentemente.
Assim temos uma história de autorização tácita para a autonomização de nichos, de grupos que agem à margem da lei, permanecendo vinculados organicamente às instituições policiais. Esse modelo, na medida em que nós herdamos essa tradição acriticamente no momento inaugural da democracia que foi a transição, em que nós recebemos esse legado dessas estruturas organizacionais com essas práticas, elas trouxeram consigo os seus vícios que eram vícios intrínsecos às suas dinâmicas internas de funcionamento, e isso tudo é hipertrofiado e sublinhado pelas políticas que autorizam e recomendam as execuções extrajudiciais.
Por quê? Porque quando se concede ao policial na ponta a liberdade para matar, se lhe concede tacitamente também o direito de não fazê-lo; portanto, de negociar a sobrevivência e a vida, que é uma moeda extraordinária que está sempre se inflacionando. É uma fonte de recursos inesgotável. O que se paga para sobreviver? Tudo que se tem e mais alguma coisa. Atribuindo-lhe o direito de matar sem qualquer custo, sem qualquer condicionante, torna-se de fato o passaporte para a negociação da sobrevivência, e isso se estruturou, se organizou ao longo dos anos porque as economias acabam se compondo, se articulando segundo dinâmicas racionais.
Há uma tendência à racionalização, imperativos do cálculo etc., o que fez com que se passasse daqueles momentos iniciais de confrontos e debates no varejo, do comércio da vida no varejo, para uma situação mais estável, estruturada, que é a do “arrego”, para usar a expressão carioca, ou seja, do contrato, do acordo, do pacto, enfim, da sociedade entre polícia e tráfico. E essa sociedade fez com que se tornasse indissociáveis as histórias – a história institucional e a história do tráfico de drogas – cuja relevância no Rio não pode ser subestimada. Por mais que nós salientemos a importância desse fato, ainda estaremos salientando insuficientemente, porque isso foi decisivo ao longo de tantos e tantos anos, sobretudo quando associadas ao tráfico de armas, e isso tudo não se deu sem a participação e o protagonismo policial.
O “gato orçamentário”
Durante a transição, as políticas que autorizam execuções, facultando aos policiais da ponta fazê-las, o que havia de novo? A autonomização, a constituição nesses nichos. E a isso vem se somar, e agora nos aproximamos da conclusão, um terceiro vetor nessa rápida genealogia, que é a segurança privada informal e ilegal. É preciso compreender isso. O orçamento público na área de segurança é gigantesco, não só no Rio de Janeiro. Contudo, é insuficiente para o pagamento de salários dignos, justos, à grande massa policial, porque são dezenas de milhares, sobretudo se nós incorporarmos os inativos. Desse modo, qualquer alteração tem um grande impacto. Esse orçamento irreal se torna real, ou seja, ele é viabilizado por um arranjo ilegal que eu chamo de “gato orçamentário”, e só os cariocas e as cariocas me entenderão. Existe o “gato net”, que são conexões entre o legal e o ilegal, que se dão de forma improvisada. Aqui nós temos o “gato orçamentário”, que é essa conexão entre o legal e o ilegal. De que maneira isso se dá? Que ilegalidade é essa?
Todos os governos estaduais, não só do Rio de Janeiro, sabem que os seus policiais vão para o segundo emprego, para o bico, a fim de completar a renda, porque os salários são insuficientes. E o fazem em que área? Como todos fazemos: na área de nossa expertise, da nossa competência. Ora, os governos sabem perfeitamente que milhares de policiais vão para a segurança privada informal e ilegal. Por quê? Porque é ilegal que o policial servidor público atue na segurança privada, pois se trata de óbvio conflito de interesse. Quanto melhor for a segurança pública, pior será a segurança privada.
É evidente que há uma divergência, e o que torna ilegal é essa conexão com a segurança privada informal e ilegal. Apesar disso, os governos olham para o lado e dizem que essa é uma responsabilidade da Polícia Federal e, efetivamente, pelo ponto de vista legal, é verdade. Mas a Polícia Federal não tem contingente, nem recursos, nem tempo, e nenhum interesse em meter a mão nesse vespeiro, sabendo que lá vai encontrar não só a arraia miúda, para usar a expressão popular, mas também oficiais, delegados e autoridades das instituições policiais.
Assim, não estão na segurança privada apenas aqueles que buscam sobreviver com um pouquinho mais de dignidade, que tentam completar sua renda, honesta, perfeitamente compreensível e, digamos, até benigna, por suas motivações, embora ilegais. Temos ainda aqueles que são empreendedores e que aproveitam essa oportunidade, que não estão precisando disso para se alimentar, e estão buscando lucros em outra escala. E o fato é que, quando o governo não olha de forma consciente e negligencia como uma estratégia para viabilizar o seu orçamento, deixando que os policiais complementem sua renda desse modo, não se dá então combate ao aspecto maligno do problema. E o que é maligno? São as ações e iniciativas daqueles policiais corrompidos que geram insegurança para vender segurança. E finalmente, existem aqueles que se organizam a partir da experiência no tráfico, compreendendo que podem ir muito além das quadrilhas, e aí formam de fato as milícias, com bases em alguma experiência local etc.
E quais desses policiais querem ir muito além do tráfico? Trata-se de homens mais velhos, mais maduros, mais experientes. São profissionais que observam o quadro, analisam a situação e averiguam se há possibilidade do domínio territorial e do controle sobre uma comunidade por grupos armados. E, em vez de apenas negociar substâncias ilícitas no varejo, uma vez assumindo o controle territorial, passam a taxar de forma arbitrária e evidentemente discricionária todas as atividades econômicas e custos dessa comunidade, inclusive o acesso à terra.
Desse modo, constituem-se como verdadeiros barões feudais. E esses espaços insulados vão conformar uma geopolítica com uma configuração, uma espécie de um grande arquipélago que tomou boa parte da cidade, na capital do estado do Rio de Janeiro e áreas da Baixada Fluminense, e ainda mais, avançando o estado adentro.
O primeiro combate contra as milícias
Chegamos à política. Esses grupos experimentados de homens mais velhos perceberam que não havia sentido, como os traficantes faziam, de simplesmente alugar acesso a candidatos. Os candidatos na hora da eleição querem ter acesso para fazer campanha, os traficantes escolhiam um ou outro, de acordo com pagamentos, e permitiam esse acesso. Os milicianos pensam com mais ambição e deduzem que eles mesmos podem se candidatar e ocupar espaço no Estado, na esfera política. E isso tem acontecido sistematicamente de tal maneira que eles, agora, não só utilizam a polícia para ajudá-los a conquistar espaços, a manter seus domínios, ao submeterem a polícia aos seus interesses, permanecendo a salvo, excepcionalmente incólumes, como também ocupam espaços de poder, espaços políticos nos Parlamentos e nos Executivos na Baixada Fluminense. Converteram-se no grande desafio, não só para a segurança pública do Rio de Janeiro, pois esse é um problema que tem aqui o seu coração, mas que se irradia para todo o país, isto é, mais um o problema para a democracia brasileira.
Notemos que esse é um tipo de poder paralelo em ascensão. Diga-se de passagem, essa categoria, “milícia”, passou a ser aplicada, a partir de 2006, graças à jornalista Vera Araújo, do O Globo, aos grupos que dominam territórios em comunidades aqui no Rio de Janeiro, grupos formados sobretudo por policiais. Até então nós nos referíamos a esses grupos como “polícia mineira”, ou “polícias mineiras”. Mineiras porque garimpavam, mineravam, agiam para se beneficiar ilegalmente etc. E Vera Araújo passou a usar o termo milícia, que em seguida foi adotado porque cabia muito bem para a definição dessas máfias locais por assim dizer.
E nós tivemos, a partir de janeiro de 2007, o privilégio de contar com um delegado muito corajoso, audacioso, que tinha naquele momento o suporte da Secretaria de Segurança; Claudio Ferraz, titular da DRACO (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado). De 2007 a 2010, Ferraz prendeu quase 500 milicianos. Até então os milicianos não eram presos. Houve apenas um ou dois casos antes. Por quê? Porque, segundo as autoridades, sequer existiam, não se percebia isso; ou algumas outras autoridades se referiam à autodefesa comunitária, porque evidentemente essas milícias nasceram vendendo segurança privada, vendendo manutenção da ordem nas comunidades.
Vejamos um caso: o do irmão do deputado Marcelo Freixo, Renato Freixo, que se tornou um personagem relevante nessa história. Em 2006, foi eleito síndico do seu condomínio em Niterói e resolveu compreender que história era aquela, onde estavam os contratos, de quem era a empresa que oferecia, afinal de contas, segurança? Qual a legalidade daquilo? Foi assassinado.
Isso é um sintoma, uma demonstração muito triste, mas muito evidente e ilustrativa do que nós acompanhamos. As autoridades políticas, às quais convinha o silêncio, até porque tinham apoio nessas áreas que se convertiam em verdadeiros currais eleitorais em seu benefício, essas autoridades silenciavam ou negavam a existência das milícias ou apenas se referiam à autodefesa comunitária.
Naquele mesmo ano, Vera Araújo produziu algumas matérias importantes no O Globo, muito críticas, chamando atenção para a dimensão criminosa dessas organizações. Já em 2007, no início da nova legislatura estadual, o recém-eleito deputado estadual Marcelo Freixo apresentou, no primeiro dia, logo na primeira semana da nova legislatura, um pedido de abertura de uma CPI sobre as milícias. O presidente da Alerj, Jorge Picciani, negou e engavetou o pedido.
O delegado Claudio Ferraz começou a realizar o seu trabalho, e as matérias se reproduziram. No primeiro semestre do ano seguinte, em 2008, houve um episódio que se tornou muito conhecido no Rio de Janeiro e muito triste, em que uma jornalista, um motorista e um fotógrafo do jornal O Dia foram feitos reféns, torturados e quase executados na favela do Batan, já sob o controle das milícias. Eles faziam uma reportagem sobre esses grupos. Foram salvos porque vazou a notícia, e os milicianos os libertaram. Mas o impacto sobre a vida deles foi trágico. Isso veio à tona, ocupou as manchetes da mídia na época, e a sociedade se sentiu de fato tocada e sensibilizada. O presidente da Alerj foi obrigado a desengavetar o pedido da CPI das milícias, e o deputado Marcelo Freixo se tornou o relator da CPI, que cumpriu um papel muito importante.
A CPI conduzida por Freixo indiciou mais de 250 indivíduos – policiais –, alguns inclusive com cargos eletivos. O trabalho de Claudio Ferraz permitiu muitas prisões e repressão qualificada. Depois desse período, o nosso colega Ignácio Cano, com a nossa colega Thais Duarte, realizaram uma pesquisa importante, que mostrava que, a partir dessa repressão, as milícias, de uma maneira geral, tinham alterado seus comportamentos, suas táticas. E elas, em vez dos tormentos públicos, das torturas e dos assassinatos públicos que eram usados como didática para assinalar o seu poder como forma de coação, passaram a criar cemitérios clandestinos e agir, como se diz popularmente, no “sapatinho”, termo que inclusive é o título do relatório da pesquisa dos colegas Cano e Thais.
Dessa forma, houve uma alteração, um recuo, um refluxo e uma mudança de atitude. Os milicianos não se tornaram pacíficos e ordeiros, mas passaram a matar e a brutalizar de outra forma, com outros métodos. Daí se inaugurou um período muito longo, em que tiveram de novo a possibilidade de recomposição, se articulando com a política, obtendo apoios, promovendo um novo crescimento desses grupos. É claro que, quando nós temos na Presidência da República alguém como Bolsonaro, que defende a flexibilização de acesso às armas, que defende a violência policial e o faz ostensivamente elegendo um torturador como o seu herói, logicamente esses grupos se sentem estimulados, incensados, e a brutalidade recebe assim um combustível importante. Os nossos tempos são bicudos, são tempos dramáticos, difíceis.
Outro aspecto a ser enunciado é a situação dos policiais honestos. Isso não é simples, porque vamos nos colocar na posição de um policial honesto – e há milhares e milhares deles. Esses policiais honestos sabem perfeitamente o que seus colegas fazem. Mas quem de nós ousaria confrontar esses colegas criminosos, que gozam de prestígio, que sabem qual é o nosso endereço, conhecem a nossa casa, onde nossa família mora, os quais são capazes de qualquer violência? Os policiais individualmente se sentem acuados é claro. Que força externa seria capaz de, com independência, fazer face às milícias?
Intervenção militar: o laboratório fracassado
O estado do Rio de Janeiro já teve um laboratório. Em 2018, tivemos a intervenção federal. Era um grande laboratório. Era um momento para que nós verificássemos se as Forças Armadas, ou Exército pelo menos, seria essa força capaz de, com independência, enfrentar esse desafio decisivo, de vida ou morte para democracia brasileira, não só para o Rio de Janeiro. Era um grande teste para verificar se haveria alguma competência para lidar com a questão. Mas não houve nem competência nem interesse, e se havia independência ela não se manifestou na prática, e nós então continuamos assim, salvo um ou outro episódio eventual.
O assassinato de Marielle e Anderson é o sinal mais terrível da insubordinação, da arrogância das milícias. Então nos perguntamos: de onde virão essas forças? Quais serão as instituições? Por que o Ministério Público se cala com a violência policial e não age com o protagonismo, com as iniciativas que nós desejaríamos? Não compreendem as milícias como sendo um desvio ainda associado profundamente às próprias instituições cujo controle externo lhe compete. O Ministério Público não tem sido esse ator, e a Justiça muito menos; o que podem querer dizer é que abençoam a situação tal como está.
Governadores e chantagem: o problema dos dossiês
E os governos? Os governos, e eu acompanhei isso ao longo de muitos anos, se tornam presas fáceis dos grupos corruptos nas polícias. Tais grupos são muito hábeis na elaboração de dossiês e, nos primeiros dias do governo, apresentam aos governadores materiais que os incriminam. A partir dessa chantagem, os governadores se sentem acuados. Essa é uma prática reiterada.
Independentemente disso, o governador ou os governadores contam com as polícias. E as polícias são justamente as incubadoras das milícias, são a fonte do nosso problema. É um dilema extraordinariamente relevante, que tem de ser encarado pelo país inteiro e tem de ser da democracia. Deve mobilizar o que nos restar de oxigenação democrática para que, juntos, nós concebamos alternativas. Mas a prática política usual aponta na direção de envolvimentos crescentes. O fato é que não é possível ser muito otimista nesse momento.
Há um complemento que deve ser feito quanto aos dossiês. Inteligência hoje tem outros significados. Inteligência está associada à provisão de informações, sofisticação de diagnósticos, provisão de dados e evidências e de instrumentos metodológicos de análise. Inteligência é uma área efetivamente rica na articulação e na disponibilização do conhecimento produzido. Então é uma área muito interessante, que nada tem a ver com espionagem e com aqueles torneios turbulentos, arbitrários, aquelas tramas de cinema. Tem muito mais a ver com o trabalho nosso de pesquisa, universidade etc., a que coloca à disposição de gestores e de operadores, o que se conhece a respeito de questões relevantes da sociedade. Os agentes da área trabalham de outra maneira e têm uma longa tradição na ditadura; e aqui, de novo, estamos falando do que significou a continuidade ao longo da transição democrática nessa área. Essa é uma área reservada, não tangida, não transformada pela dinâmica da democratização.
Quem ouve conversa telefônica entre duas pessoas com autorização judicial ouve o que quer e o que não quer. Ouve o que busca e o que não busca, mas nem por isso deixa de ter algum interesse, se o propósito é a chantagem.
Então imaginem um político e um empresário conversando. Surgem não só informações atinentes a um caso específico objeto da autorização, do mandado judicial, como também surgem eventualmente conversas sobre amantes, sobre situações que podem ser até mais delicadas para os interlocutores do que propriamente o tema da investigação. Nos países democráticos com alguma tradição de mínimo respeito às regras do jogo, tudo aquilo que é sobra, que é excesso e que não diz respeito diretamente ao tema autorizado tende a ser destruído. No nosso caso se tornou muito comum criar bancos de dados com as sobras, com os retalhos das conversas, os retalhos da arapongagem, que poderiam ser eventualmente úteis.
Percebe-se uma conexão interessante, miúda, provinciana, rasteira, primitiva, primária; entretanto, fundamental entre uma história da repressão da ditadura treinando operadores para um trabalho sujo e a aplicação do trabalho sujo na democracia como instrumento de coação, de constrangimento sobre autoridades.
Tais práticas têm esses impactos e explicam em parte a timidez de tantos de nossos Poderes Executivos estarem acuados por intimidações oriundas dos métodos dos porões.
Milícias e lucratividade
Quanto à lucratividade das milícias, claro que esse é um obstáculo à contenção do seu crescimento. É muito atrativo, sobretudo no momento de crise, quando policiais veem seus colegas comprando carros do ano, casas, enfim enriquecendo. E quando não há uma formação ética e um comprometimento institucional muito vigoroso, isso acaba se impondo. E como nós temos instituições estilhaçadas, despedaçadas, por conta desse atrito entre as suas culturas corporativas e a institucionalidade republicana. Elas são estilhaçadas porque vivem um enclave. Aquilo que justifica o descumprimento da Constituição nas execuções extrajudiciais, justifica também a corrupção.
Esses grupos se retroalimentam, porque, no fim das contas, são justiceiros ou assim se pensam inicialmente; depois, nem eles próprios conseguem manter o discurso desse tipo. Mas vocês percebam como o desajuste, esse desarranjo, essa torção que gera o enclave refratário à democracia, gera de fato uma área de sombra que proporciona a gestação não só de práticas de violência, mas também de práticas de corrupção, corroendo os valores republicanos. Grupos muito numerosos, que têm inspiração efetivamente fascista, não acreditam e não valorizam a política, isso que chamam de sistema, constituição e leis. Engana-se quem imagina que esses policiais violentos são apaixonados pela legalidade e mantêm o que fazem por amor ardoroso às leis, sendo mais rigorosos do que o próprio rigor. Não tem nada a ver com qualquer tipo de comprometimento com a legalidade.
A lucratividade, assim, é parasitária e depende do dinamismo econômico das comunidades, e a criatividade é grande: são as vans, o gato net, o controle sobre os bares e restaurantes e o pequeno negócio. Passa-se também ao gás, o monopólio da venda de gás, cobrando-se mais caro do que a concorrência, mas impondo aquele consumo. Depois, o controle de terras públicas, a sua privatização selvagem, a apropriação e expropriação de conjuntos habitacionais, a expulsão de moradores originais, caso não sucumbam às imposições, revenda de apartamentos que são produzidos com dinheiro público e por aí vai. Construções ilegais, tais como vimos na Muzema, em cujo desastre morreram 24 pessoas, e os negócios, que vão aumentando, os transportes etc. São muitas as articulações.
É claro que um impedimento importante para reduzir a atratividade das milícias e, por consequência, reduzir a velocidade de sua reprodução e intensidade seria a criação de modos de proteção aos operadores da economia local, comerciantes, entre outros. Se as polícias honestas atuassem nesses territórios como atuam em Copacabana, no Leme, Ipanema ou Leblon, por exemplo, ficaria difícil para esses grupos coagir e impor a cobrança de taxas. Mas como esperar que isso se realize se de fato a cabeça política do estado e as lideranças institucionais não estão dispostas a esse enfrentamento por múltiplas razões?
Quanto ao envolvimento de milícias com igrejas, aqui não há o que dizer de muito específico. O que existe são trabalhos de pesquisadores, em geral com as referências conhecidas, sobre as relações entre facções do tráfico e igrejas em algumas denominações neopentecostais. Isso é muito conhecido. Nós temos traficantes religiosos que aderem de fato a esses pastores e a esses núcleos locais, que por sua vez se articulam com o tráfico de drogas e com milícias igualmente. Até que ponto servem também para a lavagem de dinheiro? Há muitas especulações nesse sentido, inclusive dentro da polícia honesta sobre essas possibilidades.
Rio de Janeiro em comparação a São Paulo: modelos de organização do crime
São as milícias um fenômeno eminentemente carioca? Essa é uma pergunta difícil. Nós encontramos modalidades de nichos compostos por policiais, sobretudo que se autonomizam e que se convertem em novos personagens do universo criminal no Brasil todo. Mas nessa escala e com essa metodologia de controle territorial, não. É um fenômeno especialmente fluminense, mais do que carioca, que reproduz um arranjo inventado e inaugurado pelo tráfico de substâncias ilícitas, que é do controle territorial e de domínio sobre comunidades.
As diferenças entre o tráfico no Rio e o PCC foram muito bem estudadas. Há etnografias preciosas sobre o PCC e sobre o tráfico. Conhece-se bastante bem o tema por meio desses retratos oriundos de tantas boas pesquisas e há uma analogia possível ao que é proposta por mim em artigo publicado no livro organizado por Gabriel Feltran, que é um desses importantes estudiosos do PCC. No artigo em questão, sugere-se alguma associação entre a economia, a sociedade paulista e o PCC e a economia, a política fluminense e o tráfico, tal como nós o conhecemos. E é bastante interessante pensar nisso.
Para usar simplificações grosseiras e caricaturais num desenho ligeiro e superficial, temos em São Paulo uma sociedade que foi fortemente industrial, com movimento popular intenso e dinamizado pelo sindicalismo, uma sociedade orgânica, estruturada em torno da divisão social do trabalho de ponta do capitalismo brasileiro. Já no Rio de Janeiro, o declínio do que havia de indústria, a decadência do setor industrial, predomínio dos serviços, a degradação econômica, o deslocamento da capital do país com uma série de implicações e uma sociedade marcada pela informalidade; por aquilo que o velho Marx chamava lumpesinato, que era um nome no fundo para designar a inorganicidade. Nós vivemos num país da inorganicidade, e organizar é uma tarefa quase inglória. Então quem é que organiza no Rio de Janeiro? Agora são as igrejas populares evangélicas que organizam na base – antes eram as igrejas católicas progressistas. Se nós não pensarmos nas igrejas, o que mais organiza?
Não temos propriamente organizações numa sociedade inorgânica, mas agregações em torno de lideranças carismáticas, como foi, por exemplo, o fenômeno Brizola. Há, neste momento, a possibilidade de endosso a uma liderança messiânica ou carismática, mesmo fascista ou pró-fascista como Bolsonaro. São agregações, ad hoc, circunstanciais, em torno de certos discursos de valores mobilizados e de certas negociações mais ou menos com esse propósito. O resto na política é também o varejão, a informalidade e a inorganicidade também num mundo partidário. Vejam o que foram o PT de São Paulo e o do Rio em termos de impacto sobre a sociedade, inclusive brasileira. Aqui as negociações ad hoc, negociações locais que a chamamos de fisiológicas para resolver problemas imediatos.
Acompanhando o raciocínio, o tráfico tal como se organiza no Rio, é absolutamente antieconômico e irracional, não tendo como sobreviver. Só pode sobreviver enquanto a decadência do Rio persistir. Por quê? Quando se iniciaram as experiências das UPPs, dei uma entrevista para o O Globo dizendo que não acreditava naquilo, porque não era uma política pública; era um programa visando basicamente propósitos mais políticos, cosméticos, porque não havia reforma da polícia, e com essas polícias aquilo seria insustentável.
Enfim, se desse certo e onde desse certo, significaria um grande salto de qualidade de racionalidade para o tráfico. O tráfico iria se modernizar, iria renascer porque teria de abandonar esse modelo de domínio territorial. Isso porque é necessário um pequeno exército fortemente armado, correndo risco de vida, inviabilizando a fluxo do que se quer conseguir, tendo de comprar a adesão, a cumplicidade policial sempre por preços superiores, numa situação instável, sobre risco permanente, para negociar substâncias ilícitas que no mundo inteiro são negociadas num método errante, nômade, com trânsito em algumas áreas da cidade.
Já para a milícia, o domínio territorial é rentável porque se trata de impor a cobrança sobre todas as atividades econômicas, mas para o tráfico não faz nenhum sentido. O tráfico em São Paulo adota um modelo empresarial descentralizado, hiperflexível, com delegação de autonomia na ponta. É um modelo de negócio que funciona, prospera com menos atrito com a polícia, menos problema, menos custo, menos risco e que corresponde a uma dinâmica econômica mais desenvolvida.
O ponto é que as milícias acompanham modelos criminais e societários, econômicos e políticos, numa sociedade inorgânica onde se torna possível criar uma geopolítica com base em baronatos feudais, entre aspas, nesse arquipélago. Isso é impossível em São Paulo. E o Rio é a capital das milícias por conta também da história das nossas polícias, da brutalidade das nossas polícias desde a época da capital do país, com a centralização, a hiperpolitização que isso implicava. Então há elementos históricos que tornaram as polícias do Rio muito mais poderosas, politizadas, incontroláveis e menos sensíveis a apelos constitucionais, menos encantadas pela simbologia republicana democrática.
Acerca das conexões internacionais existentes, o tráfico fez isso. Primeiro foi o Fernandinho Beira Mar, que substituiu aquelas mulas, os sujeitos que vinham trazer aqui as drogas das fontes colombianas, peruanas e tal, mas sobretudo colombianas. O Fernandinho Beira Mar organizou isso, e quem conta muito bem essa história são Camila Dias e o Bruno Paes Manso num livro sobre a guerra de disputa nas conexões internacionais sobretudo o PCC, mas também o Comando Vermelho mais e mais. As milícias vão ter de se internacionalizar na medida em que estão entrando no mercado das drogas com força.
Prioridades do Estado
É possível o Estado controlar as milícias? Bem, até agora o estado não foi capaz, nem se dispôs a fazê-lo. E mais: a agenda pública não impôs aos tripulantes do Estado, que são os governos, a definição do combate às milícias como prioridade. Há um exemplo anedótico que é bem expressivo disso. Eu estava em São Paulo em 2010, o filme “Tropa de elite 2” tinha feito um grande sucesso. Quem o assistiu sabe que o foco são as milícias. Subitamente aquilo ganhou uma projeção muito grande e uma projeção negativa para as milícias. Eu estava em um seminário em São Paulo e recebo um telefonema do Zé Padilha, diretor do “Tropa” dizendo: “Luiz você viu o que aconteceu? Tão fazendo ‘Tropa 3’”. “Que isso, Zé, como assim? Quem tá fazendo?” Era o início da invasão do Alemão, filmada em tempo real como se fosse efetivamente dramaturgia, ao vivo e em cores, com narradores no local e com cobertura em tempo real e as emoções todas. E qual foi o enquadramento midiático e político conferido àquela intervenção? De um lado o bem, do outro, o mal. Quem fazia o papel do mal? Eram os traficantes lá do Alemão, que fugiam pelo alto, sandália de dedo ou descalços, sem camisa, carregando algum fuzil. Esses eram a personificação do mal. Do outro lado, o Estado brasileiro, as Forças Armadas e as polícias representando o bem.
A questão das milícias, que é demanda das polícias, foi para o espaço, e a agenda sofreu uma reflexão imediata. Ora, aquilo tudo se deu com essa intenção? Não, claro que não. Mas esse foi um dos resultados. Quando naquele momento parecia que nós trazíamos para o centro da agenda a questão miliciana, surge uma situação que desloca de novo o tema, e nós retornamos à velha polaridade polícia vs. tráfico, que é um engano, um engodo total, porque não há tráfico sem polícia, e o problema nosso é justamente a degradação das ações policiais, o que não significa uma acusação aos policiais e seu conjunto, ou as instituições em que há milhares deles que pagam um preço altíssimo e são honestos e honrados, arriscando a sua própria vida com salários indignos tantas vezes.
Vamos reunir o que há de vivo, de inteligente, nas polícias, fora dela e na sociedade para pensar passo a passo. As milícias não terão mais sossego e as polícias vão começar de novo. Como é que nós começamos de novo? Há muitas propostas, mas isso se resolve daqui há 2 anos? Não. Mas em algum momento tem de ser iniciada essa transformação.
Existe ainda outro ponto a ser destacado. São Paulo assistiu a um declínio espantoso dos homicídios, e o governo nadou de braçada e se apresentava jubiloso em triunfo, como responsável por domar a criminalidade sobretudo letal etc. E nós sabemos, pois as pesquisas são fartas nesse sentido, que depois daquela crise de 2006 o PCC, que detém o controle monopolista, não pleno, não é monopólio absoluto pleno, mas lidera o universo criminal em São Paulo, embora com muita flexibilidade de centralização, mas lidera.
O PCC, que tem uma cabeça muito mais empresarial do que a dos líderes do tráfico no Rio de Janeiro, decidiu que não se mataria mais, a não ser a partir de autorização da cúpula por mediações burocráticas específicas, a partir de critérios definidos de uma maneira sólida e consistente. Claro que há falhas e decisões que se impõem e que são perdoadas ou toleradas, mas se constituiu um mecanismo interno de controle porque não interessa criar essa violência e chamar a atenção da sociedade e acabar jogando a pressão da sociedade e das polícias contra os negócios.
Isso não ajuda os negócios do crime. Então houve um refluxo, e isso foi a principal razão da queda do número de homicídios no Brasil. Houve um plano nacional, uma queda entre… não me lembro se 2015 ou 2016 até 2017.Houve dois ou três anos de queda, que se deveu também a reajustes no mundo criminal. Nós não sabemos exatamente, isso requer mais pesquisas, mas essa é uma hipótese forte, associada à mudança no perfil demográfico e algumas outras variáveis possíveis.
Zonas de simbiose e atrito entre milícias e polícias
Na Zona Oeste da cidade do Rio, o crescimento das milícias importou em menos mortes, como observo num artigo que escrevi há muitos anos sobre o que é segurança pública. A gente fala muito disso, mas poucas vezes se define efetivamente. Eu definia como estabilização de expectativas favoráveis relativamente à cooperação social, estabilização de expectativas e sua generalização. Estabilização favorável à cooperação, e eu procurava justificar com base lá nos argumentos que vêm do século XVII, da filosofia política, mostrando que simplesmente não há alternativa de entendimento, porque, se nós definimos segurança com ausência de crime, nós teríamos que reconhecer que os totalitarismos então é que garantem segurança pública, e nós não podemos confundir segurança pública com a paz nos cemitérios, com o império do medo e da coerção.
Segurança pública só pode ser um tema plausível no estado democrático de direito, senão nós podemos trocar a morte e o crime pela operação brutal do Estado. Nesse sentido, essa queda de crimes da Zona Oeste não representa um aumento da segurança pública no Rio de Janeiro. Não pode ser assim definida, pois quando o governador afastado Wilson Witzel dizia que houve uma queda no número de crimes no Rio de Janeiro, eu lhe perguntava se ele estava computando entre os crimes – ele se referia aos roubos –, se ele estava computando entre os roubos as apropriações indébitas operadas cotidianamente pelas milícias em todo o estado.
Como a polícia se beneficia da milícia enquanto corporação? Sem dúvida, dessa forma há um resultado que interessa sobretudo aos comandantes e àqueles que se beneficiam com premiações ou algum reconhecimento institucional, que provém da redução de casos, mas o que há muito é o benefício na direção contrária. As milícias se beneficiam das polícias apontando áreas que devem ser objetos de incursões, para eliminação de competidores, para liquidação eventual de traficantes e depois a subordinação dos sobreviventes. São cooptados para tarefas terceirizadas do tráfico, para ameaças, para armamento etc. As polícias abastecem e fornecem instrumentos e mecanismos para as milícias. E esses acordos vão tomando conta e degradando a instituição.
Quais as zonas de simbiose e de atrito entre polícias e milícias? Essa é a última questão e talvez a decisiva e mais difícil. Zonas de simbiose são aquelas de cooperação. A cooperação pode se dar por benefício ou por redução de dano. Benefício quando há um escambo, uma distribuição do butim; há uma partilha do que é fruto do esbulho, a partir dessas operações criminosas todas, sistemáticas. Isso acontece frequentemente, e a redução de danos se dá quando a alternativa é pior. Por exemplo, como um policial poderia se dedicar a combater seus colegas milicianos se sabe que eles não têm limites, são violentos, assassinos e conhecem o seu endereço? A sobrevivência, a paz, a tranquilidade é um benefício nesse caso diante de tantos riscos que se apresentam aos policiais.
O atrito se dá com uma contraface da redução de danos, de ameaça patente. E também o atrito se dá quando existe confronto efetivamente nos setores que resolvem enfrentar problema. Cláudio Ferraz, o delegado titular da DRACO, que foi campeão em prisões de milicianos até pouco tempo atrás, acho que até hoje, ele não citava, mas ainda conta com segurança, carros de segurança etc. O Marcelo Freixo só anda assim também. Há um preço alto a pagar. Eu mesmo tive que sair do país, de passar anos fora do Rio de Janeiro, também no período de enfrentamento. Os atritos são constantes.
Eleições 2020 e sensação de cerco
Quanto ao papel das milícias nas eleições de 2020, eu diria que há um movimento robusto em andamento e com muito sucesso. Não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas na Baixada Fluminense é ostensivo; e aqui no Rio de Janeiro, quem conhece os sobrenomes e conhece as histórias sabe a quantidade de candidatos que representam as milícias direta e indiretamente, cada vez mais, e ocupando cargos importantes que lhes facultam acesso às informações, que são ferramentas de poder e de influência muito significativas.
Isso lhes aumenta o poder de chantagem, que não é nada de soft power, não é o poder suave, é um poder que pode se tornar cruento e brutal; de tal modo que podemos imaginar uma pessoa paranoica hoje no Rio de Janeiro, se ela trabalha nessa área e pensa sobre isso e é militante de direitos humanos. Ela, usando a razão com absoluta lucidez, sente-se definitivamente ameaçada. Entendo como justificado que pessoas se sintam sob cerco. Em artigo publicado na revista Piauí de setembro deste ano, eu dizia que vivo numa cidade sitiada, em um estado sob cerco. E o que impede o assassinato?
Nós diríamos que a visibilidade e os custos que o crime implica. E a Marielle? O motorista Anderson acabou morrendo tragicamente nessa situação, mas ela tinha toda a visibilidade, e isso não foi o bastante para protegê-la. No processo eleitoral passado, houve quem quebrasse a sua placa em público, no palanque em que estava o futuro governador do estado do Rio de Janeiro. Isso significa o segundo assassinato de Marielle. Escrevi sobre isso no meu livro Desmilitarizar (Boitempo), publicado em 2019. Chamei o ato de segundo assassinato de Marielle, porque era uma profanação.
Nós sabemos, os gregos nos ensinaram isso, que a verdadeira morte é o esquecimento. Não há pior condenação do que o esquecimento; ou seja, não há pior sentença do que a proibição de sepultamento; daí, na tragédia de Sófocles, toda a dedicação de Antígona para enterrar o irmão. Sepultar significa dar-lhe destino e constituir ali um marco que vai impedir a amnésia, vai lhe dar vida eterna em algum sentido na memória das gerações subsequentes, das gerações futuras. Quando se quebra a placa que é uma alusão à memória, que é a consagração da memória; quando se quebra o nome ao meio, e assim o símbolo mesmo da permanência, isso constitui uma profanação; mata-se pela segunda vez, porque se condena ao esquecimento simbolicamente. Evidente que isso não logrará êxito, ela não será esquecida, mas era esse propósito.
Mas isso é apenas o eco da homenagem a um torturador, violador, assassino, o Brilhante Ustra, por parte do presidente da República. Então, se o discurso e a postura são esses, como nós podemos imaginar que autoridades e lideranças se comovam sequer com ameaça à democracia e à civilidade, com o ataque à Constituição, se eles são perpetradores, profanadores. Dessa forma, nós não temos, de um lado, as instituições e, de outro, o crime. Essa é a nossa tragédia.
Desmilitarização da polícia, um caminho?
O tema da desmilitarização me é muito caro, e dediquei ao assunto um livro em 2019, cujo título é Desmilitarizar (Boitempo). Isso não é uma panaceia. Mas observem que nós temos nas milícias tanto policiais militares quanto policiais civis. A brutalidade policial letal não é um monopólio militar, nós encontramos envolvimento também de policiais civis. Aliás, me parece um contrassenso, até do ponto de vista constitucional, manter unidades bélicas ou protobélicas, unidades de ação de combate, como o Acori, que é um fac-símile do BOPE na Polícia Civil. Então quando nós discutimos a desmilitarização, nós não podemos nos iludir. Entendo que isso é imprescindível de resolver, mas está longe de solucionar nosso problema. É um passo necessário entre muitos outros.
Propus contribuir para a elaboração de uma Proposta de Emenda Constitucional, que foi apresentada pelo então senador Lindbergh Faria ao Senado Federal, em 2013, a PEC 51, em que nós elencamos um conjunto de medidas que funcionariam como uma verdadeira refundação das polícias brasileiras. Isso tudo realizado com pleno respeito aos direitos adquiridos dos trabalhadores policiais etc. Felizmente, um movimento importante, embora diminuto numericamente, dos policiais antifascismo tem na PEC 51 uma de suas principais bandeiras.
Hoje há pelo menos um discurso, uma proposta sobre a mesa para ser discutida para quem considere necessário refundar as nossas instituições na área de segurança. A PEC 51 envolve a desmilitarização como um dos pontos fundamentais. Quem tiver interesse, sugiro dar uma olhada no livro Desmilitarizar ou no meu site, no qual há muitas matérias e artigos meus, entrevistas em vídeo, áudio sobre desmilitarização e temas análogos. O site tem o meu nome: luizeduardosoares.com.
Corregedoria
Já acerca dos policiais corretos e sobre corregedoria, infelizmente a Corregedoria não funciona. E isso é histórico em todas as polícias, umas mais e outras menos. Mas como a influência do corporativismo é muito grande, nem o Ministério Público atua, quanto mais os controles internos. Não se pode generalizar porque há esforços aqui e ali, mas o controle interno numa instituição que está atravessada por atritos dessa monta não pode funcionar.
Eu criei, quando estive no governo, a Ouvidoria da Polícia. Nós tivemos uma pessoa maravilhosa, corajosa e de grande dignidade, a juíza Julita Lemgruber, como a nossa ouvidora. Mas essa atividade acabou desativada. Nós tínhamos, entre vários inimigos que combatemos naquele tempo, dois que se tornaram protagonistas de tragédias posteriores. Uma dessas figuras que nós combatemos se chama Ronnie Lessa, que hoje está preso, acusado de ter sido o assassino de Marielle e Anderson. O outro é o tenente coronel Claudio Luiz Oliveira, que está preso pelo assassinato da Juíza Patrícia Acioli em 2011. Os dois faziam parte da equipe que atuava em um batalhão, conhecido por “batalhão da morte”. Nós enfrentamos, com todas as denúncias em mãos, mobilizando instituições, e aquilo nos tomou parte das nossas vidas. Mas acabamos derrotados, e eu tive que fugir do país. Eles venceram: um assassino de Marielle e outro assassino da juíza Patrícia Acioli.
As condições de trabalho da PM
Mas, sobre policiais corretos, que são milhares, e para vocês terem uma ideia do que eles sofrem e passam, porque estamos aqui falando desses horrores todos, e não estamos demonstrando nenhuma empatia com os trabalhadores cidadãos policiais, e pelo seu padecimento. Eles são vítimas também, milhares e milhares deles. Uma promotora muito corajosa, honrada no Rio de Janeiro, resolveu apresentar um TAC ao governo do estado há poucos anos. TAC é um termo de ajuste de conduta, um instrumento legal, cuja utilização eu defendia ao longo de anos em palestras no Brasil inteiro para membros do Ministério Público, como uma ferramenta a ser aplicada, porque ações penais acabam embaraçadas pela política e condenadas a postergações sucessivas, enquanto o TAC é mais ágil, é um termo de ajuste, propõe correções a partir de diagnósticos, mobiliza a sociedade em instâncias independentes para acompanhar as correções, negocia e oferece alternativas e possibilidades de reajustes etc.
Então essa promotora ousou em elaborar um TAC, ouvindo as denúncias de policiais contra as suas próprias instituições, particularmente a Polícia Militar, e montou a versão do seu relatório final dizendo o seguinte: “Visitei policiais militares nas UPPs A, B, C, D, e os encontrei trabalhando em condições análogas à escravidão. Eles estavam em contêineres a 50 graus à sombra, e os equipamentos de ar refrigerado evidentemente não funcionavam, sem manutenção, sem energia. Não tinham banheiros, fazendo as necessidades no mato, sem água e sem alimentação, tendo de contar com a boa vontade das biroscas e da comunidade, se sentindo absolutamente vulneráveis com coletes à prova de bala vencidos, sem treinamento e, o pior, trabalhando em condições em regimes de tempo, em jornadas que ultrapassavam inclusive aquelas previstas para momentos absolutamente excepcionais e críticos”.
Quando ela preparou essa primeira versão do relatório, me pediu que levasse alguns oficiais da PM para uma conversa informal. Eram três coronéis amigos, grandes figuras que lutam até hoje, mas que já estão fora da corporação. Eles leram comigo essa primeira versão e, quando se depararam com esse parágrafo, eles se entreolharam, nos olharam e perguntaram: “Vocês sabem por que isso acontece? Porque eles são militares. Se eles fossem civis, jamais admitiriam esse nível de exploração, de espoliação, porque eles disporiam, senão de sindicatos, mas de organizações, de associações, a justiça trabalhista interviria. Porque isso é absolutamente desumano, mas eles não podem hesitar, eles não podem dizer um ai, não podem questionar, muito menos descumprir a ordem, sob pena de prisão administrativa, sem direito à defesa, sob pena de mácula em sua carreira, irremovível e indelével”. Esse é o quadro do tratamento dos policiais da base. O que nós podemos esperar?
Incertezas quanto ao porvir
Não basta impedir a eleição dos milicianos. É preciso muito mais do que isso, porque eles não chegaram aonde estão por eles próprios. Aliás, é curioso que estou usando o masculino, mas aqui de propósito, porque só há miliciano homem. Há uma questão da violência com o patriarcalismo, machista, falocêntrico, e há uma questão das milícias com esses exercícios despóticos de poder com masculinidade, objeto de uma indagação à parte muito importante. Mas enfim, os milicianos não chegaram onde estão por eles próprios. Eles dependeram da anuência de tantas e tantas cumplicidades, de tantos apoios, de tanta pusilanimidade, com tanta covardia e tanta corrupção, no sentido mais amplo da palavra, não naquele sentido menor e falta de compromisso democrático institucional, falta de capacidade de definir agendas com base em prioridades e urgências, e isso tudo remete de volta à sociedade, que não impôs isso aos seus representantes.
Então vamos lá: primeiro ponto, estamos cientes que lidamos com uma questão vital para a história do Brasil, a democracia brasileira, que não é uma questão de segurança pública apenas, é uma questão multidimensional. Foram feitas alusões genealógicas a circunstâncias de décadas anteriores, da natureza da nossa transição, a segurança privada, o modo de estruturação de organização das polícias que nós herdamos da ditadura e nunca reformamos, nunca atualizamos, independentemente dos governos que tivemos. Falamos do racismo estrutural e das desigualdades, do capitalismo autoritário sem os quais não haveria endosso, apoio à brutalidade policial que foi alimento e instrumento, mecanismo que proporcionou a autonomização desses nichos criminosos que acabaram redundando nas milícias. Enfim, desenhamos um quadro necessariamente multidimensional. Portanto, a resposta, a nossa reação, a nossa disposição de resistência tem de ser multidimensional. Nós vamos ter de atuar em múltiplas esferas e em muitas dimensões. Na sociedade deve-se discutir todos os demais aspectos, desde a questão da política de drogas, do encarceramento em massa, temas de que trato sempre com muita intensidade e que, por falta de tempo, não chegaram a ser tratados aqui.
Nós vamos ter que lidar com uma multiplicidade grande de temas. Mas acho que há um princípio a seguir: reconhecer a gravidade do que está diante de nós. Um presidente fascista, que não consegue impor o regime totalitário, mas é motivado por valores de natureza fascista, que encontra audiência fragmentada, digamos heterogênea, mas que também se apoia numa base sólida, ainda que pequena, mas sólida, e encontra respaldo da história brasileira autoritária, o que significa dizer que estamos diante de uma situação grave, de uma ameaça à democracia. E as milícias são, no Rio de Janeiro, demonstrações ostensivas de que há agentes operando no mundo do crime, dilapidando instituições fundamentais para a democracia e, portanto, corroendo as bases da democracia.
Nós estamos diante de uma situação grave e urgente. É inadmissível e não faz nenhum sentido, que um conjunto de atores políticos, a maioria deles de persuasão democrática e progressista, continue lidando com essa realidade como se nós vivêssemos uma situação trivial, normal, comum, tratando do seu quintal, da sua carreira, do seu projeto, e os partidos tratando dos seus quintais, da sua própria reprodução, dos seus próprios projetos.
Assim como parece inconcebível, como no caso desta pandemia, que alguém que tenha consciência da gravidade do que enfrentamos não tenha parado tudo, suspendido todas as dinâmicas e lógicas e compromissos anteriores, que são absolutamente razoáveis, justificáveis, mas que agora deveriam ser suspensos, para que todos nós nos uníssemos em torno da salvação das vidas durante a pandemia, também é igualmente grave que não se mobilizem os setores responsáveis para enfrentar a ameaça à vida face às ações genocidas das políticas de segurança e da justiça criminal, encarceradora voraz. Tal enfrentamento é vital, essencialmente para a própria democracia brasileira. Todos os que se irmanam nesse sentimento, nessa percepção, não teriam por que estar divididos em torno do que quer que fosse, por mais significativas que sejam as divergências. Elas não poderiam se sobrepor à união estabelecida pelo reconhecimento da gravidade desse problema e por nossa disposição de defesa da democracia.
Então, sinceramente, não consigo entender como faltam para o nosso país os estadistas, grandes lideranças com coragem de cortar na carne, de sacrificar seus partidos e seus projetos, de falarem francamente, de deixarem os jogos todos de lado. E cá estamos no Rio de Janeiro, caminhando para esse festival inacreditável de pulverizações pela cidade, numa eleição municipal em que os democratas com sensibilidade social estão totalmente divididos, cada um tratando o lado da sua própria linha, como se nós estivéssemos numa situação democrata normal.
Estamos diante de uma pandemia que vem sendo gerenciada de forma criminosa, e também diante dos crimes perpetrados pelas instituições da ordem, que geram o genocídio, e nós continuamos com as mãos sujas de sangue ao assistir tal espetáculo, que no fundo é uma manifestação do velho racismo estrutural, das desigualdades, mas agora em escala hipertrofiada, devorando o que resta de vida civilizada e democrática. Caso eu esteja errado, que bom, tomara. Está tudo normal, tranquilo; foi só um engasgo, um susto. Mas caso eu esteja certo, então nós estamos nos afastando de qualquer possibilidade de solução, porque ninguém tem a solução no bolso; até porque, para construí-la, precisamos de um trabalho coletivo e de grande mobilização da sociedade, e isso tem de partir dessa disposição de dialogar, de superar essas divergências e de esquecer, por ora, 2022, pois talvez não haja 2022, talvez nós não cheguemos lá em condições efetivamente democráticas. Vejam o que aconteceu na Hungria e o que está acontecendo na Polônia. Temos o exemplo da Bolívia próximo de nós, com outra metodologia. Nós vimos o que aconteceu nos EUA e vamos ver qual vai ser o nosso desfecho.
*Luiz Eduardo Soares foi secretário nacional de segurança pública (2003). Autor, entre outros livros, de Desmilitarizar – Segurança pública e direitos humanos (Boitempo).
Publicado originalmente no site Brazil, Amazônia, agora.