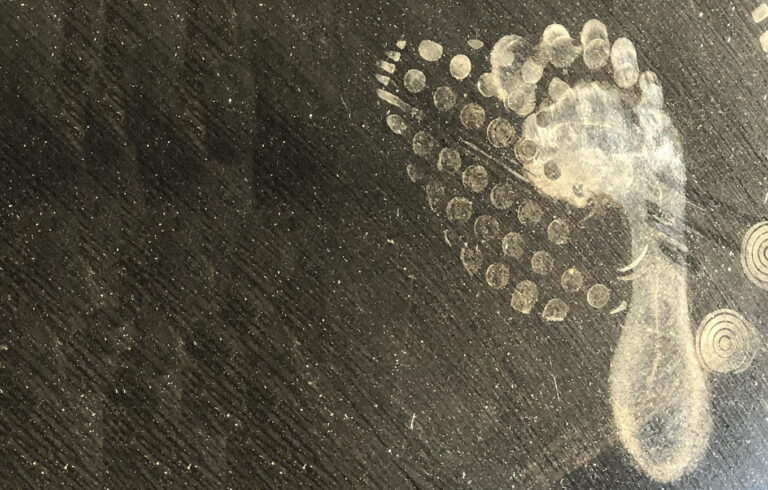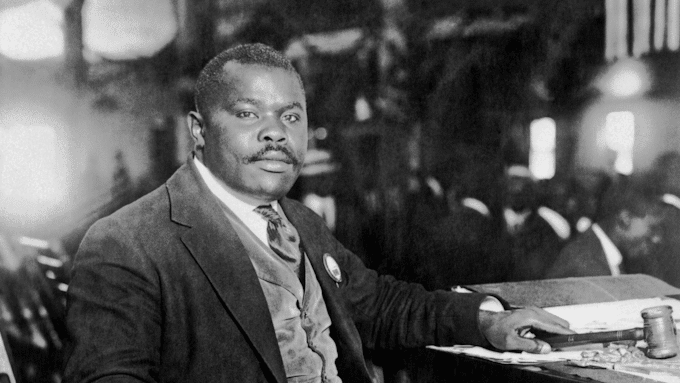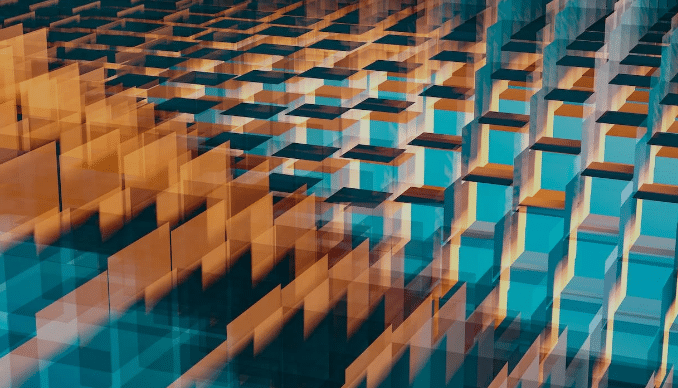Por LUIZ RENATO MARTINS*
A “morte da pintura” com propósito poético e político (trecho do livro La Conspiration de l’art moderne: une approche marxiste)**
Um desafio
Vou principiar aceitando o desafio que me foi proposto por um amigo querido Juan Antonio Ramírez, que me recomendou tratar da ligação da arte moderna com o regicídio. Em tempos de negação da história, é a essa intuição de historiador – que vou procurar responder.
Acaso ocorreu algo equivalente na história da arte moderna ao que foi o regicídio na história política e social? Deu-se a construção da arte moderna a partir de uma ruptura tal como aquela que ratificou em 1793 a fundação da república revolucionária, com o rito duplo de execução do casal Capeto, como ato refletido e deliberado coletivamente – percebido então não enquanto apenas francês, mas como reviravolta inédita e decisiva na história mundial?
– “Reproponha a história da arte moderna, a partir da ideia do regicídio…” – enquanto pedíamos algo para beber no balcão, lançou-me ele, falando de lado, como quem solta um comentário casual, talvez para fazer graça, ou talvez ainda contagiado pela agitação indisciplinada do quotidiano mexicano (no qual as coisas sobrevêm, encavalando-se)… Tendo devorado (como notei depois) um texto que eu lhe dera para ler no caminho, sobre a cena de Manet (1832-83) do fuzilamento de Maximiliano, foi com tal repto (desdobrado imediatamente numa de suas gargalhadas) que Juan Antonio me fez a provocação num café mambembe de beira de estrada, durante uma parada do ônibus na viagem de Oaxaca à Cidade do México.
Voltou depois ao tema algumas vezes, mas com tal insistência no tom, que acabei por notar em curso, mais do que o eros ou instinto de historiador – e mais também do que o chiste entre amigos –, de fato, o éthos de um republicano espanhol, irresignável ante a restauração e a retórica da conciliação, que perduram todavia como cláusulas pétreas na Espanha desde os acordos de la Moncloa em outubro de 1977, no pacote da transição sob regência franquista.
Como se sabe, pactos que se tornaram subsequentemente um paradigma para todas as transições conservadoras na América Latina – preparadas à luz de Moncloa para impedir o povo de inundar as ruas (segundo ocorrera pouco antes em Portugal na derrubada alegre e popular do regime salazarista em abril de 1974, e fenômeno que o franquismo, com apoio ativo dos Estados Unidos, tratava a todo custo de evitar); em resumo, pactos que constituíram a seu modo um experimento pontual antecipado da imposição do totalitarismo neoliberal em escala mundial.
O repto virou um compromisso e, depois infelizmente, também o legado afetivo de um amigo que partiu cedo demais.[i]
Regicídio
Farei como um detetive. Traduzirei a figura do regicídio, carregada de simbolismo e com a força sintética de um ato fulminante, noutras perguntas mais miúdas, a fim de começar passo a passo a investigação.
Devo esclarecer que estipulamos desde logo, entre Juan Antonio e eu, tomar o regicídio na pintura não como motivo, mas sim como operação de linguagem ou ato simbólico. Por conseguinte, por regicídio quanto à pintura – entendendo-se a última como modo régio da visualidade ou paradigma visual maior – se trataria de reexaminar os termos e as circunstâncias da chamada “morte da pintura” não decerto como fato natural ou de caducidade, mas como ato de juízo et pour cause com propósito poético e político.
Do “ancien régime” ao regicídio: questões
Isso posto, avancemos na investigação cujo desiderato consistirá segundo o repto em reconstruir os nexos de um processo histórico mediante uma narrativa crítica sistematizada. De quando datam a irrupção da heterogeneidade e da inconciliabilidade como experiências pictóricas? Desde quando se extinguiu o “primado divino da harmonia” ou da unidade metafísica clássica como princípios da ordem artística e se instaurou ao invés uma espécie de “direito natural” dos diferentes materiais? Em que circunstâncias ocorreu a irrupção plebeia e materialista, que trouxe à pintura toda sorte de práticas vulgares e sem traço de mestria, além dos materiais ordinários organicamente ligados ao trabalho e à vida das grandes maiorias? Desde quando a pintura foi arrebatada dos recintos palacianos e da reclusão do espírito e imergiu nas convulsões e nas contingências das cidades e megalópoles?
Noutros termos, para esboçar a transição que levou a pintura à negação e superação do seu Ancien régime, buscarei situar, quanto à esfera da visualidade e à sua história, a dissolução do regime de direito divino na pintura e a transformação desta em elemento de um novo regime republicano exposto ao andamento tenso e dilacerante do conflito das classes.
Porém, primeiro problema: como traduzir tais noções eminentemente jurídico-políticas e provenientes da reflexão acerca da história social em termos de ideias estéticas, sem desmerecer a especificidade e a dinâmica própria a umas e outras? Aí se tem uma das dificuldades – e, decerto, não das menores – implicadas no desafio de Juan Antonio.
Demonstração
Principiemos a investigação tratando da sua base histórico-material antes daquela jurídica e abstrata. Comecemos assim por especificar o processo de modernização acelerada segundo a experiência da fragmentação e da descontinuidade – ou do “choque”, como dizia Walter Benjamin (1892-1940) referindo-se ao processo de transformação generalizado que atingia fortemente o entorno de Edgar Allan Poe (1809-49) e Charles Baudelaire (1821-67).[ii] Voltemos então nossa atenção para o pintor que Charles Baudelaire denominou de “o primeiro na decrepitude” de sua arte:[iii] Édouard Manet – a quem tocou também retomar, revalorizar e reatualizar o tema-tabu do regicídio nos trabalhos sobre o fuzilamento de Maximiliano, tema ao qual retornou por cinco vezes de julho de 1867 até aproximadamente o final de janeiro de 1869, quando deu por concluída a tela, hoje em Mannheim, e a litogravura a ela associada.[iv] Desde logo, note-se, pois, regicídio, descontinuidade e choque são experiências com distintas denominações, mas oriundas do mesmo leito histórico.
Entretanto, desde antes das telas sobre o fuzilamento de Maximiliano, se admitirmos a articulação de elementos descontínuos como premissa primordial da noção de colagem, e esta como sintaxe inerente a uma relação entre elementos essencialmente heterogêneos (à diferença de uma sintaxe de fundo natural e de uma fluência orgânica e contínua), poderemos considerar que algo de uma colagem – ou de uma experiência visual à base de choques – já se apresenta em Le Déjeuner sur l’Herbe (Almoço sobre a Relva, 1863, óleo sobre tela, 208 x 264 cm, Paris, Musée d’Orsay) de Éduard Manet.
Seu tema, dois burgueses e duas figuras femininas num bosque, soma empréstimos de duas obras da tradição: uma gravura de Marcantonio Raimondi (ca. 1480-1534), O Julgamento de Páris (Il Giudizio di Paride, ca. 1515-16, gravura, 29,2 x 43,6 cm, London, The British Museum), feita a partir de uma obra hoje perdida, de mesmo título, de Rafael (1483-1520); e o Concerto Campestre (Il Concerto Campestre, ca. 1510, óleo sobre tela, 118 x 138 cm, Paris, Musée du Louvre), de Tiziano (ca. 1485/90-1576). Com que fim?
Com efeito, seu propósito, para ser breve, foi principalmente o de explicitar a negatividade positivadora própria ao processo histórico capitalista que a tudo desmancha e transforma sob nossos olhos. Desse modo, a pintura de Manet buscava efetuar com método e recorrência o retorno a figuras da tradição, escolhidas pelo pintor com apuro filológico – precisamente para demonstrar a impossibilidade de tal. Um des-revival didático era a finalidade de tal experiência, filha a seu modo senão de Hegel, do historicismo (note-se que Chenavard, pintor da geração anterior, interlocutor e amigo de Delacroix e Baudelaire, fizera do processo histórico o seu grande motivo. Porém – à diferença de Édouard Manet –, no método de Chenavard, desprovido ainda de preocupações filológicas e materialistas, as formas, as bases e os parâmetros de sua pintura permaneciam inabalavelmente neoclássicas).
Entretanto, a operação crítica de Édouard Manet antes de esgotar o problema apenas o introduzia. Urgia os observadores de suas telas a mapear a própria atualidade sob incessante transformação, como já notara, antes do pintor, Baudelaire – este sim já materialista e filólogo da vida moderna –, sem esquecer, é claro, do Manifesto comunista (1848), de Marx (1818-83) e Engels (1820-95).[v]
Assim o tratamento dos materiais da tradição em Déjeuner… aparece em contraste abrupto com os valores de harmonia do classicismo de Rafael e do sistema cromático de Tiziano e Giorgione (1476/8-1510) – a quem outrora também se atribuiu O Concerto Campestre. Nesse sentido desenvolvem-se várias dissonâncias na tela de Manet, como, por exemplo, a ausência de transição entre luz e sombra em favor do estabelecimento de oposições cromáticas contrastantes – e desde já e sem mais dou por evidentes outras tantas sem mencioná-las, para melhor me deter na questão estratégica e exemplar do teor absurdo da cena, que desloca e ocupa o lugar do comércio agradável com as musas renascentistas do Concerto...
Em contrapartida, no Déjeuner…, situado nos arrabaldes da Paris do II Império, encontram-se ao lado de uma mulher em luminosa nudez dois burgueses engravatados a entreter-se prosaicamente como se estivessem sós ou ausentes da situação; um de olhar perdido e a vagar, outro que discorre contando nos dedos como se a calcular algo, tendo em vista negócio ou coisa que o valha. Ao fundo, nota-se a segunda figura feminina semiagachada e absorta, a colher algo do solo e dissociada das três personagens à frente, o que, feitas as contas, reforça os disparates da cena, sem deixar de destacar subliminarmente também os laços (atomizados) de cada uma das figuras com a época.
Por certo, com tantos e tais contrassensos evidentes, a cena parecia ao invés de narrar ou designar algo, mofar do bom senso corrente. Não obstante, em paralelo, introduzia de modo sub-reptício elementos de um novo tipo de realismo, fragmentário e comportando efeitos de choque que punham em evidência traços do modo de ser corrente. De fato e com efeito, em ambos os registros de percepção, a linguagem do Déjeuner… devia e não pouco aos dioramas, panoramas e outros jogos visuais da indústria do entretenimento na Paris da época.[vi] Os elementos visuais e as partes da pintura foram elaborados como se destinados a obras e cenas distintas. A desfaçatez da operação soou como um atentado contra a “alta pintura”, de paladar neoclássico, exibida nos Salões. [vii]
Almoço de classe
A despeito da estratégia de provocação, e para além do festival de incongruências, também é possível estabelecer mediante deduções e sínteses o sentido das referências da cena do Déjeuner ... Assim, para um republicano radical e de espírito mordaz ante a restauração bonapartista – que Marx já há dez anos classificara de farsa –,[viii] a cena, antes de absurda por si, poderia bem evocar um tanto da situação política reinante. A tela operaria nesses termos ao modo de uma paródia ou caricatura, na linha por exemplo daquelas de Daumier (1808-79) – aliás, um autor desde cedo muito apreciado por Baudelaire[ix] e tomado como exemplo pelo jovem Manet (discípulo do crítico-poeta) a despeito da exasperação de Couture (1815-79), seu mestre no métier.[x]
Nessa perspectiva, a figura feminina nua ladeada pelos dois burgueses enfatiotados – mas dando de ombros a estes enquanto fita diretamente o espectador – bem poderia valer como uma Marianne (a conhecida imagem alegórica da república francesa), tópico central por exemplo do quadro emblemático de Delacroix (1798-1863) – outro mestre da geração anterior –, La Liberté Guidant le Peuple (1830, óleo sobre tela, 325 x 260 cm, Paris, Louvre), acerca das chamadas “Jornadas gloriosas” da Revolução de 1830.[xi]
Só que a Marianne de Édouard Manet – figura de farsa, a valer a sentença de Marx – em vez de guiar o povo aparece isolada do meio urbano e instalada na relva tal uma espécie de butim, troféu ou animal de estimação, ornamentando o piquenique de dois burgueses provavelmente em busca de um refúgio bucólico ante o rumor e a poeira das grandes reformas de Paris, encomendadas por Napoleão III (1808-73) ao barão Haussmann (1809-91).
Marianne desnudada e sem palavras
Nesses termos a cena aparece justamente como um contraponto irônico ao quadro de Delacroix – que, na esteira das jornadas míticas de 1830, celebrara a união política da burguesia com o povo. Já Manet, nascido em 1832 e pintando trinta anos depois, decerto não tinha como acalentar ilusões similares. De fato, em sua memória histórica amontoavam-se as muitas cenas de iniquidades da monarquia burguesa (caricaturizadas por Daumier), o papel da burguesia nos massacres de junho de 1848, e por último, o beneplácito desta ao golpe de estado de 2 de dezembro de 1851.
Logo, vista nessa outra chave – em contraposição à tela de Delacroix –, a cena poderia bem corresponder ao juízo que um republicano como Édouard Manet[xii] faria acerca do II Império – nascido do cambalacho de dezembro de 1851.[xiii] Para resumir, a tela entre irônica e alegórica aludiria à situação do Estado e da vida política na França, monopolizados pela burguesia; e, enfim, às suas tratativas opacas e alianças escusas a expensas do interesse público ou da Marianne – agora perplexa e muda, desnudada e quase em oferta na relva – convertida no exato oposto da austera e virtuosa Marianne de traços clássicos dos anos primordiais I e II, sempre num pedestal ou elevada como mensageira das verdades fundamentais da Nação. Em contraponto, a Marianne na relva, apresentada por Manet com o ar de frescor de uma parisiense contemporânea – anônima entre muitas outras no mercado de trabalho (feminino) e de prazeres (masculinos) –, é uma precursora da atendente que, desde o lado de lá do balcão, em Un Bar aux Folies-Bergères (1881-2, óleo sobre tela, 96 x 130 cm, London, Courtauld Institute Galleries), fita sem palavras o ilustre cliente, senhorial e de cartola, entrevisto via a imagem no espelho.
Analogamente, a figura feminina ao fundo absorta a colher algo do solo bem poderia ter saído – não fossem as vestes, parodicamente sugestivas do relicário neoclássico da moda kitsch império – de uma tela como Des Glaneuses (As Catadoras, 1857, óleo sobre tela, 83,5 x 110 cm, Paris, Musée d’Orsay), de Millet (1814-75) (outro autor marcante e ponto de referência da geração pictórica anterior, ainda que não para a perspectiva urbana e cosmopolita de Manet). A valer a ligação declarada entre a pintura de Millet e a vida camponesa na França, a efígie feminina em segundo plano consistiria no caso noutra alegoria de classe – aqui, a dos camponeses; estes de algum modo base passiva da política do II Império, porém ao mesmo tempo alijados do foco dos grandes negócios, a começar pelas megarreformas de Paris.
Em conclusão – e a considerar tudo isso –, teria então o observador do Salão de 1863 diante dos olhos uma cena satírica no gênero daquelas caricaturas de Daumier – mas, transpostas para a pintura – e ao mesmo tempo uma na qual se entrecruzariam múltiplas referências aos mestres da geração anterior ainda em atividade àquela altura. Fato é que a tela enfureceu muitos – ao juntar “fios desencapados”, como se diria após o advento da fiação elétrica – e, nesses termos, ela bem pode ser tida como um exemplo, quanto à ordem ainda régia da pintura, do que foi qualificado de “estética antiburguesa” por Oehler.[xiv]
Enfim, pode-se conceder que tal hipótese pareça em princípio cabível. Mas não é dela que interessa tratar aqui. Muito mais do que a dimensão da significação pontual de uma tela, está em jogo, a partir do desafio proposto por Juan Antonio – envolvendo uma reordenação narrativa sistematizada do processo histórico da arte moderna –, estabelecer um princípio produtivo de amplo espectro ligado de algum modo ao regicídio. A partir de tal princípio ter-se-ia posta uma transição do “ancien régime” da pintura, fundado na unidade pictórica dos elementos ou no princípio “divino” de harmonia da obra, rumo a uma nova esfera de visualidade, desta vez querendo-se consoante “premissas republicanas” – a se lograr, é claro, segundo o repto de Juan Antonio, estabelecer alguma ponte ou equivalência plausível entre a esfera jurídico-política e aquela da estética, tida na tradição do idealismo ilustrado desde Kant (1724-1804) correntemente por “autônoma”.[xv]
*Luiz Renato Martins é professor-orientador dos PPG em História Econômica (FFLCH-USP) e Artes Visuais (ECA-USP). É autor, entre outros livros, de The Conspiracy of Modern Art (Haymarket/ HMBS).
**Extrato do trecho inicial da versão original (em português) do cap. 11, “De um almoço na relva às pontes de Petrogrado (notas de um seminário em Madrid): regicídio e história dialética da arte moderna”, do livro La Conspiration de l’art moderne: une approche marxiste, édition et introduction par François Albera, traduction par Baptiste Grasset, Paris, éditions Amsterdam (2024, prim. semestre, proc. FAPESP 18/ 26469-9).
Notas
[i] Juan Antonio Ramírez propôs o desafio em outubro de 2007, e tomou parte em sua primeira etapa, que consistiu na apresentação do trabalho encomendado em seu seminário de pós-graduação na Universidad Autónoma de Madrid em algumas sessões de 5 a 21 de janeiro de 2009. Findo o seminário, Juan Antonio propôs que os apontamentos para a fala fossem reunidos a outros ensaios meus, a serem publicados num volume da coleção “Biblioteca azul” que ele dirigia para as edições Siruela (Madrid). Em setembro, Juan Antonio faleceu repentinamente.
[ii] “O choque enquanto forma preponderante da sensação acha-se acentuado pelo processo objetivado e capitalista do trabalho. A descontinuidade dos momentos de choque encontra sua causa na descontinuidade de um trabalho tornado automático, não admitindo mais a experiência tradicional que presidia ao trabalho artesanal. Ao choque experimentado por aquele que flana na multidão corresponde uma experiência inédita: aquela do operário diante da máquina” (Le choc en tant que forme préponderante de la sensation se trouve accentué par le processus objectivisé et capitaliste du travail. La discontinuité des moments de choc trouve sa cause dans la discontinuité d’un travail devenu automatique, n’admettant plus l’expérience traditionelle qui présidait au travail artisanale. Au choc éprouvé par celui qui flâne dans la foule correspond une expérience inédite: celle de l’ouvrier devant la machine) ». Cf. Walter BENJAMIN, “À propos de quelques motifs baudelariens”, in idem, Écrits Français, introduction et notices de Jean-Maurice Monnoyer, Paris, Gallimard/ Folio Essais, 2003, p. 317. O trecho acima é parte do resumo que acompanhava o texto Über einige Motive bei Baudelaire, publicado pela revista Zeitschrift für Sozialforschung (n. VIII, 1939/1940, pp. 50-89), apud J.-M. Monnoyer, in W. BENJAMIN, op cit., p. 302.
[iii] “(…) vós não sois senão o primeiro na decrepitude da vossa arte (…vous n’êtes que le premier dans la décrépitude de votre art ) ” (itálicos do original). Cf. Charles BAUDELAIRE, “165. À Édouard Manet/ [Bruxelles] Jeudi 11 mai 1865”, in idem, Correspondance, choix et présentation de Claude Pichois et Jérôme Thélot, Paris, Gallimard, 2009, pp. 339-41.
[iv] A edição de 7 de fevereiro de 1869 de La Chronique des Arts et de la Curiosité: Supplément à la Gazette des Beaux-arts, de Paris, noticiou que a tela, hoje em Mannheim, fora concluída havia pouco, e segundo afirmava o jornal era “excelente”. Essa notícia da Chronique constituiu uma suíte da nota irônica de Emile Zola, amigo de Manet, publicada em La Tribune (Paris, 04.02.1869) acerca da litografia censurada. Essa litografia – com a mesma estrutura composicional da tela – foi certamente preparada em paralelo com a tela. A interdição à exibição da tela, anunciada em carta – possivelmente do Ministério do Interior a Manet –, veio acompanhada no mesmo documento da interdição à impressão da litografia cuja matriz já se encontrava em mãos do impressor Lemercier. Para as transcrições da nota pessoal de Manet a Zola em 31 de janeiro acerca da censura, bem como dos textos jornalísticos subsequentes, ver Juliet WILSON-BAREAU (ed. by), “Documents relating to the ‘Maximilian Affair’”, in Françoise CACHIN, Charles S. MOFFET, J. WILSON-BAREAU, Manet 1832-1883, catalogue of the exhibitions (Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 22 Ap.- 08 Aug.1983; The Metropolitan Museum, New York, 10 Sept. – 27 Nov. 1983), New York, The Metropolitan Museum/ Abrams, 1983, pp. 531-32.Para mais detalhes sobre a série de pinturas de Manet sobre a execução de Maximiliano, ver Juliet Wilson-Bareau “Manet and The Execution of Maximilian”, in idem, Manet: the Execution of Maximilian/ Paintings, Politics and Censorship, London, National Gallery Publications, 1992, pp. 35-85. Ver também John ELDERFIELD, Manet and the Execution of Maximilian, cat. da exposição de mesmo título (MoMA, N. York, 5 Nov. 2006 – 29 Jan.2007), New York, 2006, p. 116. Para a importância chave da série de trabalhos sobre a execução de Maximiliano no conjunto da produção de Manet, ver «Retornos do regicídio» neste volume.
[v] “A burguesia não pode existir sem revolucionar, constantemente, os instrumentos de produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, todas as relações da sociedade (The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the means of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society).” Cf. Karl Marx e Friedrich ENGELS, O Manifesto Comunista, trad. Patrícia M. S. de Assis, revisão de André Carone, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1998, p. 13; K. Marx e F. ENGELS, The Communist Manifesto, edited by Phil Gasper, Chicago, Haymarket, p. 44.
[vi] Ver Susan BUCK-MORSS, The Dialectics of Seeing/ Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge (MA), The MIT Press, 1991; S. BUCK-MORSS, Dialética do Olhar: Walter Benjamin e os Projetos das Passagens, trad. Ana Luiza Andrade, rev. téc. David Lopes da Silva, Belo Horizonte/ Chapecó (SC), Ed. UFMG/ Ed. Universitária Argos, 2002. Ver também, Jonathan CRARY, Techniques of the Observer/ On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge (MA), October Book/ MIT Press, 1998; trad. br.: Técnicas do Observador/ Visão e Modernidade no Século XIX, trad. Verrah Chamma, Rio de Janeiro, Contraponto, 2012.
[vii] Dentre os ofendidos pela ironia da tela de Manet, constaria à época o próprio imperador Napoleão III (1808-73) – este, admirador de outro pintor, Alexandre Cabanel (1823-89), respeitoso dos padrões e cujo Nascimento de Vênus (La Naissance de Vénus, 1863, óleo sobre tela, 130 x 225 cm, Paris, Musée d’Orsay) triunfaria no Salão naquele ano, conquistando o prêmio da aquisição pelo imperador. Ver Michael WILSON, “Le Déjeuner sur l’Herbe” in idem, Manet at Work, cat. Manet at Work (London, The National Gallery, 10 August – 9 October 1983, exh. org. by M. Wilson), London, The National Gallery, 1983, p. 22.
[viii] Ver K. MARX, O 18 Brumário de Luís Bonaparte, in idem, O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann, trad. de Leandro Konder e Renato Guimarães, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 5ª ed., 1986; K. MARX, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte” in Mark Cowling and James Martin (edited by), Marx’s ‘Eighteenth Brumaire’/ (Post)modern interpretations, transl. by Terrell Carver, London, Pluto Press, 2002, pp. 19-109.
[ix] Ver, por exemplo, C. BAUDELAIRE, “Quelques caricaturistes français”, in idem, Oeuvres Complètes, texte établi, présenté et annoté par C. Pichois, Paris, Pléiade/ Gallimard, 2002, vol. II, pp. 544-63.
[x] Segundo Cachin, “a insolência de Manet no ateliê de Couture (de quem Manet foi aluno) era proverbial” e o mestre – que alguma vez comentou a respeito: “ele sempre será incorrigível, o que é uma pena porque ele tem talento” – teria lhe dito numa ocasião, diante da insistência de Manet em retratar tipos do seu tempo em detrimento de modelos neoclássicos: “Meu pobre jovem, você nunca será mais do que o Daumier do seu tempo”. Apud Françoise CACHIN, Manet, transl. Emily Read, New York, Konecky & Konecky, 1991, p. 12. Para além do alinhamento de juventude com Daumier, reprovado por Couture, Manet adotou na tela expedientes do caricaturista: se o vestuário contemporâneo das figuras masculinas conferia atualidade à cena, já as figuras femininas, ambas caracterizadas conforme clichês neoclássicos e ironizando o anacronismo do gosto reinante, rematavam a conjunção em paródia. Quanto à relação de Manet com Daumier, Fried destaca os vínculos explícitos de dois trabalhos de Manet, O Toureiro Morto (1864, óleo sobre tela, 75,9 x 153,3 cm, Washington D.C., National Gallery of Art) e a litografia Guerre Civile (1871, lito, 39,7 x 50,8 cm, Imp. Lemercier et Cie, London, The British Museum), com a lito emblemática de Daumier, Rue Transnonain (1834), sobre o massacre de populares pelas tropas do regime de Luís-Felipe, ocorrido em 15 de abril de 1834. Ver Michael FRIED, Manet’s Modernism or, The Face of Painting in the 1860s, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1996, n. 165, pp. 495-6.
[xi] Ver Dolf OEHLER, “Liberté, Liberté chérie/ Fantasias masculinas sobre a Liberdade”, tradução de J. B. Ferreira in D. OEHLER, Terrenos Vulcânicos, tradução de S. Titan Jr., M. Suzuki, L. Repa, J. B. Ferreira, São Paulo, Cosac & Naify, 2004, pp. 195-216. (edição original não consultada:Dolf OEHLER, “Liberté, Liberté chérie. Männerphantasien über die Freiheit. Zur Problematik der erotischen Freiheitsallegorie”, in Peter von Becker (org.), Georg Büchner – Dantons Tod. Die Trauerarbeit im Schönen. Ein Theater-Lesebuch (Frankfurt, Syndikat Verlag, 1980), pp. 91-105.
[xii] Desde bem jovem, Manet manifestava desconfiança e animosidade política contra Luís Napoleão, àquela altura presidente da República eleito há quatro meses (10.12.1848). Assim, em carta de 22.03.1849 aos dezessete anos de idade, desde o Rio de Janeiro, escrevera ao seu pai: “… tratem de guardar para nós para a nossa volta uma boa República, porque eu temo que L. Napoleón não seja muito republicano”. Cf. Édouard MANET, Lettres du Siège de Paris/ Précédées des Lettres du Voyage à Rio de Janeiro, intr. d’Arnauld Le Brusq, Éditions de l’Amateur, 1996, p. 35. Ver também M. FRIED, op. cit., n. 235, p. 506. Sobre a intensidade da relação de Manet com o historiador republicano Jules Michelet (1798-1874), amigo de seus pais, ver idem, pp. 130-1, 142. Para Fried, “o republicanismo pessoal de Manet exerceu um papel ativo na sua arte”. Cf. idem, p. 404.
[xiii] Para o observador atual, O 18 Brumário, de Marx – apesar de especificamente referido ao período precedente ao do II Império – constitui um ponto de observação indispensável para de fato se compreender o sarcasmo que as coisas do II Império despertavam entre os republicanos radicais. À época, entretanto, é pouco provável que o jovem Manet tenha tido acesso ao texto. A fonte então corrente das sátiras que valiam igualmente para a II República e o II Império eram basicamente as caricaturas, desenhadas e modeladas em terracota por Daumier, em grande parte também provenientes do período anterior, pré-1851. Nesse sentido a potência corrosiva do texto de Marx, para além da verve irônica que é própria a este, empresta e transplanta para a escritura procedimentos das caricaturas de Daumier. Assim mesmo sem Marx, Manet dispunha do que se nutrir para ironizar os meios e modos do II Império.
[xiv] Para a noção de “estética anti-burguesa”, ver D. OEHLER, Le Spleen Contre l’Oubli/ Juin 1848/ Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, trad. Guy Petitdemange, Paris, Éditions Payot, 1996, pp. 8-9 e 15-22. Para o desenvolvimento da noção em estudo precedente, ver idem, Pariser Bilder (1830-1848): Antibourgeoise Ästhetik bei Baudelaire, Daumier und Heine, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979 (não consultado). Quadros Parisienses (1830-1848): Estética Anti-burguesa em Baudelaire, Daumier e Heine, tradução J. M. Macedo e S. Titan Jr., São Paulo, Companhia das Letras, 1997.
[xv] Para a discussão da questão, por Baudelaire, ver L. R. MARTINS, “A conspiração da arte moderna”, in idem, Revoluções: Poesia do Inacabado 1789-1842, vol. 1, prefácio François Albera, São Paulo, Idéias Baratas/ Sundermann (apoio FAPESP), 2014, pp. 27-44.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como