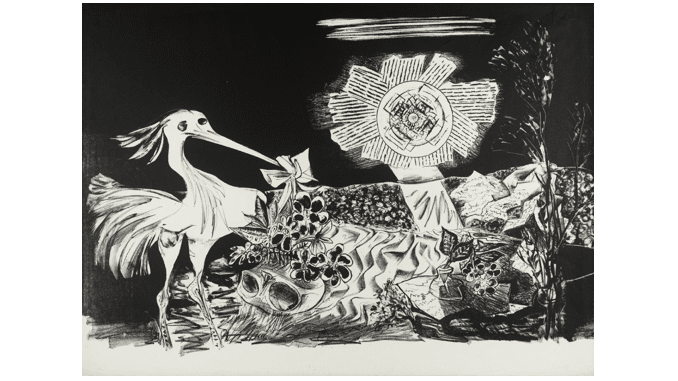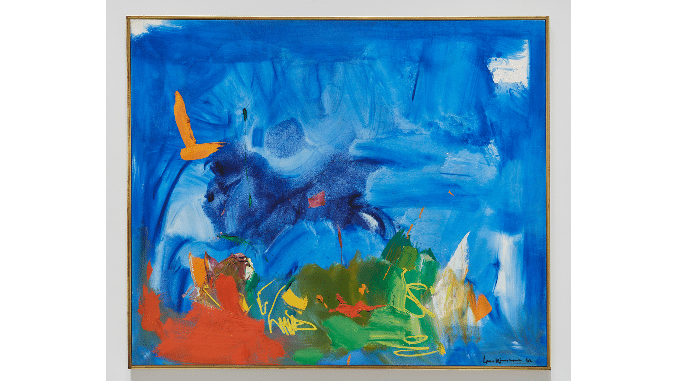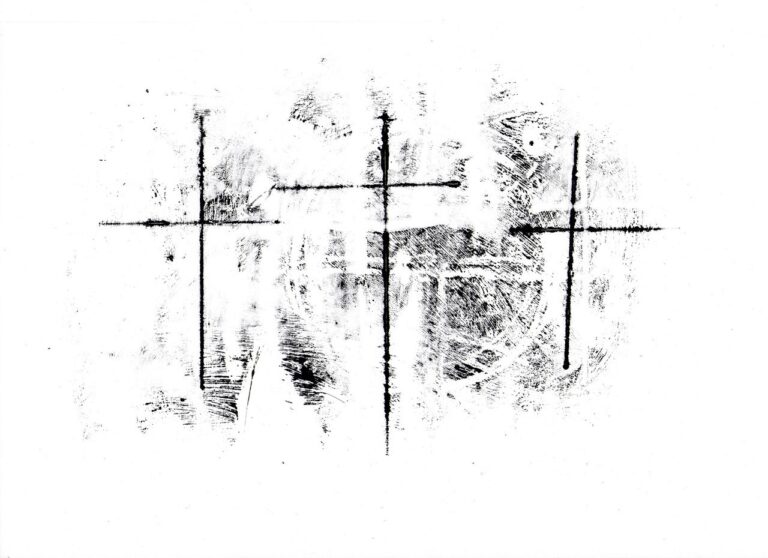Por RENATO JANINE RIBEIRO*
Apresentação do autor ao livro recém-publicado
O futuro será melhor
“A política voltará a ter futuro” é um título-aposta, que preciso justificar. Hoje vivemos o descrédito dos políticos e da própria política. É um fenômeno mundial. Se deixarmos de lado o papa Francisco, o Dalai Lama e a chanceler alemã Angela Merkel, que líderes democráticos temos no mundo, no começo de 2021? E notem que os dois primeiros são do campo espiritual: no plano da política propriamente dita, que por definição é leiga, restou apenas a dirigente da Alemanha, que aliás quando sair este livro já deverá ter deixado o poder, como anunciou. Restam governantes medianos, médios ou medíocres, na melhor das hipóteses; a maior parte é realmente ruim. É verdade que Rússia e China, dois países ex-comunistas que não são democracias, têm governantes acima da média; mas isso apenas prova que hoje faltam lideres às democracias.
Já o descontentamento com a política pode se dever a muitas causas – até mesmo ao fato de que o mundo se democratizou. O descontentamento seria – paradoxalmente – fruto de um relativo sucesso? Como talvez meia humanidade hoje disponha de liberdade pessoal e política, já não a empolgaria lutar por mais, nem para si mesma, nem para os outros seres humanos a quem faltam essas liberdades.
A democracia, realizando-se – mas de forma banal, nada utópica – nos teria colocado frente a nossa própria banalidade: teríamos líderes medíocres, porque o eleitorado se reconhece neles. A frase célebre de Umberto Eco, segundo a qual a internet deu voz aos imbecis, implicaria que esses imbecis não queiram mais eleger pessoas que admirem, em quem se possam inspirar – mas sim os clones deles, imbecis. A mediocridade hoje é vista como sinal de autenticidade. Comparem, na França, Sarkozy e Hollande, em nosso século, a de Gaulle e Mitterrand, poucas décadas antes: um abismo separa os dois chefes de Estado que tinham noção da grandeza de seu país e os presidentes mais recentes (e que não foram os piores chefes de Estado de nosso século, notem bem).
Ou o descontentamento com a política pode decorrer, trivialmente, da crise econômica de 2008, que demorou a repercutir no Brasil mas, destruindo riquezas mundo afora, gerou uma queda generalizada do nível de vida. Nesta hipótese, a vida política se torna efeito da vida econômica. A confiança num líder derivaria do crédito com o qual ele irriga a economia, facilitando a compra de bens de consumo (o que desenvolvo num artigo deste livro). Já faz tempo se afirma um declínio do homem contemporâneo, que estaria indo de cidadão a consumidor. Parece que, finalmente, em nossos dias, a cidadania foi substituída pelo consumo – ou, pelo menos, se viu fortemente subordinada a ele. Se nosso nível de vida não subir o tempo todo, nos decepcionamos. Parece ser esse o principal critério para as pessoas decidirem o voto.
Não se trata de pessoas indignadas com a perda de seu nível de vida: elas se revoltam porque se frustrou seu desejo de terem sempre mais. Vivem na comparação: embora no Brasil os anos Lula tenham melhorado a vida dos miseráveis e pobres sem prejudicar os mais abastados, estes se sentiram diminuídos, muitas vezes, ao se compararem àqueles. Viveram uma perda de status, mas só por comparação. (Rousseau considerava isso o pior traço da vida em sociedade: o ser humano deixa de ser “homem da natureza”, o que traduzo simplificadamente como “ele mesmo”, do modo que nasceu, e passa a ser “homem do homem”, isto é, alguém incapaz de saber quem é e que só consegue se enxergar emprestando o olhar alheio).
Assim, estes anos se tornaram maus para a política. Ainda mais se eu tiver razão na hipótese que levantei, em meu livro A boa política, de que hoje política se torna sinônimo de democracia, isto é: em vez de política se referir a poder, e de o substantivo “poder” se dividir em democrático, ditatorial, despótico autoritário, totalitário, em suma, em várias espécies, somente haverá política (o regime no qual a força é substituída pela palavra, pela persuasão) em nossos dias quando houver democracia. Quer dizer: estes últimos anos também foram negativos para a democracia.
Por quê?
Há duas respostas possíveis.
1.
A primeira, sugeri acima, é que se teria chegado a certa satisfação com o que se obteve. Com metade da população mundial protegida da fome, da miséria, da opressão deslavada, o que essa maioria há de querer ainda? O pensamento liberal e o capitalismo – que sabe que não pode fornecer o melhor dos mundos imagináveis – promoveram uma desqualificação em regra da utopia. Ela passou a ser entendida como algo impossível, ou pior, negativo: porque, lutando por um homem melhor, se entraria no mundo da ditadura, do totalitarismo, da mentira.
Ora, se é inútil melhorar a sociedade, o que podemos esperar – além do consumo? Viveríamos numa “democracia resignada”. A cada tentativa de ir além, ouvimos a mesma resposta: é impossível. Muitos argumentos foram construídos para justificar tal mediocrização da política. Alega-se que o ser humano é egoísta e que o comunismo, querendo criar um “homem novo”, acabou produzindo contrafações, mentiras. Melhor, então, termos um homem egocêntrico, mas que respeite as leis e maximize seus ganhos, do que um homem que se diz melhor, mas, na prática, é pior. Nós nos deteríamos num saudável, ainda que enfadonho, meio termo. (E insistamos no enfadonho…).
Mas o erro dessa perspectiva é que só faz sentido se for contraposta a uma miragem, a um espantalho. Ela precisa desesperadamente do comunismo como contraponto. Daí que hoje, quando nada resta do comunismo no poder ou mesmo como alternativa de poder, haja quem denuncie como “comunismo” o que é simples social-democracia ou, mesmo, liberalismo. É o que faz a extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, nos países em que chegou ao governo ou se tornou alternativa de poder, como na própria França, onde há um receio de que, por insistência, algum Le Pen acabe chegando à presidência… Daí que a própria ecologia, ou os movimentos por uma vida mais saudável mental e fisicamente, sejam desqualificados como totalitários, o que é puro absurdo.
Esse erro de concepção é, porém, muito eficaz, ao abortar voos maiores, ao manter a humanidade numa vida mesquinha, do ponto de vista espiritual e moral. Resumindo, o capitalismo triunfou ao custo de reduzir, o máximo que pôde, o alcance da democracia.
2.
A segunda resposta é que estejamos vivendo uma reação. Muitos estudiosos da sociedade já usaram a metáfora do coração, que alterna sístole e diástole. A um período de fechamento, segue-se um de abertura, e assim sucessivamente. Ocorre que se abriu muito o leque de liberdades. Houve quem se chocasse com isso. Com efeito, as mulheres se tornarem iguais em direito aos homens, os negros aos brancos, as diversas orientações sexuais serem aceitas, imigrantes se destacarem nas sociedades para onde foram – tudo isso aconteceu rapidamente.
Pensemos no casal: poucas décadas atrás, o homem era o chefe da família. Bastava ele se casar para ser investido numa série de poderes, entre eles o de definir o domicílio familiar (portanto, se quisesse mudar de casa ou mesmo cidade, poderia impor a mudança à esposa), para não falar numa quantidade de privilégios mesquinhos – como, por exemplo, a mulher só poder abrir conta bancária ou tirar passaporte com a permissão dele. O fim dessa prepotência é recente, e sucedeu praticamente de uma geração para outra. Então, um homem cujo pai mandava na mãe se casa hoje com uma mulher com quem precisa repartir todas as decisões, sem haver uma instância final que resolva todas as pendências.
Por milhares de anos, em todas as estruturas de poder, em caso de impasse, sabia-se quem decidia. Hoje, no casal, não há mais isso – ou há cada vez menos. E em outras relações de poder, como com os filhos, a mesma tendência se observa. Antes, o laço se mantinha a todo custo, porque um mandava. Hoje, não há mais esse Um que manda – não nas relações de amor, pelo menos. O impacto social dessa mudança é enorme. A quantos maridos seus pais não disseram, essas últimas décadas, que tinham de mandar na mulher, eventualmente até usando da força bruta? Só que isso, além de não funcionar mais, virou crime.
A reação então é exatamente isso: uma resposta reacionária. Diante do avanço da liberdade das mulheres, acumulou-se um rancor cada vez menos surdo dos que se sentiram diminuídos. Temos machos diminuídos, brancos diminuídos, ricos diminuídos (esses, nem tanto…), nativos “da gema” (como dizíamos das pessoas cujas famílias viviam havia muito tempo na mesma cidade ou Estado) ou “quatrocentões” (como se dizia dos paulistas cujas famílias imigraram há mais tempo para o Brasil) diminuídos. Confusamente, essas diminuições, essas humilhações com frequência mais imaginadas do que reais, se somaram. E, vindo uma crise econômica que debilitou o governo petista, o qual ficou diretamente associado a essas mudanças, e também o partido que antes governou o Brasil, o PSDB, que igualmente defendeu os direitos humanos, ambos foram assimilados como “imorais” e até mesmo “comunistas”, e o ódio envolveu a todos na mesma lama.
Se esta segunda resposta valer, estaremos diante de um período transitório de reação, como o que se chamou Restauração e dominou a Europa depois da derrota de Napoleão em 1814-15, mas depois ruiu. Em 1830, na França, o regime conservador foi substituído por uma monarquia burguesa, constitucional.[i] Em 1848, as revoluções que se alastraram pela Europa foram esmagadas na maior parte, mas mudaram decisivamente a forma de ver a política. No final do século XIX, restrições ao poder dos reis já valiam em muitos países. Espero, evidentemente, que não demoremos tanto tempo!
3.
Não demoraremos, pela simples razão de que o tempo se acelerou. O que tardava décadas hoje dura anos. Anos passam em meses ou semanas.
O que fazer? Depende do peso de cada uma das duas respostas que sugeri acima, mas as ações desejáveis convergem em ambos os casos. Se prevalecer a segunda possibilidade, isto é, se estivermos vivendo uma reação dos que neste mundo novo se sentem como peixes fora d’água, a retomada da onda democrática será questão de tempo. Lembro o plebiscito britânico sobre o Brexit: a saída do Reino Unido triunfou, mas graças aos mais velhos, mais interioranos, menos estudados.
O resultado de sua decisão é provavelmente irreversível – pelo menos por muito tempo – mas a verdade é que, se o plebiscito tivesse lugar dez anos depois, o eleitorado decidiria de outro modo. Como a igualdade tem crescido nos últimos tempos, dentro de alguns anos a reação reacionária (um pleonasmo proposital, para deixar claro de que se trata) se terá esgotado. Aqueles que escolheram o retrocesso perderão a parada. Terão causado sofrimento, às vezes agudo, mas não têm futuro.
E se valer mais a primeira resposta, isto é, o apelo democrático se tiver esgotado? Essa hipótese é mais grave. Mas sustento que, se ele se exauriu, foi porque se viu reduzido a um apelo medíocre, limitado, enfraquecido. Para a democracia vencer, ela abriu mão de muitas de suas potencialidades. Para ir direto ao ponto: a democracia parou na porta da empresa. Houve democratização na política, sim; no casal; até mesmo no amor e na família. Mas, lá onde o capital manda mesmo, democracia não houve. É o que temos de conquistar agora. Por um lado, manter a defesa e expansão da democracia no amor (que despertou os demônios da reação), por outro, assegurar que ali onde a maior parte das pessoas passa a maior parte de seu tempo – o local de trabalho – também aumente a liberdade.
Não será fácil.
“A política anda a passo rápido e, por isso mesmo, se a filosofia política quiser continuar discutindo apenas os grandes conceitos, terá dificuldade em apreender o que de fato acontece, o vivido imediato. Ou seja: temos que rever nossos grandes conceitos, acrescentar-lhes outros, aceitar o inesperado.
Mas tem que ficar claríssimo que para a democracia é essencial ela expandir-se. A democracia não é um regime do qual se possa dizer paramos aqui. Proclamamos a independência (no Brasil) ou ela e a República (nos Estados Unidos) e agora mantemos a escravidão. Fazemos democracia, mas só para os ricos, só para os brancos. Não, não: ela contagia. Stendhal percebeu isso muito bem, numa passagem que já citei em outro artigo – e a fantástica convergência conosco é que ele falava de um fenômeno brasileiro, a revolução de 1817 em Pernambuco: “A liberdade é como a peste. Enquanto não se lançou ao mar o último pestífero, não se fez nada”. [ii]
4.
Os artigos aqui reunidos foram inspirados por um forte otimismo: o Brasil tinha consolidado a democracia e daí em diante apenas a fortaleceria. Hoje, vivemos um retrocesso que não consiste apenas na vitória do antipetismo, mas na da antipolítica, que levou PT e PSDB de roldão. A política foi substituída pelo ódio, e não apenas no Brasil.
Mas a política há de voltar. Ela tem futuro, melhor dizendo: o futuro depende dela. Por política, já afirmei que entendo a política democrática. Política não é mais uma palavra genérica que cobre todos os tipos de poder, inclusive os despóticos. Política não se refere mais a qualquer poder, mas à pólis, à organização de base em que os cidadãos decidem, em que o demos se faz ouvir. As crônicas que aqui reúno eram otimistas. Um moderado otimismo continua fazendo sentido. Isso depende muito de nós.
Comparo o período atual ao posterior à crise de 1929: também uma devastação econômica, à qual se seguem custos sociais elevados e o fortalecimento da extrema-direita. Contudo, hoje dispomos de (i) numerosos movimentos e organizações comprometidos com a melhora do mundo, (ii) um conhecimento sem precedentes dos problemas e de suas soluções. Assim, a grande questão agora é unir as forças favoráveis à democratização, não só da política como das relações macro e microssociais, bem como à sobrevivência de nossa espécie num planeta cuja natureza tem que ser respeitada. Eis nossa tarefa.
5.
Este livro faz parte de uma espécie de tetralogia: quatro obras que têm em comum, embora em formatos bem distintos, o empenho em aplicar a filosofia política e outros conhecimentos das ciências humanas, em especial a história, à política tal como se faz; aplicar a teoria à prática, em especial à brasileira, que vezes sem conta é tratada, em nossa academia, mesmo nas áreas de Humanidades e Ciências Humanas, como pouco digna da alta teoria; e, não menos importante, mudar a teoria a partir do confronto com o mundo político e social. Isso porque geralmente a filosofia política lida com altos conceitos, como soberania, representação, democracia, mas se ocupa pouco do frágil e tenso cotidiano da política, que é onde – numa sociedade democrática contemporânea – as coisas se jogam.
Houve uma mudança na temporalidade da política, que nem sempre a filosofia (política) levou na devida conta. Nos regimes não democráticos, o tempo fluía vagaroso. Um faraó, um rei podiam governar décadas. O poder não mudava muito de natureza ao longo de séculos. Hoje, a cada poucos anos há eleições – e não digo que elas sejam a causa da aceleração da política, podem ser sua consequência: a vida aumentou, muito, sua velocidade.
As instituições antigas, quando o poder descia em vez de subir, quando vinha dos Céus em vez de ascender do povo, eram mais sólidas. Já as nossas devem à vontade popular a pouca solidez que têm, mas enfrentam os sobressaltos da economia e a inconstância de seus elementos, que podem em poucos anos desfazer o que parecia consagrado. (Assim foi que o Brasil, em que a democracia parecia consolidada, veio dar no que deu).
A política anda a passo rápido e, por isso mesmo, se a filosofia política quiser continuar discutindo apenas os grandes conceitos, terá dificuldade em apreender o que de fato acontece, o vivido imediato. Ou seja: temos que rever nossos grandes conceitos, acrescentar-lhes outros, aceitar o inesperado.
Artigos escritos ao longo de quatro anos, toda semana, para um jornal sério me permitiram utilizar os conceitos que aprendi, somados a meu conhecimento histórico, para procurar entender o que estava acontecendo. Minha perspectiva não era a do cientista político nem a do economista, que geralmente são quem comenta a atualidade do poder no primeiro caderno dos jornais; não era do economista, por razões óbvias; a diferença com o cientista político pode ser mais difícil de estabelecer. Mas ela tem a ver com a relação com os conceitos e a temporalidade, como afirmei acima. E é claro que o teste dos conceitos na realidade levou-me a contestá-los, até mesmo modificá-los.
6.
Esta obra talvez devesse ter sido a primeira a sair da tetralogia mencionada, mas não é o caso. Ao longo de quatro anos, entre maio de 2011 e março de 2015, publiquei com absoluta liberdade uma coluna no Valor Econômico,em que discuti a política brasileira. Eram tempos de esperança, que coincidiram com o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff (no livro ora uso a forma presidente, ora presidenta; ambas existem em português; a segunda é abonada por Carlos Drummond de Andrade, o que me basta em termos de qualidade).
Escrever toda semana foi uma espécie de teste, de experiência para ver como os conceitos com que trabalhei a vida toda, na filosofia política e na ética, bem como no conhecimento de história que elas me obrigaram (com enorme prazer) a adquirir, funcionavam na prática. Não há frase do senso comum que eu deteste tanto quanto a teoria na prática é outra. Ela apenas significa que a teoria em questão é ruim. Tem que ser trocada. A prática é a grande fonte para as teorias, é o terreno também onde testá-las.
Aqueles também foram, para mim, anos de formação. Procurando entender o que acontecia na política brasileira por um viés que não é o do jornalista, nem o do cientista político, espero ter aprendido alguma coisa. Uma qualidade do intelectual, que me parece imprescindível, é estar sempre em formação: nunca parar de aprender, nunca parar de se surpreender.
A Boa Política, dos quatro livros o primeiro a aparecer (em 2017), inclui artigos anteriores a minha experiência de colunista, mas também a leva em conta. O objetivo principal dessa obra foi ver o que, em nossa cultura, brasileira e/ou latino-americana, destoa do mainstream do Atlântico Norte. Defendo há tempos a tese de que as teorias políticas hoje dominantes foram gestadas e aplicadas no território que coincide com a antiga OTAN, isto é, os dois países anglo-saxônicos da América do Norte (acho estranho que se inclua nesse subcontinente o México) e as nações da Europa Ocidental.
Lá nasceu, lá cresceu, lá prospera a democracia moderna ou contemporânea. Fora desse espaço podem estar a “maior democracia do mundo”, como é praxe designar a Índia, ou o Japão, potência econômica, bem como vários países da América Latina, mas todos nós temos diferenças específicas que não são devidamente consideradas na alta teoria democrática.
Pensando sobretudo no Brasil e por extensão na América Latina, tenho insistido no elemento afetivo, que é parte essencial de como vemos a política, seja sob a forma de um afeto autoritário (o nome de outro livro meu, em que testei esta questão usando, sobretudo, o corpus da televisão) ou de um afeto democrático, cuja construção pode ser a principal contribuição de nossa parte do mundo para a reflexão e a prática da democracia. Eu me explico: democracia e república, dois componentes essenciais do que chamo “a boa política”, são tratados de forma muito racional no pensamento do Atlântico Norte. Conseguir uma política democrática e republicana decorreria de um grande esforço por superar as tendências egocêntricas e particularistas, que seriam, pensam muitos, mais “naturais” ao ser humano.
A boa política seria uma construção laboriosa e racional. Já, quando a política se assenta nos afetos, ela tenderia a ser facciosa, parcial. O que sustento é que a democracia somente será forte se for capaz de democratizar os afetos: se ela se inscrever nos sentimentos, nas emoções. O que, por sua vez, dá sentido à educação (e a sua irmã, a cultura): são elas que podem gravar no mundo afetivo valores como a igualdade, a solidariedade, a decência. Ter sido ministro da Educação do Brasil, em 2015, obviamente me ajudou a pensar este ponto.
Tal ideia vem junto com a de que a democracia é um regime não só político, mas de convivência humana. Se na modernidade ela dizia respeito essencialmente ao Estado, aos poucos foi-se tornando cada vez mais pertinente à sociedade, isto é, às relações tanto micro quanto macrossociais. Tem que haver democracia no casal, na família, na amizade, assim como na empresa, no lazer – em toda a parte. E evidentemente tal necessidade colide com a realidade do capitalismo, que precisa, pelo menos, ser compensada por exigências sociais e legais que introduzam a democracia nas relações de trabalho.
Já A Pátria Educadora em Colapso (2018) é uma narrativa e análise do período de seis meses em que fui ministro da Educação, no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Eu já tivera uma experiência de gestão como diretor de Avaliação da CAPES, entre 2004 e 2008, mas isso não se compara à direção de um ministério importante: minha diretoria nos anos 2000 tinha um orçamento livre de 1 milhão de reais, em 2015 o MEC movimentava 140 bilhões… O importante, nesta posição, foi ver a política de um ângulo que o pensador independente dificilmente imagina. Aliás, sempre sustentei que uma das ideias mais fortes de Marx – e isso independe de você ser socialista ou não – consiste em enxergar os fenômenos políticos, sociais e econômicos do ponto de vista do poder.
É isso o que faz o marxismo ser diferente de um movimento reivindicatório, que pede (ou mesmo exige, isso não faz diferença) que o detentor do poder ceda ou faça alguma coisa: a questão marxista é tomar o poder e, a partir daí, fazer as mudanças que pretende. Não é se manter na posição pedinte, subalterna ou mesmo rebelde. É inverter radicalmente as relações de poder. Não digo que ser ministro seja propriamente ter poder; como desenvolvo no livro citado, não tínhamos dinheiro; isso enfraqueceu demais o governo Dilma e é a principal razão para ela ter sido destituída. Mas penso que a experiência do poder, forte ou fraca, faz falta a muita gente que pretende pensar a política ou a sociedade.
Assim, A boa política é a obra teórica, um livro de filosofia política, em que me empenhei em pensar a melhor política de nosso tempo e dos vindouros, utilizando em parte os clássicos da filosofia, em parte o que eu chamaria um estilo filosófico de lidar com a política. Tem em comum com este livro o otimismo, a convicção de que a democratização do mundo, inclusive do mundo da vida, das relações pessoais, é um caminho sem volta.
Já A Pátria Educadora em Colapso é um relato de minha experiência como ministro, bem podendo ser o anúncio da má política, ou de como a terra prometida se converteu em Armageddon. Ou, por outra: se A Boa Política é um livro de teoria descrevendo e talvez prescrevendo a prática, o presente livro é um esforço cotidiano, ao longo de quatro anos, para entender a política vivida, imediata à luz da filosofia. A Pátria Educadora em Colapso é o relato da queda de um anjo, este anjo sendo a democracia.
Ao mesmo tempo que terminava este livro, concluí uma obra mais curta, sobre Maquiavel, a democracia e o Brasil; ela converge com as outras três: nela discuto como Maquiavel, falando dos príncipes novos, pode servir para pensar a democracia, na qual por definição todo governante é novo, devendo seu cargo à eleição; e também uso seus conceitos de virtù e fortuna, para pensar a ação política, exemplificando com os presidentes brasileiros de 1985 em diante.
7.
Estes artigos foram escritos num período otimista, em que os problemas, como os apontados nos protestos de 2013, pareciam ter solução – talvez difícil, exigente, mas já despontando no horizonte. Depois, tudo mudou. Mas penso que estas colunas continuam valendo: selecionei aqui apenas aquelas que a meu ver têm futuro. Retirei todas as que diziam respeito ao cotidiano da política e cuja publicação obedeceria mais a um critério de registro do que de atualidade. Com isso, pude manter atual este livro, que em vez de se reduzir a uma memória, um documento histórico, pode ajudar a inspirar o futuro.
São Paulo, janeiro de 2021.
*Renato Janine Ribeiro é professor titular aposentado de filosofia na USP. Autor, entre outros livros, de Maquiavel, a democracia e o Brasil (Estação Liberdade). https://amzn.to/3L9TFiK
Referência
Renato Janine Ribeiro. O valor volta à política – discutindo a política a partir da filosofia e da história. São Paulo, Editora Unifesp \ Edições SESC, 2023. 312 págs. [https://amzn.to/48XlUe8]

Notas
[i] Embora a Carta outorgada em 1814 por Luís XVIII previsse um Parlamento, a legislação posterior e a prática dos governos desse rei e de seu irmão e sucessor, Carlos X, foi autoritária. Somente com Luís Felipe, a partir de 1830, se pode falar em monarquia constitucional, comparável à britânica.
[ii] Como o texto é notável, traduzo-o por inteiro:
A admirável insurreição do Br[asil], talvez a maior coisa que pudesse acontecer, me dá as ideias seguintes:
A liberdade é como a peste. Enquanto não se lançou ao mar o último pestífero, não se fez nada.
O único remédio contra a liberdade são as concessões. Mas é preciso empregar o remédio a tempo: vejam Luís XVIII.
Não há lordes, nem brumas, no Brasil.
Stendhal, “Débris du manuscrit”, referentes a Rome, Naples et Florence en 1817, in Stendhal, Voyages en Italie, ed. Pléiade, Paris: Gallimard, 1973, p. 175.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA