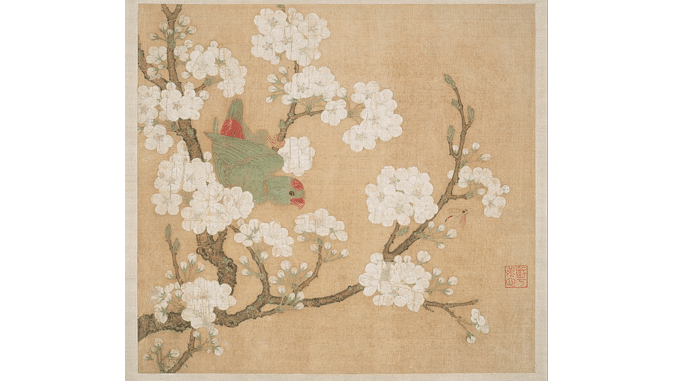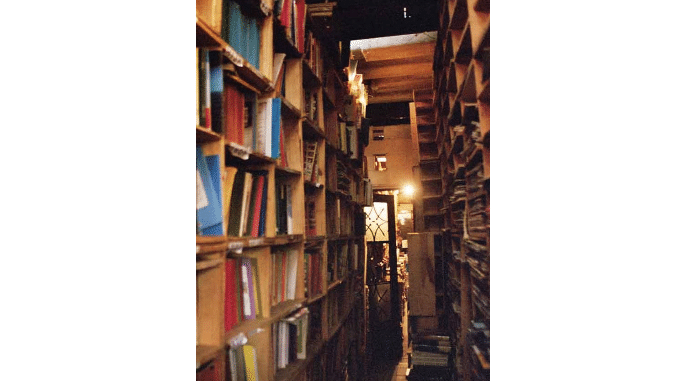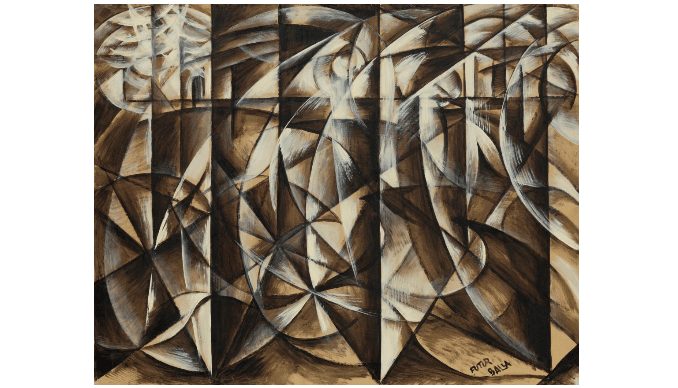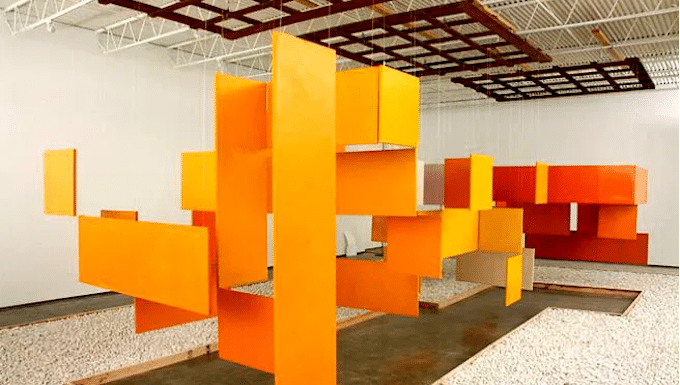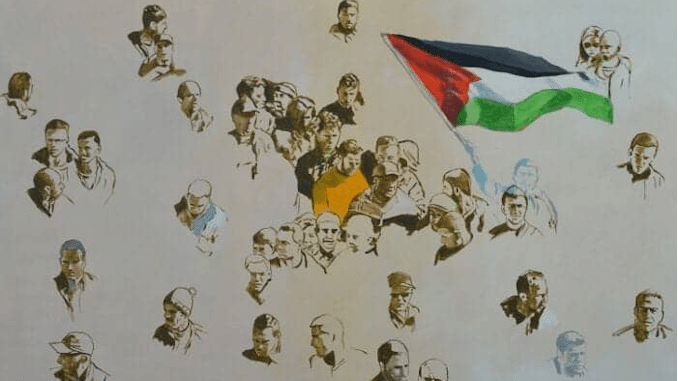Por ALFREDO BOSI*
Comentário sobre a Magnum opus de Antonio Gramsci
A nova edição dos Cadernos do cárcere, admiravelmente preparada por Carlos Nelson Coutinho e seus colaboradores Marco Aurélio Nogueira e Luiz Sérgio Henriques, desafia os inveterados leitores de Gramsci a se interrogarem sobre o que garante a vitalidade de um pensamento que, desde os anos 60, tem fecundado tanto a esquerda europeia quanto a latino-americana.
A vitalidade de um pensador se reconhece antes pela garra das suas perguntas do que pelas respostas, fatalmente parciais, que ele conseguiu lhes dar. O que fica é a questão, desde que bem formulada; e o que se herda é a exigência de encontrar a boa solução, e esta pode variar conforme as gerações que a perseguem.
Muitas das questões levantadas por Gramsci foram pensadas no início dos anos 1930, em uma conjuntura mundial de altíssima tensão. O triunfo do nazifascismo dava-se nos mesmos anos da ascensão do stalinismo e em plena crise do liberalismo econômico e político. O túnel das ditaduras, do controle das massas e da guerra total estava sendo construído e a humanidade inteira parecia condenada a perder-se nos seus labirintos. Apesar de tudo, foi um tempo de expectativas e, para alguns espíritos animosos, uma hora de esperança.
Gramsci, preso em fins de 1926, vivia uma amarga derrota: os socialistas e os comunistas italianos, precariamente aliados desde a fundação do PCI (Partido Comunista Italiano), em 1921, tinham sido batidos pelas esquadras do Fascio. Terminara sob os mesmos golpes a experiência promissora de organização operária de que ele participara ativamente em Turim animando os conselhos de fábrica, os círculos de cultura e um jornal militante de alto nível, Ordine nuovo. Morte, exílio e cárcere, eis o quinhão das lideranças revolucionárias.
O que fazer? Antes de mais nada, pensar. O tema recorrente, quase obsessivo, do nosso jovem militante sardo é precisamente o da função dos intelectuais nas mais diversas formações sociais. Para entendê-lo, mergulhou na história munido de uma sólida erudição de estofo germânico, adquirida quando estudante de filologia da universidade turinense e alimentada, anos a fio, com a sua curiosidade de estudioso incansável. “Devemos impedir, por 20 anos, este cérebro de funcionar””, sentenciara o promotor ao pedir a condenação do subversivo Antonio Gramsci. Pensar é perigoso.
Do acervo de leituras sobre o papel dos intelectuais desde o império romano até a era industrial, Gramsci induziu uma tipologia que ainda hoje é objeto de discussão nas ciências sociais. Haveria, em princípio, dois tipos de intelectuais. De um lado, os orgânicos, cujo papel é fornecer cimento ideológico aos estratos dominantes: por exemplo, o economista liberal que sanciona a hegemonia dos grupos financeiros na gestão do Estado e é capaz de discorrer sobre o caráter “natural” da máquina a que serve. De outro lado, soldando o passado no presente, os tradicionais ou “eclesiásticos” que, não estando diretamente ligados à produção material, garantem a continuidade e a hierarquia de instituições de fundo estamental: a Igreja, as universidades, os tribunais (a “aristocracia togada”), com seus mandarins e burocratas.
A distância entre estes últimos e o mundo da produção cria neles a ilusão, que Gramsci chama utópica, de serem autônomos em relação à máquina econômica vigente: é a veleidade da “autoposição” comum entre acadêmicos, juristas e burocratas. Provavelmente o avanço atual do capitalismo globalizado, que estreita os vínculos entre a cultura letrada e o império da mercadoria, teria dado a Gramsci nova matéria para pensar as interações, então bastante mediatizadas, hoje ostensivas, entre grupos tradicionais e o mundo dos orgânicos.
Uma tipologia, mesmo quando apoiada em um número razoável de dados, é sempre um esquema ideal. Gramsci conhecia a obra mestra de Max Weber, pois a lera no original e a citava com o seu costumeiro escrúpulo. Mas lera também a lógica dialética de Hegel, os culturalistas alemães e sobretudo a obra inteira de Croce, seu virtual interlocutor e constante ponto de referência polêmico.
Querer interpretar Gramsci sem ter estudado Croce é tarefa vã. O clima filosófico da geração que amadureceu a partir da primeira guerra era na Itália predominantemente crociano, como em entrevista recente lembrou Norberto Bobbio falando dos seus mestres. A marca da estética crociana é inequívoca na crítica literária e teatral do jovem Gramsci que, aliás, a reconhece em mais de um dos seus escritos.
A matéria deste primeiro volume dos Cadernos constitui-se dos textos que Gramsci dedicou ao pensamento de Croce. À luz dessa formação entende-se por que Gramsci, ao conceber uma tipologia dos intelectuais, nos adverte que o seu projeto é fazer história da cultura, e não sociologia classificatória: “Esta pesquisa sobre a história dos intelectuais não será de caráter “sociológico” (as aspas são de Gramsci), mas dará lugar a uma espécie de “história da cultura” (Kulturgeschichte) e de história da ciência política. Todavia, será difícil evitar algumas formas esquemáticas e abstratas que recordam as da “sociologia”; seria necessário para tanto encontrar a forma literária mais adequada para que a exposição seja “não sociológica”.”
Qual seria o erro de método que Gramsci pretendia descartar? Sem dúvida, um erro que ele atribuía à sociologia do seu tempo, ferreamente determinista. A resposta acha-se em um trecho dos Cadernos em que o pensador dialético acusa o teor passivo e fechado dos quadros tipológicos. Tratando os sujeitos como objetos-coisas e engessando-os em categorias, as tabelas não contemplam o dinamismo das consciências, as rupturas internas e, muito menos, os projetos movidos pela vontade política de grupos que formam militantes (logo, intelectuais diferenciados) para o exercício de funções contrárias à mera reprodução do sistema: “O evolucionismo vulgar está na base da sociologia, que não pode conceber o princípio dialético com a sua passagem da quantidade à qualidade, passagem que perturba toda evolução e toda lei de uniformidade”.
São palavras que poderiam ter vindo de outros críticos do historicismo positivista, como Benjamin e Bloch, mas que na Itália tinham sido pré-formadas pelo pensamento de Croce. Mas as motivações de Gramsci iam além das razões de Croce. Gramsci é um pensador revolucionário. O que o leva a superar os limites da sua própria tipologia funcional é o seu projeto de constituir na vanguarda da classe trabalhadora a figura nova do dirigente capaz de aliar a perícia técnica a uma cultura permeada de valores socialistas e democráticos. Essa cultura deveria crescer sobre o humus da filosofia da praxis, expressão que nos Cadernos comparece em lugar do termo “marxismo”, para driblar os censores da burocracia carcerária.
Se a história das sociedades modernas de classe é pontuada de crises e desequilíbrios, por que não poderia também alterar-se o quadro “positivo” das funções dos intelectuais? Teriam estes que esgotar a sua mente na tarefa reprodutiva de legitimar o mercado ou as burocracias parasitárias? Sim, responderia o conformista sempre disposto a denegrir a vontade política alheia para melhor exercer a sua e a do seu grupo. (Leiam-se as agudas observações de Gramsci sobre as gestões pressurosas dos governos ditos liberais que não hesitam em intervir sempre que os interessados lhes são interessantes).
Mas o pensador da praxis opõe-se à atitude tendenciosa do conformista: era preciso formar militantes que fossem intelectuais orgânicos da classe dos explorados e cujos valores democráticos, curtidos na experiência dos conselhos de fábrica, pudessem prevalecer após a conquista do poder. Nesse contexto, a expressão “ditadura do proletariado” perde o caráter totalitário que lhe deu o jargão stalinista e passa a significar o governo do bem público pelos cidadãos-trabalhadores e não mais pelos estrategistas dos interesses estritamente particulares.
Não cabe no espaço desta resenha desdobrar as dimensões pedagógicas implícitas na ética do trabalho de Gramsci. Basta acenar para as suas reservas à escola espontaneísta que já naquela altura condenava todo e qualquer programa de educação “dirigida”. A opção do pensador buscava o justo meio entre a conquista da liberdade responsável e a necessidade de uma disciplina intelectual e ética capaz de cumprir as tarefas de construção de uma república a ser erguida pacientemente sobre os escombros de um mundo caduco.
Já se passaram 71 anos desde que Gramsci começou a redigir a primeira página dos seus apontamentos (8 de fevereiro de 1929). Hoje, em tempo de indústria cultural de massa, arbítrio crescente do capital financeiro e redução do poder de fogo dos sindicatos, alargou-se a distância entre o homem da rua, fraco candidato a cidadão, e os solertes mecanismos do mercado e das burocracias oficiais. Em difícil contraponto, movimentos sociais e setores partidários menos anquilosados tentam o caminho das mudanças de comportamento e de lei. Luta-se pelo emprego, pela renda mínima, pela defesa do ambiente, pelo respeito às minorias, pela qualidade da vida urbana, enfim, pelos múltiplos direitos humanos. Não há mãos a medir para instruir novos intelectuais capazes de pensar e empreender as frentes de resistência.
Entre nós há pelo menos um grupo que herdou a perspectiva radical: o movimento dos sem-terra, tão malvisto pelo ceticismo dos bem-instalados. É notável a sede de formação cultural das suas lideranças, o que confirma a clarividência do pensamento de Gramsci: o “realismo” ou o “pessimismo da inteligência” não deve minar o “otimismo da vontade”, pois a rigor só a consciência sofrida da necessidade pode motivar a ação política libertadora.
E ninguém poderá afirmar sem obtusa arrogância que conhece de antemão todas as possibilidades de um processo social: “Deve-se observar que a ação política tende precisamente a fazer com que as multidões saiam da passividade, isto é, tende a destruir a lei dos grandes números. Como, então, considerá-la uma lei sociológica?”. Se as leis da sociologia positiva, hoje reexumadas pelo economicismo (Durkheim revive nas universidades japonesas!), fossem irrevogáveis, nada restaria à vontade política. Mas a superação da sociologia reificante pela dialética abre, nos escritos de Gramsci, a passagem do conformismo à coragem de pensar a ação.
*Alfredo Bosi (1936-2021) foi professor Emérito da FFLCH-USP e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Autor, entre outros livros, de Entre a literatura e a história (Editora 34).
Publicado originalmente no Jornal de Resenhas / Folha de S. Paulo, no. 34, 10 de janeiro de 1998.
Referência
Antonio Gramsci. Os cadernos do cárcere, vol. 1. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 496 págs.