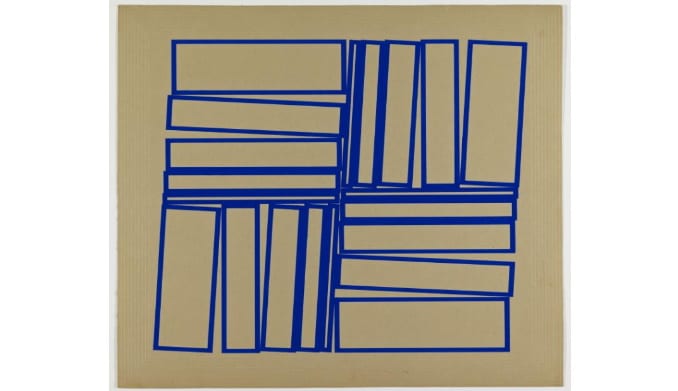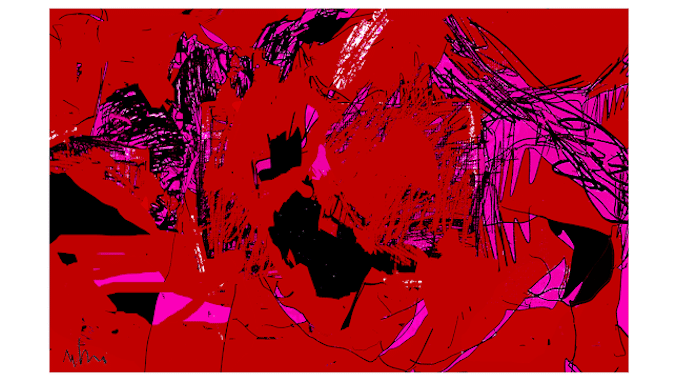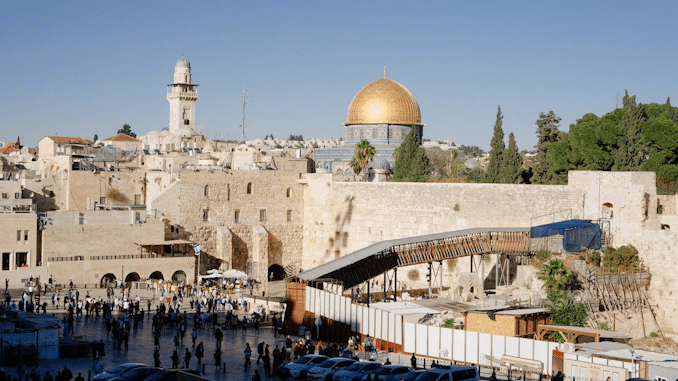Por PAWEL WARGAN*
Assim como o projeto fascista, a OTAN foi forjada no anticomunismo
“As pessoas me dizem: Coma e beba! \ Alegre-se porque tem! \ Mas como posso comer e beber, se \ Tiro o que como ao que tem fome \ E meu copo d’água falta ao que tem sede? \ E no entanto eu como e bebo”(Bertolt Brecht[1])
Os dois eixos da contrarrevolução
Pela primeira vez na longa história do capitalismo, e de forma decisiva, o centro de gravidade da economia global está se deslocando para o leste. A balança comercial agora favorece a China, e as nações do Terceiro Mundo estão se preparando para o fim da era de hegemonia dos Estados Unidos, um período de desequilíbrios forçados que acelerou o subdesenvolvimento das sociedades pós-coloniais no sistema capitalista mundial. Os movimentos tectônicos desencadeados por este processo estremecem todo o globo.
O assim chamado “mundo ocidental”, formado ao longo de séculos pelo poder de comando do capital, é impotente frente às catástrofes da fome, da pobreza e das mudanças climáticas. Impedidas de mobilizar seu poder econômico em benefício da sociedade – um processo que desafiaria a primazia da propriedade privada –, as antigas potências coloniais estão desviando recursos para a proteção da riqueza privada. O fascismo reergue sua cabeça, e as nações que procuram seguir o caminho do desenvolvimento soberano estão se tornando os novos alvos. Desse modo, o impulso contrarrevolucionário da velha Guerra Fria chega a um novo século, mais uma vez repleto de promessas e terror em igual medida.
No século XX, a contrarrevolução colonial se desdobraria ao longo de dois eixos geográficos. Um deles foi a guerra das nações ocidentais contra a propagação dos processos emancipatórios desencadeados no leste. Em 1917, homens e mulheres de mãos calejadas e testas suadas tomaram de assalto o poder na Rússia. Eles alcançariam aquilo que até então nenhum povo fora capaz de alcançar. Eles construíram um Estado industrializado não só capaz de defender sua soberania tão duramente conquistada, mas também de projetá-la em direção àqueles que viviam sobre o jugo do colonialismo.
O toque de clarim [da Revolução] de Outubro seria ouvido em todo o mundo. Para Ho Chi Minh, ela resplandeceu como um “sol brilhante (…) sobre os cinco continentes.” Trouxe, nas palavras de Mao Zedong, “enormes possibilidades de emancipação para os povos do mundo, abrindo caminhos realistas nessa direção.” Anos mais tarde, Fidel Castro diria que “sem a existência da União Soviética, a revolução socialista em Cuba teria sido impossível”. Os descalços, os analfabetos, os famintos e aqueles cujas costas foram retesadas pelo arado, aprenderam que também poderiam se levantar contra as humilhações do colonialismo e vencer.
Em 1919, Leon Trótski escreveu o Manifesto da Internacional Comunista aos Proletários do Mundo Inteiro, que seria aprovado por 51 delegados no último dia do Primeiro Congresso da Internacional Comunista. O Manifesto enxergava a Primeira Guerra Mundial como uma disputa para manter as rédeas do mundo colonial sobre a humanidade: “As populações coloniais foram arrastadas para a guerra europeia numa escala sem precedentes. Indianos, negros, árabes e malgaxes lutaram em territórios da Europa – pelo quê? Pelo direito de permanecerem escravos da Grã-Bretanha e da França. Nunca antes a infâmia do domínio capitalista nas colônias foi delineada tão claramente; nunca antes o problema da escravidão colonial foi posto de forma tão drástica como hoje”.
Se essa guerra foi uma expressão da competição imperialista pela divisão dos despojos do colonialismo, então o principal dever do internacionalismo era atacar o imperialismo. Essa foi a mensagem que o revolucionário indiano M. N. Roy levou ao Segundo Congresso da Internacional Comunista. “O capitalismo europeu extrai a maior parte de sua força não tanto dos países industriais da Europa, mas de suas possessões coloniais”, como escreveu em suas Teses Suplementares sobre a Questão Nacional e Colonial. Uma vez que os super lucros das classes dominantes imperialistas eram abastecidos pela sistemática pilhagem das colônias, a libertação dos povos colonizados também levaria ao fim do imperialismo – um desafio que os trabalhadores dos Estados capitalistas, alimentados e vestidos pela pilhagem imperial, não aceitariam.
“A classe trabalhadora europeia só conseguirá derrubar a ordem capitalista quando a fonte de seus lucros tiver sido, finalmente, interrompida”, escreveu Roy. Informada por estas intervenções, a Internacional Comunista se atribuiu a tarefa de organizar as massas camponesas e proletárias nas colônias. Dos nacionalistas anti-imperialistas aos pan-islâmicos, estes grupos representaram a vanguarda da luta anticolonial revolucionária. A União Soviética estenderia “uma mão amiga a essas massas”, disse V. I. Lênin – a Revolução de Outubro estava a todo vapor.
A instauração de um Estado hostil ao capitalismo e à dominação colonial era inadmissível para as potências imperialistas. Nas primeiras três décadas de sua existência, a União Soviética girou nas mãos de invasores. Nos últimos anos da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha imperial deu passagem às potências da Entente, entre elas o Reino Unido e os Estados Unidos, que deram suporte ao Exército Branco czarista em sua guerra para preservar o domínio da burguesia na Rússia. Depois, veio a Alemanha de Adolf Hitler. Se o movimento nazista pegou a Europa desprevenida, suas raízes podres eram de fácil percepção para os povos colonizados do mundo.
Em 1900, W. E. B. Du Bois alertava que a exploração do mundo colonizado seria fatal para os “altos ideais de justiça, liberdade e cultura” da Europa. Cinquenta anos depois, esse alerta seria ecoado, furiosa e solenemente, por Aimé Césaire. “Antes de serem suas vítimas”, escreveu, os europeus foram cúmplices dos nazistas: “eles toleraram esse nazismo até que o mesmo lhes fosse infligido (…) o absolveram, fecharam os olhos para ele, legitimaram-no porque, até então, era posto em prática somente contra povos não europeus.”
É impossível desvencilhar a missão de Hitler do longo projeto colonialista europeu, ou da expressão particular que ela encontrou no colonialismo de povoamento estadunidense. Hitler admirava abertamente a forma como os Estados Unidos haviam “atirado em milhões de redskins[2] até reduzi-los a algumas centenas de milhares, mantendo agora os poucos remanescentes cercados e sob observação.” A guerra de extermínio empreendida pelo regime nazista buscou nada menos que a colonização da Europa Oriental e a escravização de seu povo, a fim de conquistar o “Leste Selvagem” do mesmo modo que os colonos estadunidenses conquistaram o “Oeste Selvagem”.
Dessa maneira, o nazismo deu continuidade à tradição colonial contra a esperança emancipatória despertada em outubro de 1917 – razão pela qual o filósofo italiano Domenico Losurdo se referiu ao nazismo como sendo a primeira contrarrevolução colonial. Em 1935, Hitler disse que a Alemanha se firmaria como “o baluarte do Ocidente contra o bolchevismo”.
Precisamente porque o fascismo prometia preservar a estrutura de propriedade do capital, o Ocidente se manteve condescendente e sem escrúpulo frente a ele, antes, durante e após a guerra. No Reino Unido, que desde o início financiou a ascensão de Benito Mussolini, Winston Churchill expressou abertamente sua simpatia pelo fascismo como uma ferramenta contra a ameaça comunista.
Nos Estados Unidos, Harry S. Truman mal tentou esconder o cínico oportunismo que ainda hoje caracteriza o establishment estadunidense. “Se percerbemos que a Alemanha está vencendo, devemos ajudar a Rússia. Se a Rússia estiver vencendo, devemos ajudar a Alemanha, e, desta forma, deixá-los matar tantos quanto possível”, disse o futuro presidente na véspera da Operação Barbarossa,[3] que cobraria 27 milhões de vidas soviéticas. Mais tarde, o New York Times iria enaltecer esta “atitude” como uma preparação para a “firme política” de Truman quando presidente. Essa firmeza implicaria o primeiro e único uso de armas nucleares na história – “um martelo” contra os soviéticos, como Truman certa vez se referiu à bomba. As cinzas de Hiroshima e Nagasaki tingiriam a Guerra Fria durantes as décadas seguintes, intoxicando seus arquitetos com a promessa de onipotência.
Em 1952, Truman considerou dar um ultimato à União Soviética e à China: ou se adequavam ou todas as unidades de produção industrial, de Stalingrado à Xangai, seriam incineradas. Do outro lado do Atlântico, Churchill também desfrutou do brilho atômico. Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial britânico, registrou em seus diários que Churchill “se via capaz de eliminar todos os centros industriais russos”. Com o advento da bomba atômica, a supremacia branca adquiriu um poder supremo.
A ameaça de aniquilação fez com que a União Soviética acelerasse seu próprio programa nuclear, comprometendo muito de seu projeto político. A URSS conseguiria alcançar a paridade militar com os Estados Unidos, mas as restrições impostas pela corrida armamentista limitaram seu desenvolvimento social. Pesados encargos econômicos e políticos acumulavam-se sobre o jovem Estado. Encargos estes que seriam assimilados e amplificados pela “Doutrina de Contenção” de George Kennan – um abrangente conjunto de políticas concebido para isolar a União Soviética e limitar a “propagação do comunismo” em todo o mundo. Frente a uma nova série de contradições que não poderiam ser resolvidas militarmente, por receio de mútua destruição, a política estadunidense procurou “aumentar imensamente a pressão” sobre a governança soviética, a fim de “promover tendências que, mais cedo ou mais tarde, devem encontrar sua saída na desintegração ou no gradual enfraquecimento do poder soviético”.
No fim da década de 1980, acelerado pelas contradições de seu processo socialista, as pressões materiais, políticas e ideológicas sobre a governança soviética tornaram-se insuportáveis. Talvez movido por uma fé ingênua na détente com o Ocidente, a administração Mikhail Gorbachev introduziu reformas através de um processo que deixou de lado o Partido Comunista da União Soviética e pavimentou o caminho para a oposição se consolidar em torno da figura de Boris Yelstin, que desmantelou a URSS. O povo soviético pagaria um preço altíssimo – um preço que foi particularmente mais alto na Rússia.
Na década de 1990, a Rússia experimentou uma profunda queda nos padrões de vida, na medida em que os bens públicos foram capturados por uma burguesia que rapidamente buscou as graças do capital financeiro ocidental. O PIB do país caiu 40%. Seus insumos industriais diminuíram 50% e os salários reais despencaram à metade do que eram em 1987. O número de pobres aumentou de 2,2 milhões, entre 1987 e 1988, para 74,2 milhões entre 1993 e 1995 – de 2% para 50% da população em pouco mais de cinco anos. A expectativa de vida regrediu cinco anos para os homens e três anos para as mulheres, e milhões de pessoas morreram sob o regime de privatizações e terapia de choque entre 1989 e 2002.
Naquele tempo, de colapso e depravação, meio milhão de mulheres russas foram vítimas de tráfico humano para a escravidão sexual. À medida que os instrumentos ocidentais de colonização começaram a penetrar por cada rachadura, brecha e poro, histórias similares foram surgindo em toda a União, que se desintegrava. É revelador que essa tenha sido a única vez que a Rússia foi considerada amiga pelo Ocidente.
A ofensiva contra a União Soviética foi um dos eixos na guerra contra a emancipação humana. O outro ficaria mais evidente após a Segunda Guerra Mundial, à medida que os Estados Unidos emergissem como potência hegemônica. Não consumada no campo de batalha europeu, a Guerra Fria entre as nações do Oriente e do Ocidente converteu-se em uma histórica e violenta investida do Norte contra o Sul. Da Coreia à Indonésia, do Afeganistão ao Congo, da Guatemala ao Brasil, dezenas de milhões de vidas foram sacrificadas numa batalha entre as forças populares e as metamorfoses de um imperialismo que não tolera ser contrariado em sua compulsão extrativista.
Se os Estados Unidos e seus aliados não podiam derrotar a União Soviética em um enfrentamento militar direto, colocariam a violência extrema a serviço de uma grande estratégia, que desde 1952 já buscava estabelecer “nada menos que a preponderância de poder”. Como escreveu o historiador britânico Eric Hobsbawm, a violência desencadeada neste período – tanto a violência real, quanto sua ameaça potencial – poderia “razoavelmente ser considerada uma Terceira Guerra Mundial, embora de tipo bem peculiar”; com o advento da bomba atômica, as zonas frias desta guerra mundial têm ameaçado, de tempos em tempos, incinerar da existência toda a humanidade. Assim, em meio a estes dois eixos da Guerra Fria, encontramos uma batalha histórica entre forças rivais de emancipação e de submissão.
A luta nunca terminou. O que houve foi o adiamento do projeto de emancipação humana, sua promessa de dignidade foi colocada em espera. De Angola à Cuba, nações que dependiam dos laços de solidariedade com a URSS foram devastadas pelo seu colapso. Se o poder soviético agia como uma forma de freio sobre a beligerância dos Estados Unidos, a unipolaridade inaugurou uma era de impunidade. Os Estados Unidos encontraram liberdade quase total para influenciar ou derrubar os governos que se opusessen a ele; cerca de 80% das intervenções militares dos EUA após 1946 ocorreram depois da queda da URSS. Do Afeganistão à Líbia, estas terríveis guerras serviram tanto para fortalecer o projeto militarista dos Estados Unidos quanto para sinalizar que dissidências não seriam toleradas fora de suas fronteiras. Agindo assim, ajudaram a manter um desequilíbrio cruel no sistema capitalista global, condenando os Estados do Terceiro Mundo a uma posição de permanente subdesenvolvimento para proteger a ganância insaciável e predatória dos monopólios ocidentais.
Essa foi a relevância da visão de Lênin sobre o imperialismo e sua aplicação no projeto da Terceira Internacional. Em um estágio avançado, escreveu Lenin, o capitalismo exportará não apenas mercadorias, mas também o próprio capital – não apenas carros e produtos têxteis, mas também fábricas e usinas de fundição, indo além das fronteiras nacionais em busca de trabalhadores para explorar e de recursos para saquear. Este processo disciplina os trabalhadores nos países de capitalismo avançado, que são amordaçados pela ameaça do desemprego pairando sobre eles e apaziguados pelo bem-estar [social] que a pilhagem imperialista torna possível.
Os países de capitalismo avançado se desenvolvem explorando seu próprio povo e os povos e recursos de territórios distantes. Essa relação essencialmente parasitária assegura, na condição do interesse nacional, a lucratividade e a contínua expansão dos monopólios ocidentais, valendo-se, em último caso, da força bruta. Na cadeia de exploração global, os Estados do Terceiro Mundo não podem esperar alcançar um nível de desenvolvimento significativo. Por sua vez, o subdesenvolvimento econômico impede a transformação social. Um povo que não pode comer ou ir à escola, que não pode tratar seus doentes ou viver em paz, não pode promover liberdade nem criatividade.
Este subdesenvolvimento se reflete no caráter de seus Estados, assim como na capacidade de estabelecer relações com os outros e se defender contra ameaças. Dessa forma, o poder totalizador do imperialismo distorce os processos sociais e econômicos, tanto no bloco imperialista quanto nos Estados que buscam seguir caminhos de desenvolvimento soberano. É por isso que a batalha entre o imperialismo e a descolonização deve ser entendida como a principal contradição – uma batalha capaz de determinar o futuro da humanidade.
Onde nós encontramos esse imperialismo hoje? Nós o encontramos entre os dois bilhões de pessoas que lutam para comer. Nós o encontramos na fragilidade, no conflito ou na violência que dois terços da humanidade enfrentarão na próxima década. Nós o encontramos nos tantos meios de subsistência que são frequentemente arruinados pela elevação das marés ou em campos assolados pela seca e pelas areias dos desertos que avançam lentamente, assim como entre o bilhão de pessoas que não possuem um único par de sapatos.
Nós o encontramos na árdua marcha de dezenas de milhões de camponeses de subsistência, que a cada ano são forçados a deixar suas terras em função da miséria e da violência – uma permanente fuga do capitalismo, incomparável mesmo aos mais fantasiosos números de “dissidentes” e “fugitivos” do comunismo. Nós o encontramos no ouro e no cobalto, nos diamantes e no estanho, nos fosfatos e no petróleo, no zinco e no manganês, no urânio e na terra, com cujas expropriações se vê o crescimento da sede das corporações e instituições financeiras ocidentais, em proporções cada vez mais impressionantes. O desenvolvimento do mundo ocidental, assegurado por sua contrarrevolução global, é a imagem espelhada da miséria do Terceiro Mundo.
A OTAN e a contrarrevolução
Assim como o projeto fascista, a OTAN foi forjada no anticomunismo. As cinzas da Segunda Guerra ainda não haviam assentado na Europa, e os Estados Unidos já estavam ocupados, reabilitando ditadores fascistas, de Francisco Franco na Espanha a Antônio de Oliveira Salazar em Portugal. (Este último, tornou-se membro fundador da Aliança do Atlântico Norte.) Os Estados Unidos e a Europa ocidental absorveram milhares de fascistas em instituições de poder, através de anistias que violavam pactos dos Aliados sobre o retorno de criminosos de guerra. Isso incluiu figuras como Adolf Heusinger, oficial nazista sênior e adjunto de Hitler.
Adolf Heusinger foi procurado pela União Soviética em função dos crimes de guerra, mas o Ocidente tinha outros planos. Em 1957, Adolf Heusinger tornou-se chefe das Forças Armadas da Alemanha Ocidental, atuando mais tarde como presidente do Comitê Militar da OTAN. As operações sigilosas “stay-behind”[4] cultivaram uma nova geração de militantes em toda a Europa, com a finalidade de obstruir projetos políticos de esquerda – desde pelo menos 1948, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) direcionou milhões de dólares em financiamentos anuais para grupos de direita apenas na Itália, e deixou claro que estava “disposta a intervir militarmente” se o Partido Comunista tomasse o poder no país.
Centenas de pessoas foram massacradas em ataques realizados por esses grupos, muitos dos quais foram associados à esquerda – parte de uma “estratégia de tensão” que aterrorizava as pessoas para que elas abandonassem sua lealdade aos movimentos socialistas e comunistas em ascensão. O mandato da OTAN derivou explicitamente da “ameaça representada pela União Soviética”, e a crescente popularidade do comunismo fora da URSS também entrou em seu raio de ação. Desta forma, a OTAN restringiu as escolhas democráticas e debilitou a segurança dentro dos Estados-membros, decidindo as contradições políticas em favor da ordem capitalista e de seus representantes de direita.
As obscuras atribuições da OTAN não pararam por aí. Se Trótski viu na Primeira Guerra Mundial uma jogada cínica para que o mundo colonizado se comprometesse com o projeto de sua própria submissão, Walter Rodney percebeu as mesmas forças em ação na violenta empreitada da OTAN sobre o continente africano: “Virtualmente, a África setentrional foi transformada em uma área de operações da OTAN, com bases apontando para a União Soviética (…) As evidências indicam, sempre de novo, a cínica utilização da África como contraforte econômico e militar do capitalismo, forçando o continente a contribuir efetivamente para sua própria exploração”.
Ao lado de projetos como o da União Europeia, a OTAN transformou a ordem imperialista. Se a primeira metade do século XX parecia destinada a infindáveis conflitos interimperiais sobre os despojos do colonialismo, a partir da década de 1950 um novo e coletivo imperialismo estava em formação. Acordos de comércio globais e infraestruturas de crédito projetadas pelas antigas potências coloniais fariam com que os despojos da extração imperial fossem, cada vez mais, compartilhados entre elas. Elas também reuniram seus instrumentos de violência.
Em 1965, o revolucionário guineense Amílcar Cabral descreveu como a brutalidade conjunta do Ocidente penetrou na África através da OTAN, apoiando o regime de Salazar na guerra contra as colônias de Portugal em Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde: “A OTAN é os Estados Unidos. Temos capturado em nosso país muitas armas estadunidenses. A OTAN é a República Federal da Alemanha. Temos recolhido muitos rifles Mauser com os soldados portugueses. A OTAN, ao menos por ora, é a França. Há helicópteros Alouette em nosso país. A OTAN, em certa medida, também é o governo daquele heróico povo que ofereceu tantos exemplos de amor à liberdade: o povo italiano. Sim, apreendemos dos portugueses metralhadoras e granadas de fabricação italiana”.
Armas de guerra, que hoje refletem a completa diversidade do “mundo livre”, infestam todas as linhas de frentes do imperialismo, da Ucrânia e do Marrocos a Israel e Taiwan. Essa violência encontraria sua principal força no nó central do imperialismo, os Estados Unidos, que há muito tempo almejava a hegemonia total – uma aspiração que a ruína da União Soviética tornou irresistível. Em 7 de março de 1992, o New York Times publicou um documento vazado contendo os planos de hegemonia estadunidense na era pós-soviética. “Nosso primeiro objetivo”, dizia a Diretriz de Planejamento de Defesa, “é prevenir o reaparecimento de nosso rival, seja no território da ex-União Soviética ou em qualquer outro lugar”.
O documento, que ficou conhecido como Doutrina Wolfowitz por ser de coautoria do Subsecretário de Defesa dos EUA para Políticas, asseverou a supremacia dos Estados Unidos no sistema mundial. Ele requisitava a “liderança necessária para estabelecer e proteger uma nova ordem” que impediria “concorrentes potenciais” de buscarem maior protagonismo mundial. Em decorrência do vazamento, a Doutrina Wolfowitz foi revisada por Dick Cheney e Colin Powell, tornando-se a doutrina de George W. Bush e deixando um rastro de morte e sofrimento em todo o Oriente Médio.
Naquele tempo, os contornos da estratégia imperialista dos EUA foram articuladas com mais força por Zbigniew Brzezinski, um dos principais arquitetos da política externa dos Estados Unidos no século XX. Em 1997, ele publicou The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives [“O Grande Tabuleiro de Xadrez: Primazia Estadunidense e Seus Imperativos Geoestratégicos”]. A queda da União Soviética, escreveu Zbigniew Brzezinski, testemunhou o despontar dos Estados Unidos “não apenas como o árbitro central nas relações de poder na Eurásia, mas também como a potência mais poderosa no mundo (…) a única, e de fato a primeira, potência verdadeiramente global”.
A partir de 1991, a estratégia dos EUA buscaria consolidar esta posição impedindo o processo histórico de integração na Eurásia. Para Zbigniew Brzezinski, a Ucrânia era uma “importante casa no tabuleiro de xadrez eurasiano” – fundamental para conter a Rússia em seu “inveterado anseio por uma posição especial na Eurásia”. Os Estados Unidos, escreveu Zbigniew Brzezinski, não apenas iriam perseguir seus objetivos geoestratégicos na ex-União Soviética, mas também representar “seu próprio e crescente interesse econômico (…) obtendo acesso ilimitado à essa área, até então fechada”.
Em parte, o plano seria realizado através da OTAN. A expansão da aliança coincidia com a insidiosa propagação do neoliberalismo, ajudando a garantir o domínio do capital financeiro dos EUA e sustentar o predatório complexo industrial-militar no qual se apoiam grande parte de sua economia e sociedade.¹ O vínculo umbilical entre a adesão à OTAN e o neoliberalismo foi claramente manifestado pelas lideranças atlanticistas[5] na marcha da aliança para o leste. Em 25 de março de 1997, numa conferência da Associação Euro-Atlântica realizada na Universidade de Varsóvia, o então senador Joe Biden especificiou as condições de adesão da Polônia à OTAN. “Todos os Estados-membros da OTAN são economias de livre mercado com protagonismo do setor privado”, disse ele.
E acrescentou: “O plano de privatizações em massa representa o passo mais importante para que o povo polonês possa participar diretamente do futuro econômico de seu país. Este não é o momento de parar. Acredito que grandes empresas estatais também devam ser transferidas para as mãos de proprietários privados, a fim de serem operadas segundo interesses econômicos, e não políticos (…) Empresas bancárias, o setor de energia, a companhia aérea e a produção de cobre estatais, assim como o monopólio das telecomunicações terão que ser privatizados”.
Para aderir à aliança imperialista, os Estados são chamados a entregar precisamente a base material de sua soberania – um processo que vemos se replicar, com exatidão, ao longo de todo seu violento percurso. Por exemplo, em uma recente proposta de reconstrução pós-guerra da Ucrânia, a Corporação RAND estabelece aquilo que poderia ser descrito, de forma bem apropriada, como uma agenda neocolonial. Da “criação de um mercado eficiente de terras privadas” à “aceleração da privatização (…) em 3.300 empresas estatais”, suas propostas se somam ao vasto conjunto de políticas de liberalização implementadas com ingerência estrangeira sob a fachada da guerra, incluindo legislações que subtraem à maioria dos trabalhadores ucranianos os direitos de negociação coletiva. Dessa forma, a missão expansionista da OTAN é inseparável do cancerígeno avanço do modelo neoliberal de globalização, que recrudesce nos Estados-membros da OTAN como uma condição de permanente exploração. É requerido dos Estados que integram a aliança o redirecionamento de uma parte substancial de seus excedentes sociais, destinados à habitação, emprego e infraestrutura pública, para os insaciáveis monopólios militares – o maior deles sediado nos Estados Unidos. Nesse processo, fortalecem sua classe dominante doméstica que, assim como na Suécia e na Finlândia, é a primeira incentivadora de uma adesão à OTAN, na expectativa de ser sua principal beneficiária. Esses fatores interditam gradativamente as alternativas políticas anticapitalista e antimilitarista: não pode haver socialismo dentro da OTAN”.
Para além do estrago econômico, aderir à OTAN traz consigo a marca moral da violência do Ocidente coletivo.[6] Quando minha terra natal, a Polônia, adquiriu seu assento júnior na mesa imperialista, tornou-se vassala e colaboracionista, seguindo o modelo da França de Vichy.[7] Éramos uma nação que, sob o socialismo, contribuíra levando nossa experiência em reconstrução pós-guerra para o Terceiro Mundo. Nossos arquitetos, urbanistas e construtores ajudaram a conceber e concretizar projetos habitacionais em grande escala e hospitais no Iraque. Décadas depois, enviamos tropas para sitiar as cidades que havíamos ajudado a construir. Na base de inteligência de Stare Kiejkuty, no nordeste da Polônia, abrigamos uma prisão clandestina estadunidense onde os detentos eram brutalmente torturados – uma clara violação de nossa constituição nacional.
A Budimex, empresa que uma vez elaborou um plano de desenvolvimento para Bagdá, concluiu agora a construção de um muro na fronteira da Polônia com a Bielorrússia – uma proteção contra os refugiados do Oriente Médio, que, nas palavras da classe dominante polaca, infectam a nossa nação com “parasitas e protozoários”. Se o fascismo é um instrumento de blindagem do capitalismo contra a democracia, a OTAN é sua incubadora.
Rússia e o Terceiro Mundo
Em 1987, Mikhail Gorbachev apresentou a ideia de uma “Casa Comum Europeia”: uma doutrina de contenção para substituir uma doutrina de dissuasão,[8] como expressou mais tarde, a qual tornaria impossível um conflito armado na Europa. Apenas três anos depois, a promessa de uma nova ordem de segurança, fundamentada nas propostas de Mikhail Gorbachev, começou a ganhar forma. E durante algum tempo pode ter parecido algo possível. A Carta de Paris para uma Nova Europa, adotada em novembro de 1990 pelos países da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE), continha as sementes de uma estrutura de segurança compartilhada, fundamentada nos princípios de “respeito e cooperação” estabelecidos na Carta das Nações Unidas. Este novo modelo de segurança mútua incluiria os países da ex-União Soviética, entre eles a Rússia.
Publicamente, os membros da OTAN apoiaram este processo e reafirmaram o compromisso que James Baker havia assumido com Mikhail Gorbachev em 1990, garantindo que a OTAN “não se expandiria um centímetro” a leste. Recentemente, a Der Spiegel desenterrou registros britânicos de 1991, nos quais autoridades dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da Alemanha eram inequívocas: “Não poderíamos (…) oferecer adesão à OTAN para a Polônia e os outros.”. Privadamente, no entanto, o governo dos Estados Unidos estava ocupado tramando sua era de hegemonia. “Nós prevalecemos, eles não”, disse George H. W. Bush a Helmut Kohl, em Fevereiro de 1990, no mesmo mês em que os Estados Unidos deram sinal verde para o processo da CSCE. “Não podemos deixar que os soviéticos arranquem a vitória das garras da derrota”.
Nenhuma organização iria “substituir a OTAN como fiadora da segurança e estabilidade do Ocidente”, disse Bush ao presidente francês François Mitterrand em abril daquele ano, claramente se referindo às propostas que tomavam forma na Europa. As sucessivas ondas de expansão da OTAN corroeram gradualmente a ideia de que uma arquitetura de segurança comum – fora da esfera de dominação dos Estados Unidos – pudesse emergir no continente europeu.
Ainda assim, em 2006, o ministro da Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou sobre a participação em uma “OTAN transformada”, fundamentada nas propostas de desmilitarização e cooperação igualitária, conforme os termos da Carta de Paris, de 1990. Mas a OTAN se expandiu em direção às fronteiras da Rússia – não com ela, mas contra ela. Essa política expansionista tinha como objetivo minar os processos de integração regional que, então, vinham se fortalecendo. Após a crise financeira de 2007-2008, a Rússia e a China aceleraram drasticamente a construção de novas infraestruturas de cooperação regional.
Em paralelo, a China efetuou reformas de grande impacto para aumentar sua independência em relação aos mercados estadunidenses, criando programas de desenvolvimento e instituições financeiras que poderiam operar fora da esfera de influência dos Estados Unidos. Em 2009, a Rússia e a China, juntamente com o Brasil, a Índia e a África do Sul, colocaram em movimento o projeto BRICS. Quatro anos depois, a Iniciativa Cinturão e Rota [9] era lançada. Estes processos coincidiram com um aumento das vendas de energia russa para a China e para a Europa, e com a participação de muitos Estados europeus na Iniciativa Cinturão e Rota.
A implacável persistência das políticas de austeridade na União Europeia fez com que seus Estados-membros se voltassem para a China, à medida que portos e pontes ruíam após anos de subinvestimento. Estes acontecimentos marcaram a primeira vez em séculos que o comércio na Eurásia ocorria fora de um contexto de hostilidades, com base em princípios de colaboração ao invés de dominação.
Isso ameaçava os fundamentos da pretensa ordem internacional baseada em regras, o conjunto informal de normas que sustentam o domínio político e econômico dos Estados Unidos. Desde a era soviética, os estrategistas estadunidenses têm reconhecido a particularidade da ameaça que o comércio de energia entre a Rússia e a Europa representaria para os interesses de seu país – um alerta que foi repetido por cada administração dos Estados Unidos, de Bush a Biden. Assim, o imperativo manifesto era interromper esse processo. Os contornos desta estratégia se tornaram mais evidentes à medida que a marcha do Ocidente sobre a periferia do leste europeu continuou.
Relatórios como o Extending Russia: Competing from Advantageous Ground [Estendendo a Rússia: Competindo em Posição de Vantagem], publicado em 2019 pela Corporação RAND, definiram os imperativos estratégicos identificados por Brzezinski mais de duas décadas antes. Desde interromper as exportações de gás da Rússia para a Europa e enviar armas para a Ucrânia, até promover a mudança de regime na Bielorrússia e agravar as tensões no sul do Cáucaso, o relatório estabelecia uma série de medidas destinadas a rasgar a Rússia pelas costuras. Se a Rússia não se dobrasse voluntariamente aos interesses do Ocidente, ela seria coagida a fazê-lo, mesmo que a Eurásia inteira tivesse que pagar o preço.
A neocolonização da Ucrânia – um objetivo que autorizou gastos de 5 bilhões de dólares dos EUA antes de 2014 – representou, como Brzezinski havia previsto, uma jogada crucial no tabuleiro de xadrez eurasiático.
A inegável ameaça que estas políticas representavam à segurança russa estava clara para as lideranças dos Estados Unidos já em 2008. “Especialistas nos dizem que a Rússia está particularmente preocupada que as fortes divergências na Ucrânia sobre a entrada do país na OTAN, com grande parte da comunidade étnica russa sendo contrária à adesão, possam levar a uma separação mais profunda, envolvendo violência ou, na pior das hipóteses, uma guerra civil”, escreveu William Burns, diretor da CIA, ao embaixador dos EUA em Moscou. “Nesse caso, a Rússia teria que decidir se iria ou não intervir; uma decisão que a Rússia não quer ter de enfrentar.”
A Rússia viria a perceber que restavam apenas dois caminhos: aceitar a posição periférica que lhe fora imposta na década de 1990, ou aprofundar a integração com outros Estados da Eurásia. Estas possibilidades bifurcadas refletiam duas tendências internas da classe dominante russa. Uma delas esperava maior aproximação com o capital financeiro ocidental, seguindo o modelo dos anos de 1990, com o qual a riqueza de poucos aumentara em proporções extraordinárias. Esta tendência encontrou apoio de personalidades como Alexei Navalny, cujo colaborador, Leonid Volkov, delineou uma estratégia política que deixaria de fora a esquerda em um projeto de mudança de regime que buscava restabelecer a classe compradora pró-Ocidente com o apoio da classe média profissional emergente nas metrópoles russas.
A outra possibilidade representava uma tendência ao capitalismo de Estado, que buscava uma maior centralização do poder econômico e poderia, eventualmente, resultar em uma governança econômica mais socializada. Por muito tempo, o governo de Vladimir Putin navegou entre estas duas tendências, um precário vai e vem entre a agressividade do neoliberalismo e a busca da soberania econômica. Contudo, à medida que as contradições desencadeadas pela beligerância ocidental se intensificavam, a trajetória de desenvolvimento russo começou a gradativamente se firmar na direção desta última tendência – o que hoje fica evidente na forma espetacular com que as sanções do Ocidente têm se voltado contra ele próprio.[10] Agora, a Rússia exalta regularmente a China socialista como um modelo a ser emulado.
Indícios deste direcionamento puderam ser vistos em 2007. Naquele ano, Putin discursou na Conferência de Segurança de Munique. A erosão do direito internacional, a projeção do poder dos EUA e o “incontido hiperuso da força” estariam, segundo ele, criando uma situação de profunda insegurança em todo o mundo. Putin relacionou estes aspectos com a dinâmica de desigualdade global e a questão da pobreza, destacando um dos principais mecanismos do imperialismo: “os países desenvolvidos mantém seus subsídios agrícolas e, simultaneamente, limitam o acesso de alguns países a produtos de alta tecnologia”, uma política que assegura o grave subdesenvolvimento no Terceiro Mundo. Para Putin, a política de projeção unilateral de poder militar, materializada não apenas na OTAN, mas também em outras estruturas de poder militar estadunidense ao redor do mundo, serviu para expandir uma política de subordinação.
Se a agressão do Ocidente levou a Rússia a priorizar seu desenvolvimento soberano, esse processo histórico também a levou ao alinhamento com o projeto mais amplo do Terceiro Mundo. Qual seria a ameaça de um “retorno aos anos de 1990” na Rússia senão o risco de que as condições de sua soberania econômica fossem destruídas, produzindo as formas de indignidade experimentadas pela maioria das nações do mundo? Algo que, por sua vez, fortaleceria a unipolaridade liderada pelos EUA, enfraquecendo as condições para uma efetiva multilateralidade no sistema mundial.
A resposta da Rússia tem sido acelerar a integração eurasiática – buscando uma relação mais vigorosa com a China, Índia e seus vizinhos regionais – ao mesmo tempo em que expande as alianças com o Irã, Cuba, Venezuela e outros Estados sufocados pelo joelho do imperialismo estadunidense. Da América do Sul à Ásia, muitas nações têm respondido da mesma forma. Se, historicamente, a identidade e estatalidade russas oscilaram entre tendências ocidentais e orientais – com sua águia nacional olhando de forma ambígua para ambas as direções[11] – a Rússia viria a situar seu passado e seu futuro firmemente no Terceiro Mundo. “O Ocidente está disposto a cruzar todos os limites para preservar o sistema neocolonial que lhe permite viver à custa do mundo”, disse Putin, em 2022. Ele está preparado “para saqueá-lo, graças ao domínio do dólar e da tecnologia; para cobrar da humanidade um verdadeiro tributo; para extrair sua principal fonte de imerecida prosperidade, o pagamento devido ao hegemon[12]”.
Os imperativos materiais comuns entre a Rússia e o Terceiro Mundo explicam o isolamento das potências ocidentais em sua guerra condenatória e cerco econômico à Rússia. Embora os líderes ocidentais proclamassem o surgimento de uma unidade mundial para condenar a invasão – “a União Europeia e o mundo apoiam o povo ucraniano”, disse Olof Skoog, representante da União Europeia nas Nações Unidas – os números na Assembleia Geral da ONU retratam, cada vez mais, um cenário diferente. Em março de 2022, na sessão de emergência para votação de uma resolução sobre a Rússia e a “Agressão contra a Ucrânia”, 141 nações foram a favor da resolução, 35 se abstiveram e 5 votaram contra. Os 40 países que não votaram ou votaram contra a resolução – incluindo a China e a Índia – constituem coletivamente a maioria da população mundial. Metade destes Estados são do continente africano.
Se as nações do mundo ficaram divididas quanto ao gesto de condenação, elas permanecem unidas na recusa em participar da guerra econômica contra a Rússia. Neste ponto, os países do velho mundo ocidental se encontram completamente isolados. Das 141 potências que condenaram as ações da Rússia na Ucrânia, somente as 37 nações do velho bloco imperialista e seus apoiadores implantaram sanções contra ela: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Coreia do Sul, Suíça, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Singapura e os 27 Estados da União Europeia. Sanções não são um “mecanismo gerador de paz e harmonia”, disse Santiago Cafiero, ministro das Relações Exteriores da Argentina. “Não iremos realizar qualquer tipo de represália econômica porque queremos ter boas relações com todos os governos”, disse Andrés Manuel López Obrador, presidente do México. Em novembro, 87 Estados se abstiveram ou votaram contra uma resolução que cobrava da Rússia reparações à Ucrânia. O Terceiro Mundo não quer se envolver nas intrigas do eixo do Atlântico Norte.
Isolado e ignorado, o Ocidente recorre mais uma vez à coercão, manipulando e pressionando as nações mais pobres do mundo para que se juntem ao coro da condenação moral e à guerra econômica contra a Rússia. Nos casos mais ultrajantes, as pressões envolvem pena de retaliação. Os Estados Unidos têm ameaçado impor sanções à Índia, à China e a outros Estados caso continuem a fazer negócios com a Rússia, muito embora os EUA estivessem buscando reabilitar momentaneamente Nicolás Maduro, da Venezuela, em uma manobra para atenuar os efeitos do aumento no custo do petróleo. O que é isso se não uma tentativa de chantagear as nações do mundo para que apoiem seus opressores mais uma vez?
Nesta nova guerra fria, assim como nas guerras coloniais do século passado, as aspirações de tantos na construção de uma existência digna atravessam as divisões ideológicas. Hoje, os laços entre os países do Terceiro Mundo estão se fortalecendo contra a ameaça imperialista. A China de Xi Jinping e a Índia de Narendra Modi, mundos distantes em seus projetos políticos e convicções, estão rejeitando a “mentalidade de Guerra Fria”. Assim também fazem os países da América do Sul. Quando os Estados Unidos convocaram a Cúpula das Américas – excluindo Cuba, Venezuela e Nicarágua – os presidentes do México e da Bolívia boicotaram o evento. Outros manifestaram sua indignação com a exclusão. A “integração de toda a América”, disse López Obrador, é o único caminho para enfrentar o “perigo geopolítico que o declínio econômico dos Estados Unidos representa para o mundo.”
A obstinada resistência ao canto da sereia da Nova Guerra Fria ressalta a urgência da multipolaridade – um antídoto contra a imposição de desequilíbrios no capitalismo mundial, algo que caracteriza muito dos últimos 500 anos, e que a unipolaridade tem assegurado. Se a humanidade quiser ter a chance de solucionar a crise civilizatória de nosso tempo – da pandemia à pobreza, da guerra à catástrofe climática – é imperativo construir uma política externa fundamentada no desenvolvimento soberano e na cooperação contra o impulso de subordinação imperialista.
À medida que ganha forma, essa cooperação se transforma em uma intensa rejeição das tecnologias disruptivas de conquista, adotadas durante séculos por potências colonialistas e imperialistas. Ela contraria a lógica da ordem mundial neoliberal, restringindo seu campo de ação e enfraquecendo sua capacidade de influência sobre as economias das nações mais pobres. Em outras palavras, é um passo rumo à articulação de um projeto político alternativo, fora da esfera de acumulação do capitalismo monopolista. Por esta razão, a multipolaridade é a ameaça mais profunda que o Ocidente coletivo jamais enfrentou. “O cenário mais perigoso,” escreveu Brzezinski em The Grand Chessboard, é uma “coalizão anti-hegemônica unida não por uma ideologia, e sim por reclamações complementares.”[13]
Brzezinski, claro, pensava a partir de uma perspectiva geopolítica, e não econômico-política. Mas as reclamações complementares que estão surgindo são, essencialmente, materiais. Dizem respeito a questões básicas de dignidade – de sobrevivência. É por isso que, do pan-africanismo à integração eurasiática, os projetos de cooperação se tornam os primeiros alvos de retaliação imperialista.
Três teses para a esquerda
Em 1960, o revolucionário ganês Kwame Nkrumah discursou nas Nações Unidas. “A grande corrente da história flui”, disse ele, “e à medida que flui carrega para as margens da realidade os mais relutantes fatos da vida e das relações entre os seres humanos”. O que significa, para os internacionalistas, lidar com os mais relutantes fatos da vida? Que tipo de relações, envolvendo povos e nações, pode encontrar respostas para as grandes crises do nosso tempo?
Estas questões me fazem voltar recorrentemente aos debates da Terceira Internacional. Não há dúvida de que as condições de hoje são outras. As velhas potências coloniais, que já não se encontram presas a guerras eternas contra seus pares, operam agora através de um imperialismo coletivo. Elas dispõem de novas estratégias para drenar os recursos de povos e nações, [enquanto] as armas nucleares e a crise ecológica ameaçam nossas sociedades com o espectro cada vez mais denso da destruição total.
Contudo, e obstinadamente, um entendimento permanece: o capitalismo não pode ser superado até que as artérias da acumulação imperialista sejam cortadas a nível global. Como Roy argumentou há mais de um século, e a história tem abundantemente demonstrado, o capitalismo continuará sua marcha destrutiva enquanto as potências ocidentais puderem se alimentar do trabalho e da riqueza do Terceiro Mundo. Uma trajetória hoje assegurada por exércitos poderosos e preparados para esmagar povos e destruir nações.
E o que isso significa para aqueles de nós que vivem e se organizam no centro do imperialismo? Gostaria de apresentar, resumidamente, três teses que decorrem da análise precedente:
(i) A revolução já está em movimento. Desde as primeiras lutas anticoloniais, a revolução contra o imperialismo (isto é, o capitalismo em sua dimensão internacional) tem avançado por um caminho sinuoso junto ao projeto do Terceiro Mundo. Pela capacidade que possuem de deter os fluxos de extração imperial que produziu o nosso mundo, os povos do Terceiro Mundo são os propulsores de uma transformação progressiva para a humanidade.
(ii) Os principais protagonistas da revolução não estão no Ocidente. A revolução europeia foi brutalmente esmagada por uma classe dominante poderosa apoiada pela pilhagem imperial. Destituída de poder estatal nos Estados imperialistas, a esquerda não tem condições de ditar os termos dos processos tectônicos que estão em curso, e não deveria tentar direcioná-los através de caminhos que forneçam suporte ideológico para nossas classes dominantes. Muito terreno tem sido cedido aos imperialistas na busca por pequenos ganhos eleitorais ou em estratégias parlamentares. Nenhum poder pode ser construído direcionando nossa limitada capacidade política contra os inimigos oficiais de nossas classes dominantes.
(iii) No Ocidente, a esquerda anti-imperialista atua no interior do monstro. A fraqueza da esquerda no Ocidente reflete a força de suas classes dominantes. No momento em que a burguesia ocidental enfrenta um desafio histórico à sua hegemonia, a tarefa não é a de reafirmar seu poder através de reformas medíocres que socorram o capitalismo contra suas calamitosas contradições, mas sim lutar pela sua derrota final. É um inimigo que compartilhamos com a maioria da população mundial e com o planeta em que habitamos.
Nossa tarefa mais importante é, então, recuperar o anti-imperialismo socialista como uma categoria de pensamento e ação – trabalhando a favor das condições e tendências da mudança revolucionária, e não contra elas. Isto exige nada menos que a retomada da ousadia política que perdemos com o assim chamado “fim da história”, quando as posições do socialismo global recuaram e a ideologia imperialista se autoproclamou tão inevitável quanto o oxigênio. A história não foi a lugar algum. Ela nos solicita hoje que sejamos claros em nossa crítica ao imperialismo, implacáveis ao atacá-lo, e audaciosos na concepção de uma alternativa ao capitalismo que seja capaz de responder aos clamores das classes trabalhadoras em nossas sociedades – clamores que estão sendo, mais uma vez, correspondidos pelo canto da sereia da extrema direita.
As apostas não poderiam ser mais altas. A ascensão do Terceiro Mundo e o desmantelamento do domínio multissecular das potências colonizadoras conseguirão ao menos abrir a possibilidade de um projeto político diferente em escala global? Ou as forças do imperialismo coletivo continuarão a nos empurrar ladeira abaixo, rumo à guerra e ao colapso ambiental? A resposta depende de nosso firme e determinado compromisso com um destes caminhos, que estão em oposição dialética um ao outro. Depende de nós que a sangrenta história do legado do Ocidente seja estudada, e que aprendamos com as forças que têm resistido a ele. Esse conhecimento, incorporado em nossas lutas, contém a chave para recriarmos nosso mundo.
Isso nos permite construir e marchar juntos, em sintonia com as vigorosas e corajosas lutas do Terceiro Mundo contra a gradual perda de controle das classes dominantes do Ocidente coletivo. Não poderemos responder os clamores da humanidade se arrancamos aos famintos aquilo que comemos.
*Pawel Wargan é coordenador do secretariado da Internacional Progressista.
Tradução: R. d’ Arêde.
Publicado originalmente no portal da revista Monthly Review.
Notas dos tradutores
[1] Utilizamos a já difundida tradução de Paulo César de Souza para o poema de Bertolt Brecht, em Poemas 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2000.
[2] Redskins: “peles vermelhas”, considerado ofensa racial contra nativo americanos.
[3] Operação Barbarossa: originalmente chamada de operação Fritz, foi o codinome usado pela Alemanha Nazista, durante a Segunda Guerra Mundia, para a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941. O fracasso das tropas alemãs em derrotar as forças soviéticas na campanha assinalou uma virada crucial na guerra. A operação alemã contou com quase 150 divisões contendo algo de 3 milhões de homens, 19 divisões de veículos blindados Panzer, somando um total de 3 mil tanques, 7 mil peças de artilharia e 2.500 aviões. Essa foi a maior e mais poderosa força de invasão na história humana. A força dos alemães ainda foi incrementada por mais de 30 divisões de tropas filandesas e romenas. (cf. Encyclopaedia Brittanica, Operation Barbarossa | History, Summary, Combatants, Casualties, & Facts | Britannica ). O objetivo da operação era “a conquista da União Soviética. Essa conquista visava a promover a destruição do bolchevismo e iniciar a escravização dos eslavos para que o trabalho deles sustentassem a economia alemã” (cf. Mundo Educação). A Batalha de Stalingrado, a maior batalha durante a Segunda Guerra Mundial, com o custo de dois milhões de soldados, foi uma das batalhas travadas na operação Barbarossa.
[4] Operações stay-behind: Surgidas no âmbito da Segunda Guerra Mundial, as operações “stay-behind era uma rede clandestinas vinculada à Otan e estabelecidas em 16 países da Europa Ocidental durante os anos da Guerra Fria. A função das operações era combater qualquer indício de “ameaça comunista”, contando com exércitos secretos de guerrilha que geralmente se valiam da violência dos extremistas de direita para alcançar seus objetivos. “Coordenadas pela Otan, pela Agência Central de Inteligência (CIA) e o Serviço Secreto de Inteligência Britânico (SIS), essas redes foram financiadas, armadas e treinadas em atividades secretas de resistência, incluindo assassinato, provocação política e desinformação; prontas para serem ativadas em caso de invasão pelas forças do Pacto de Varsóvia. Nisso, a rede italiana Operação Gladio se tornou uma das mais famosas” (fontes The Guardian, Docdroid, Associated Press, The New York Times, cf. https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/120887-operacao-gladio-as-redes-espias-que-queriam-inibir -o-comunismo.)
[5] Atlantistas: Derivado da OTAN, o atlantismo surge como “uma proposta que tem como base a cooperação entre os Estados Unidos, o Canadá e a Europa Ocidental. Nascida no contexto da defesa da Europa Ocidental de uma possível expansão comunista, posteriormente adquiriu um sentido mais amplo, como uma verdadeira doutrina política de viés liberal” (cf. Laura Polon, Mestre em Geografia e Graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
[6] Ocidente coletivo: concepção que surge no discurso político oficial russo e ganha força na mídia russa após o presidente Putin usá-lo para se referir aos EUA e a União Europeia. Tal concepção “reúne todas as principais ideias correntes sobre os países do Ocidente ou do Oeste amplamente disseminadas no discurso político russo após o período da Criméia”. A noção de Ocidente nessa concepção não é propriamente geográfica. O Ocidente coletivo inclui países como o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Austrália e Nova Zelândia. Para uma análise detalhada do uso político da concepção de Ocidente coletivo na esfera midiática russa, https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/3947/1-The-Collective-West_html
[7] França de Vichy: o regime de Vichy, liderado pelo liderado pelo marechal Philippe Pétain, diz respeito ao governo francês estabelecido após a queda da França para os alemães em 1940. Com o norte do país controlado diretamente pelos alemães, o regime de Vichy se estabeleceu na parte não ocupada da França, implementando políticas autoritárias, censura, perseguições políticas e colaborando com a entrega de judeus franceses aos nazistas
[8] Doutrina de dissuasão é uma estratégia política por meio da qual a exibição de força militar e do poder de destruição de seus arsenais, visa desencorajar que países adversários realizem algum ataque por medo de retaliação
[9] Belt and Road (B&R), ou One Belt, One Road (OBOR), ou Cinturão e Rota, também conhecida como A Nova Rota da Seda, foi lançada oficialmente em 2013. A iniciativa consiste em uma série de investimentos predominantemente nas áreas de transporte e infraestrutura, tanto terrestres (Cinturão), ligando Europa, Oriente Médio, Asia e África, como marítimos (Rota), passando pelo Oceano Pacífico e Oceano Índico para chegar ao mar Mediterrâneo
[10] Efeito bumerangue, no original, viés cognitivo em que se realiza ação contrária àquela esperada por uma mensagem que aparece de forma persuasiva
[11] Escudo nacional da Federação da Rússia, representado por um “pássaro cujas cabeças estão apontadas simultaneamente ao Oriente e ao Ocidente, é o brasão oficial da Rússia há séculos, com apenas um intervalo durante a época soviética. O emblema, no entanto, é muito mais antigo do que o país, com raízes que datam de civilizações antigas”, cf. Russia Beyond, em
br.rbth.com/historia/79990-simbolo-nacional-russia-aguia-duas-cabecas
[12] Hegemon, a palavra tem origem na Grécia Antiga e se referia ao líder de uma cidade-estado ou a uma aliança de cidades-estados. “O hegemon era responsável por tomar decisões políticas e militares em nome de seu grupo e exercia um poder dominante sobre os demais membros da aliança. A ideia de hegemonia foi posteriormente desenvolvida por Gramsci, que a aplicou ao contexto da sociedade moderna”, cf. resumos.soescola.com/glossario/hegemonico-o-que-e-significado/
[13] Brzezinski, na íntegra do trecho citado, diz que “potencialmente, o cenário mais perigoso seria o de uma grande coalizão entre a China, a Rússia e talvez o Irã, uma coalizão ‘anti-hegemônica’ unida não pela ideologia, mas por insatisfações [grievances] complementares”.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA