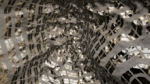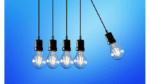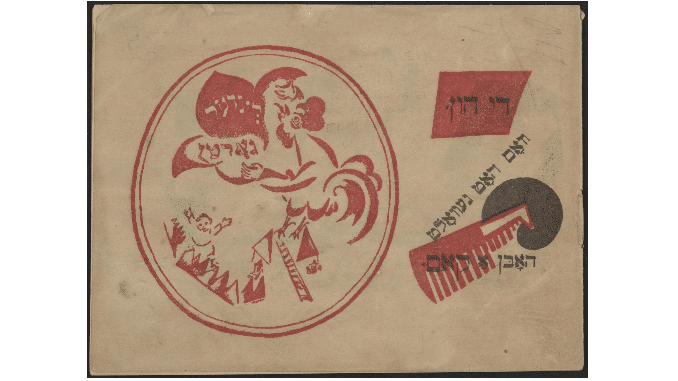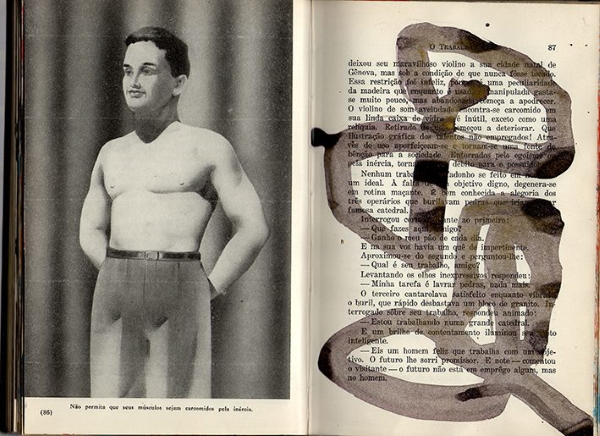Por ANDRÉ MÁRCIO NEVES SOARES*
A democracia liberal não consegue manter uma sociedade igualitária e livre com um sistema econômico excludente e privado
1.
A democracia liberal capitalista está morta, pelo menos desde a crise financeira dos subprimes americanos em 2008. Na verdade, contrariando Francis Fukuyama e o seu mítico ensaio sobre a vitória da democracia liberal e o fim da história,[1] desde o início dos anos 1990 pensadores do calibre de Robert Kurz[2] e Jacques Rancière[3] já apregoavam o declínio do atual arcabouço jurídico-político-econômico de reprodução do capital.
No entanto, apesar das fortes evidências de fim de ciclo, ninguém ousa tocar neste assunto de maneira contundente. E quando o faz, tergiversa em busca de uma meia-verdade. Um bom exemplo disso é o (ótimo) livro do professor da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, Yascha Mounk.[4] De fato, ao longo de mais de trezentas páginas, este autor fez uma bem fundamentada defesa da democracia liberal, ao apontar seus atuais problemas e possíveis soluções.
O grande problema do livro, a meu ver, está justamente no fato do autor não abordar seriamente as gritantes incongruências entre o modelo político da democracia liberal e o seu atual braço econômico – o neoliberalismo. Mas vamos por partes, para que o/a leitor/a possa reunir algum embasamento teórico que o/a permita tirar suas próprias conclusões.
Como se sabe, Francis Fukuyama escreveu seu clássico na esteira do desmoronamento do bloco soviético, no início dos anos 1990. Naquela época, fazia sentido para ele pleitear a vitória final da democracia liberal capitalista. Afinal, a década anterior foi de afirmação dos Estados Unidos como a única superpotência mundial, uma vez que o seu principal rival em termos globais, a União Soviética, se desmanchava dentro da “cortina de ferro”.
Com efeito, a Rússia viu a maioria dos estados-membros do Pacto de Varsóvia se bandear para o lado do ocidente capitalista, após Gorbachev finalmente ter renunciado ao cargo de presidente, reconhecendo o fracasso de suas reformas e o colapso da União Soviética, em 25 de dezembro de 1991. Nesse sentido, o fim da história para Francis Fukuyama configurava, resumidamente, a supremacia mundial das democracias liberais e do livre capitalismo de mercado, além de sinalizar o fim da evolução sociocultural da humanidade.
2.
Ora, em livro publicado nessa mesma época, o intelectual alemão Robert Kurz alertou para a crise iminente da economia mundial. Para ele, a crise da modernização seria decorrente do fato de o Ocidente e o Oriente estarem mentindo um para o outro: enquanto o Oriente esperou por um “boom” econômico ocidental nos moldes do pós-guerra para salvá-lo, o Ocidente torceu para que os novos mercados do Oriente pudessem salvar a lógica da acumulação de capital infinito, mas que, “surpreendentemente”, estava estagnada.
Para Robert Kurz, a crise se instalou na medida em que as duas crenças não conseguiram êxito. Ainda assim, até a grande crise de 2008, prevaleceu a fantasia ocidental de que os novos mercados do Oriente viabilizariam no Ocidente uma nova “acumulação primitiva recuperadora” decorrente da cientificização e intensificação da produtividade, conforme anunciavam os teóricos pró-mercado de uma hodierna divisão internacional do trabalho, numa época de crises constantes do terceiro mundo.
A questão, para Robert Kurz, é que todas os tipos de acumulação primitiva, desde os antigos processos na Europa, no século XVII, possuem uma coisa em comum: “a expulsão violenta, realizada em formas bárbaras, dos tradicionais ‘produtores diretos’, na maioria de proveniência camponesa, de seus meios de produção e as ‘torturas’ por eles sofridas ao serem forçados pelo status moderno de trabalhadores assalariados, o qual exige o sistema da mercadoria moderna como status de grandes massas”. (KURZ, 1992, pág. 177).
Nessa toada, para ele, todas as regiões do mundo que passaram por uma acumulação primitiva têm apenas a diferença temporal no processo histórico da modernidade. Mas esse fato é de extrema relevância, pois o progresso científico atualmente exacerbado promoveu não uma nova rodada da substância “trabalho” no processo produtivo do capital, mas o próprio limite desse capital, na medida em que passou a excluir o trabalho como “mais-valia” do desenvolvimento e do aumento inclemente da produtividade.
Em outras palavras, o capitalismo liberal, desde o advento da Revolução Industrial, teve tempo suficiente para se transformar inúmeras vezes, com o beneplácito da política democrática representativa, como uma espécie de “Frankenstein” tecnológico que arrastou as massas de todas as partes do globo, a começar pela Inglaterra – que foi a precursora – e que, num segundo movimento agora de globalização, passou a ser o sistema produtor de mercadorias infinitas, com uma velocidade sem igual da força produtiva do capital que se tornou inalcançável pelo ser humano.
Daí o pessimismo de Robert Kurz quanto ao futuro desse sistema mundial – que chamou de “moribundo” –, que conjuga uma política democrática “liberalizante” para os donos do poder e que retira direitos dos cidadãos internamente em cada país, seja ele desenvolvido ou não, com uma política econômico-financeira neoliberal que ultrapassou seus próprios limites de integração global, sem que jamais conseguisse unificar o planeta na busca utópica pelo fim da lógica destrutiva imanente do capitalismo financeiro sem a força trabalho, mas predominantemente robôs, ou, como disse David Graeber, apenas com “empregos de merda” para o ser humano.[5]
3.
Mais recentemente, o filósofo argelino Jacques Rancière causou furor com sua obra sobre o ódio à democracia. Sua frase inicial sobre esse novo ódio instalado em corações e mentes de boa parte dos cidadãos de todos os países ocidentais, qual seja “só existe uma democracia boa, a que reprime a catástrofe da civilização democrática”, é como uma bomba no coração daqueles que, como Yascha Mounk, ainda pensam que uma democracia liberal capitalista pode dar conta de um mundo tão caótico. Intelectuais como ele não admitem que foi precisamente o avanço do capitalismo sem fronteiras, amparado pelo arcabouço político-jurídico nacional de cada país e internacional, através das inúmeras agências de deliberações supranacionais, sob o olhar atento da única potência mundial, que tem levado nosso planeta à beira do colapso.
Até recentemente, especialmente no período do pós-guerra, a democracia liberal foi vista como o baluarte da nova civilização surgida dos escombros de uma primeira metade do século passado de horror. É verdade que a URSS era um contraponto importante a essa narrativa dominante da civilização ocidental. Porém, apesar da guerra fria, poucos pensadores do lado de cá duvidavam da vitória final do modelo estadunidense. Foi a fase áurea do “american way of life”. Nesse sentido, o mérito de Jacques Rancière é colocar um freio nesse frenesi de vitória anunciada, cujo ápice se deu com Francis Fukuyama. Jacques Rancière lembra que alguns especialistas mais céticos consideraram à época o “paradoxo democrático”, qual seja, que a democracia como forma de vida é o reino do excesso e que esse excesso é a causa da ruína da democracia.
Jacques Rancière entende que a democracia proporciona à política esse excesso que é fundamental para o transcender de sociedades modestas em sociedades gigantescas e globalizadas, na medida em que abandona a política de exceção dos poucos abastados por uma política dos muitos ansiosos por mais riqueza. Mas, no entanto, afirma que: “O escândalo democrático consiste simplesmente em revelar o seguinte: não haverá jamais, com o nome de política, um princípio uno da comunidade que legitime a ação dos governantes a partir das leis inerentes ao agrupamento das comunidades humanas”. (p. 67)
Dessa maneira, a democracia não poderia servir como um bom exemplo de futuro da humanidade por dois motivos: o primeiro é a própria incapacidade da democracia de representar um bom governo, uma vez que o excesso é o próprio povo, este ser etéreo, disforme, desmitificado da áurea de capacitação necessária para governar uma comunidade; o segundo é a incapacidade desse excesso democrático representado pelo povo ser unificado pelo excesso liberal da economia capitalista.
Nessa toada, se essa horda não conseguiu sucesso na pequena Atenas de Péricles, onde toda a população de homens livres cabia numa única praça, muito menos o conseguirá na modernidade, quando os eleitores são contados na casa dos milhões nos países mais populosos. Foi essa impossibilidade demográfica/geográfica que ensejou o surgimento da democracia representativa.
Contudo, para Jacques Rancière, a representação nunca foi uma forma política para amenizar as vontades crescentes oriundas do aumento populacional. Em outras palavras, a ideia de democracia representativa não se utilizou da artimanha de representação para adequar os anseios da população em crescimento aos interesses dos governantes. Pelo contrário, a democracia representativa facilitou os negócios comuns para os setores oligárquicos.
É por isso que a democracia representativa liberal tem sido tão longeva. Ao mitigar o acesso do povo ao ordenamento político apenas pela eleição esporádica, e satisfazê-lo com diversos fetiches materiais, ela garante que os conchavos econômicos e financeiros estão a salvo da bisbilhotice alheia. Para Jacques Rancière, o sufrágio universal não é uma consequência natural da democracia, e nem mesmo atende de forma definitiva ao objetivo maior que é a participação popular nos assuntos da nação. Ao contrário, no mundo pós-moderno o poder que o povo exerce está sempre aquém da forma jurídico-política da democracia.
Portanto, longe do discurso liberal de que a democracia procura sempre maior intervenção da política na sociedade, ela passou a ser usada para além das próprias formas que inscrevem esse poder popular ao estreitar as relações governamentais na esfera pública, com o intuito de transformá-la em esfera privada dos interesses dos políticos e dos partidos. Dessa maneira, para ele, está posta a dupla dominação da oligarquia sobre o Estado e a sociedade.
Se a democracia não é uma forma de governo, no seu sentido mais estrito, pois nunca promoveu a igualdade entre todos, mas apenas uma das tantas formas exitosas de tomada do poder pela velha ou por uma nova classe de oligarcas, é possível dizer que todo Estado, seja ele antigo ou atual, só representou, de fato, duas formas de poder: a forma mais autoritária da monarquia e a forma diluída entre uma classe dominante que, mesmo se submetendo ocasionalmente à vontade popular de maior participação nos assuntos gerais, manteve o poder nas mãos dos poucos considerados excelentes, ou seja, de uma minoria oligarca de diversas matizes ao longo da história. Por consequência, no fundo, o que costumamos chamar de democracia subverte (quase) todos os requisitos necessários para uma real participação popular, com a elite oligárquica se apropriando da coisa pública através de uma sólida aliança entre as duas oligarquias, a saber, a pública e a privada.
É possível que muitos leitores, diante da minha afirmação inicial neste texto, de que a democracia liberal capitalista está morta, tenham torcido o nariz. Afinal, seu braço econômico-financeiro selvagem, o neoliberalismo, ainda está a todo vapor. Como um zumbi que não tem mais vida própria, mas ainda assim sobrevive infectando quem aparece no seu caminho, o neoliberalismo permanece ativo no cotidiano das pessoas, trazendo para o mundo dos mortos-vivos todos aqueles incautos que preferem a destruição do planeta, desde que possam ter os seus 15 minutos de fama e/ou riquezas materiais.
Nesse ponto, não importa que o mundo esteja se desmanchando em guerras regionais fratricidas, que novos vírus potenciais possam estar surgindo pela destruição dos habitats naturais, que o planeta esteja sendo cozido vivo por temperaturas cada vez mais altas ou que metade da população economicamente ativa da terra esteja desempregada ou em empregos precários/temporários.
4.
O problema do fim da democracia liberal capitalista é ainda mais real quando um dos seus defensores expõe suas entranhas, mesmo que não consiga colocar o dedo nas feridas mais importantes. Com efeito, quando Yascha Mounk joga a culpa pela perda de força do mito democrático das instituições liberais na ascensão da política populista, ele está sendo parcial, ou melhor, está falando meias verdades, assim como os populistas. É fato que a democracia liberal capitalista está enfrentando sua mais severa crise, desde seu apogeu no pós-guerra.
Concordo com ele que vivemos uma era de incerteza radical e que o pressuposto de que as coisas ficariam imutáveis, tão popular hoje em dia, sempre fez parte da rotina dos contemporâneos. Porém, discordo dele quando vaticina que a batalha contra os populistas é uma questão de vida ou morte para a democracia. Talvez até seja para a democracia liberal, a deusa suprema dos “neoconservadores”, mas não necessariamente para o sistema democrático, nem mesmo para o capitalismo.
Como se sabe, a democracia liberal tem como premissas o pensamento iluminista e os ideais das Revoluções Francesa e Americana. Assim, está gravado na democracia liberal a instituição republicana, além dos princípios da igualdade e da liberdade. Até aqui a democracia liberal parece um mar de rosas, não é caro leitor? O problema é que ela também defende o livre mercado e a propriedade privada. Esses dois últimos são os pilares do capitalismo.
Por consequência, o grande paradoxo que nunca foi solucionado pela democracia liberal é como manter uma sociedade igualitária e livre com um sistema econômico excludente e privado. Com efeito, não existe igualdade de todos perante a lei, o pluralismo político está cerceado pelos “caciques” de cada partido, a transparência política serve de discurso eleitoreiro para os conchavos entre os poderosos e as eleições supostamente livres muitas vezes foram maculadas pelos interesses do poder econômico, o famoso “mercado”.
Ora, mesmo sabendo de tudo isso, Yascha Mounk em nenhum momento apresenta alguma ideia inovadora para a superação da contradição básica da democracia liberal capitalista. Confira-se: “Hoje em dia, em contrapartida, a experiência da estagnação econômica deixa a maioria dos cidadãos apreensiva quanto ao futuro. As pessoas observam com enorme preocupação as forças da globalização tornarem cada vez mais difícil que os Estados fiscalizem suas fronteiras ou implementem suas políticas econômicas. E, assim com suas nações parecem não ser mais capazes de tomar as próprias decisões, elas também se sentem joguetes das transformações econômicas que fogem ao seu controle. Enquanto os empregos que outrora pareciam estáveis são despachados para o exterior ou se tornam supérfluos por conta da tecnologia …, o trabalho já não proporciona mais uma posição segura na sociedade”. (p. 258)
É lamentável, pois, que ele apenas afirme existir “uma pitada importante de verdade nas críticas que parte da esquerda acadêmica levanta contra de democracia liberal” (p. 296). A “pitada importante” é um eufemismo para a avalanche de críticas que a democracia liberal, atrelada ao capitalismo, vem recebendo por parte de todas as correntes ideológicas na contemporaneidade. Eu já citei dois pensadores importantes, Kurz e Rancière, que possuem visões diferentes de mundo e que não podem ser enquadrados nessa dita “esquerda acadêmica”. Como eles, uma infinidade de novos pensadores poderia ser nomeada aqui, mas esse não é o objetivo do nosso artigo.
Na verdade, o próprio Yascha Mounk vislumbra o fim da democracia liberal. Como ele mesmo afirma, uma hora todos os paradigmas políticos, econômicos e sociais acabaram no curso da história, para dar vez a um novo paradigma que reinará, por breve ou longo um período, até um novo fim.
Nesse sentido, obviamente, não temos como prever com exatidão quando a sociedade ocidental se dará conta de que do seu modelo de governança só sobraram carcaças. Os abutres do neoliberalismo, amparados legalmente por uma democracia liberal que faria a “mão invisível” de Adam Smith corar de vergonha (em sentido figurado), estão a reciclar essas carcaças através de duas frentes: a primeira é o capitalismo digital financeiro, que ganhou corpo e velocidade desde o surgimento da internet; a segunda é, precisamente, o progresso científico que promoveu a nova revolução industrial 4.0, que, pela primeira vez na história da humanidade, passou a ser uma revolução negativa para o trabalho humano.
Em outras palavras, é a primeira revolução industrial, desde a primeira lá no século XVIII, a retirar a “mais-valia” humana da cadeia produtiva de geração de mais valor.
Como consequência, a cada dia que passa, cada mês, cada ano, mais e mais pessoas perderão seus empregos para robôs altamente tecnológicos. A sociedade autofágica de Anselm Jappe,[6] para citar mais um importante pensador da atualidade, é a exploração do ser humano em proporções gigantescas, até a criação de uma sociedade supérflua, ou, como ele diz, uma humanidade-lixo que passa a ficar completamente à margem do sistema dominante, e se torna, por isso mesmo, o maior problema do capitalismo. Se isso perdurar ou mesmo aumentar, não existirá nenhum governo, nenhuma nação democrática, seja ela liberal ou não, capaz de evitar que a humanidade se autodevore.
Gostaria de concluir esse breve texto com uma mensagem de esperança. Pois se ainda escrevo essas linhas, é porque tudo permanece mais ou menos indefinido, em que pese a balança esteja a se inclinar para o lado da tendência de autofagia humana. Yascha Mounk sabe disso, mas apela para modelos que só mitigarão a catástrofe iminente: a democracia sem direitos (iliberal) ou direitos sem democracia (antidemocracia). Penso que tanto a democracia iliberal como a antidemocracia serão apenas estágios para algo muito pior, se nada for feito.
Se a “falha geológica da história” da democracia (p. 8) pode ser claramente vista pelo que o novo relatório da Freedom House chamou de 13º ano consecutivo de uma “recessão democrática” – ou seja, nos últimos 13 anos aumentou o número de países que se distanciaram mais da democracia do que caminharam em direção a ela, (p. 9) –, não basta apenas tentar reaver a opção que já está morta, a saber, a própria democracia liberal capitalista.
Ademais, a história mostra que ela, apesar de cíclica, não retorna, necessariamente, ao ponto de partida. Mesmo se entrássemos numa era predominantemente iliberal ou antidemocrática, nada garante que ela depois voltaria ao esplendor da democracia liberal capitalista do século XX. Ela poderia, por exemplo, retroceder ainda mais e cair em algum modelo parecido com a época feudal. Afinal, o que parece querer os novos donos do mundo ultratecnológico? Daí a necessidade de pensar uma nova governança que ultrapasse os dogmas mercadológicos.
É preciso promover maior inclusão popular nas tomadas de decisões de cada sociedade. Talvez a ideia mais interessante do livro de Yascha Mounk, que pode ter passado desapercebida para a maioria dos leitores, tenha sido a da “ágora virtual”. De fato, podemos usar a tecnologia a nosso favor, para estabelecer plebiscitos virtuais periódicos para deliberar os assuntos da cidade, por exemplo. Isso facilitaria a comunicação entre todos os interessados, além de resgatar um costume perdido desde a época ateniense de participação popular.
Se conseguirmos isso, daremos um salto qualitativo por melhores condições de vida local. Eu sei que o grande irmão orwelliano de governo mundial está à espreita. Todavia, a nossa melhor alternativa de sobrevivência é desconstruí-lo pela vida comum entre comunidades mais modestas.
*André Márcio Neves Soares é doutorando em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL).
Notas
[1] FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro. Editora Rocco. 1992;
[2] KURZ, Robert. O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial. Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra, 1992;
[3] RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo. Editora Boitempo, 2014;
[4] MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la. São Paulo. Editora Companhia das Letras. 2019;
[5] GRAEBER, David. Trabalhos de merda: uma teoria. Coimbra. Edições 70. 2022;
[6] JAPPE, Anselm. A sociedade autofágica. Capitalismo, desmesura e autodestruição. Lisboa, Editora Antígona, 2019.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA