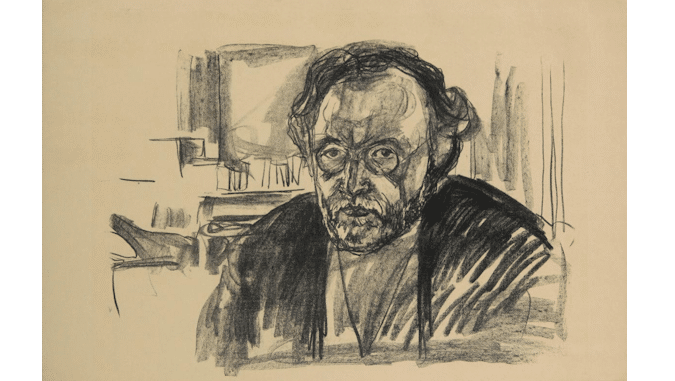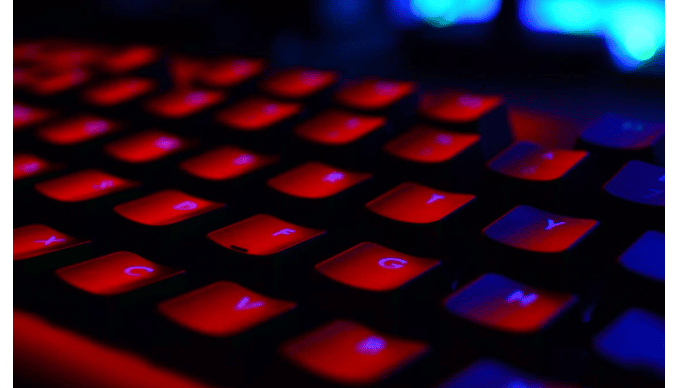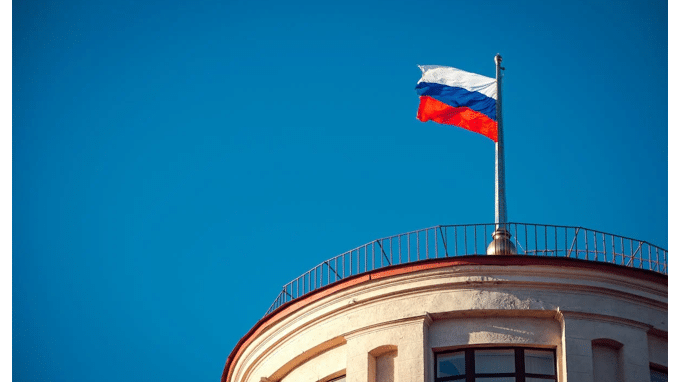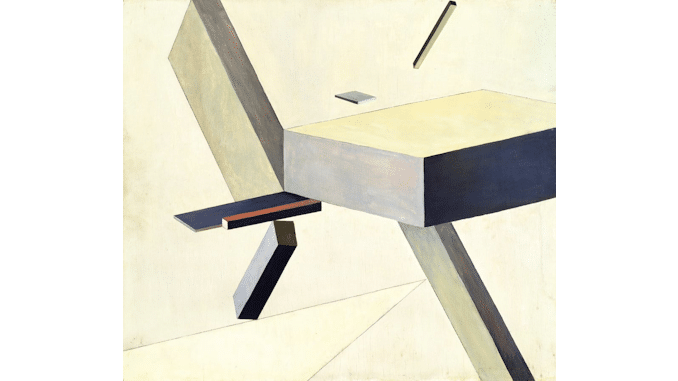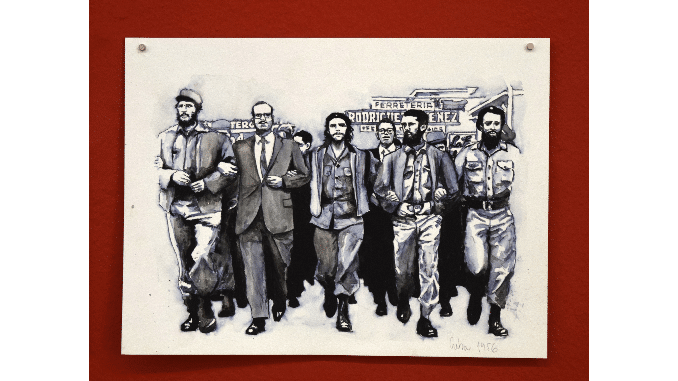Por SANDRA BITENCOURT*
Os jornais esquecem que a luz que pretendiam ser quando aniquilaram a esfera da política pode ter cegado o bom senso e nublado o futuro
“O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros, São palavras certas, já éramos cegos no momento em que cegamos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos, Quem está a falar, perguntou o médico, Um cego, respondeu a voz, só um cego, é o que temos aqui”.
O trecho acima é do romance do vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 1998, José Saramago. Publicado pela primeira vez em 1995, Ensaio sobre a Cegueira narra a história de uma epidemia de cegueira branca que acomete um a um os moradores de uma cidade, se espalha rapidamente promovendo o caos, e abala as estruturas e normas de uma sociedade civilizada.
Saramago reconheceu se tratar de um livro terrivelmente doloroso, sem qualquer alívio, imerso na aflição de uma realidade que ilustra muito bem o que ele transformou em ficção. Em uma de suas apresentações públicas do romance, disse o autor: “Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso”.
A ficção brutal criada por Saramago me assalta cada vez que assisto ao noticiário impregnado de uma tragédia real e assombrosa: não somos bons. Somos? Teria o jornalismo coragem para reconhecer sua insuficiência diante das trágicas coincidências que assolam o mundo e produzem cada vez mais cadáveres? Há uma crise civilizatória forjada na desigualdade, na incapacidade do sistema de gerar riqueza e manter padrões sociais e democráticos, na emergência do fascismo assassino e atrevido.
Neste canto do mundo, a história tem tons mais trágicos e ao mesmo tempo, patéticos. Não é de estranhar que nestas duas últimas semanas o Brasil e Porto Alegre foram objeto das manchetes e editoriais da imprensa de referência no mundo (New York Times, Wall Street Journal e Washington Post), denunciando o colapso previsível e dizendo com todas as letras o quanto manter o Presidente do País é hoje um perigo para o planeta. Não foi diferente nos jornais brasileiros que tradicionalmente defendem os interesses da elite e não hesitaram em apoiar um político obscuro e demente que fazia elogio à tortura. O Estadão, sim o mesmo que considera a reparação jurídica de Lula um risco à Democracia, clama a saída do monstro que ajudou a criar e cinicamente o mantém em artificial simetria com todo o espectro da esquerda. Mas não é apenas o Estadão a pedir a saída do incapaz. Agora, páginas e páginas, horas de cobertura, cardumes de colunistas bradam para deter o perverso e relutam em reconhecer que já não têm a mesma influência que utilizaram para ajudar na derrota de um projeto popular e na quebra da normalidade democrática.
O jornalismo, não apenas aqui, não consegue capturar a percepção, moldar a opinião, inculcar a dimensão do perigo. Não falta informação, não há carência de exposição dos resultados aterradores do colapso causado pela pandemia, sobram testemunhos de cientistas, relatos de médicos exaustos, choro de vítimas e familiares privados de tudo, até da despedida fúnebre, gesto aliás, que nos distingue, desde os primórdios, como seres humanos. Por que diante do noticiário recheado de números, vítimas, dados, orientações, as pessoas não alteram sua percepção de risco, não pensam no coletivo, não moderam a revolta por serem impedidas de seguir suas rotinas, não hesitam em hierarquizar as atividades econômicas?
Em Ensaio sobre a Cegueira, os personagens que não são identificados por nomes, mas sim pelas características físicas, deficiências ou profissões, são acometidos por um tipo de cegueira repentina que não é tradicional. É uma cegueira branca, como se a visão tivesse sido acometida por uma nuvem densa, nunca antes experimentada ou descrita. É um mal sobre o qual pouco se sabe, inclusive sobre sua gravidade ou cura. A cegueira se espalha e diante da pandemia e do caos, as pessoas infectadas são colocadas em isolamento, em um antigo manicômio, onde ficam para trás os traços de humanidade e humanismo e emergem as faces mais atávicas na luta pela sobrevivência, na satisfação das pulsões e necessidades mais básicas. Com recursos escassos e limitados, os instintos animais substituem um comportamento racional, eliminando os aspectos éticos e morais.
Não soa familiar? Festas clandestinas, compra clandestina de vacina, comércio clandestino. Frações que perdem seu nome e juntam-se em coletivos que podem defender o mais bárbaro, são comerciantes, empresários, crentes, especialistas, representantes de um mercado com temperamento que se apavora diante de uma decisão judicial e se omite diante das estatísticas da morte. O Jornalismo até tenta transformar os números em rostos e nomes, mas a contabilidade é tão alta que já não cabe nas matérias.
As cenas de barbárie descritas no livro de Saramago (os quarentenados fazem suas necessidades em qualquer lugar, matam sem motivo, estupram apenas pelo prazer de poder sobre o outro, comem a carne daqueles que estão mortos, etc.) já não estão a uma distância muito significativa do que podemos esperar se de fato nenhuma medida extrema de remoção do incapaz, fechamento sumário das cidades e efetiva proteção social não for aplicada.
A Mulher do Médico, personagem central da trama de Saramago por ser a única que continua a ver, descreve uma cena terrível do que se tornou a cidade. Corpos putrificados no meio da rua, cidade suja com fezes, ratos, lixos e urinas. Tudo junto, inclusive pessoas que ainda estavam vivas. Nesse ponto, o desafio não é lutar por emprego, dinheiro ou sucesso, pois a cidade está toda destruída, mas sim conseguir abrigo, comida e sobrevida fora do manicômio.
Mais uma vez, não soa repetido? A entrevista dura e em tom de desespero do cientista Miguel Nicolélis nos alerta que estamos à beira de um ponto de não-retorno em que à pandemia se somará uma crise do sistema funerário. Em outro trecho da obra de Saramago um dos personagens se pergunta: “Por que foi que cegamos, não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.
O campo do jornalismo e seu engajamento existencial exige para conquista de reconhecimento, uma razão de ser. Podemos apontar que dentre as razões para que o contrato discursivo de representação funcione com o público leitor e para que os cânones profissionais constituam valores e premissas que sejam partilhados e legitimados, uma dessas funções é de iluminar a verdade. Mas essa ainda funciona nestes tempos de desordem e pós-verdade? E mais, nos alerta Cornu (1999, p. 116): “a verdade nunca é absoluta na sua expressão jornalística. […] [ela tem] as marcas da ideologia, da política, da história.”
Os jornais esquecem que a luz que pretendiam ser quando aniquilaram a esfera da política pode ter cegado o bom senso e nublado o futuro. Hoje, reivindicam para si o papel de intérpretes dos interesses coletivos, agindo como atores desinteressados do jogo político, mas com o encargo de poder fiscalizador, com uma postura neutra e imparcial dos fatos e acontecimentos que narram, recomendando boas condutas, contrição e autocrítica aos demais Em nome de falsos consensos econômicos e interesses mercadológicos inconfessáveis, estimularam a quebra, destruíram a coerência da democracia e agora não sabem como recuperar a influência para fazer ver o que nos espera logo ali, na esquina mais tenebrosa da nossa história.
*Sandra Bitencourt, jornalista, doutora em Comunicação e Informação, é pesquisadora do grupo de pesquisa Núcleo de Comunicação Pública e Política (NUCOP).
Referência
Daniel Cornu. Jornalismo e verdade: para uma ética da informação. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.