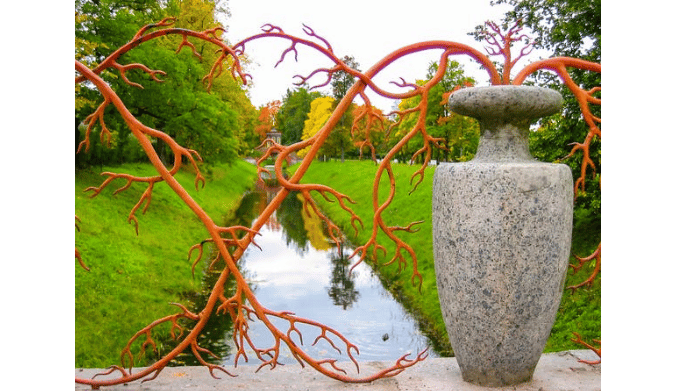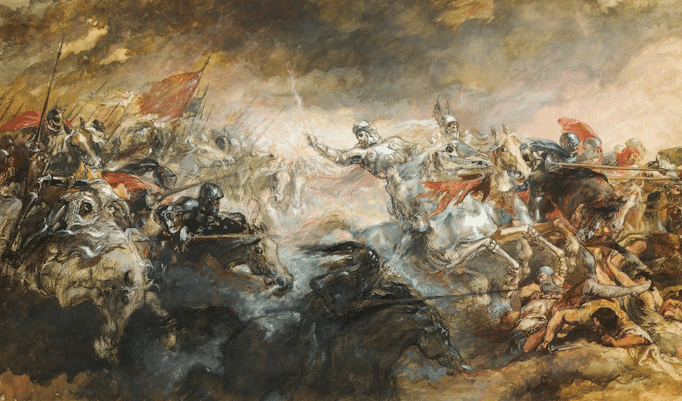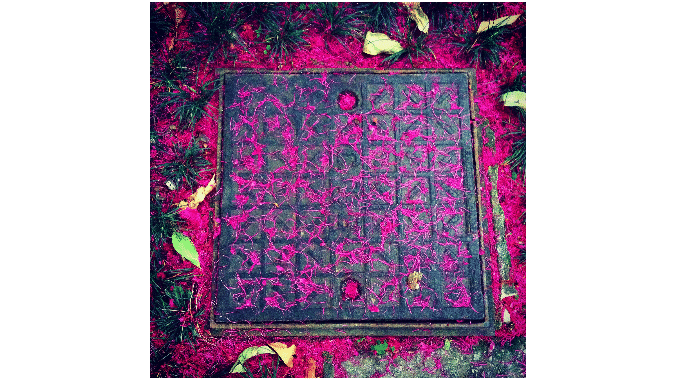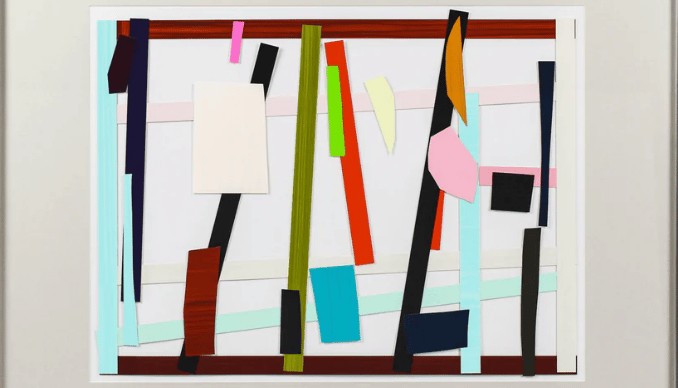Por LUIZ MARQUES*
O cessar-fogo e a consolidação de um Estado Palestino fazem-se inadiável. Da estratégia belicista, só é possível esperar a paz dos cemitérios ao encerramento do massacre
A CNN afirma que Israel plantou armas no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza. Forjou álibis para sua própria brutalidade, com o pretenso objetivo de encontrar o Quartel General (QG) do Hamas. O vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) sobre os armamentos que pertenceriam, por suposto, ao grupo militante estampou a imagem da impostura. “Onde os militares do IDF disseram que havia dois fuzis escondidos atrás de equipamentos médicos, havia apenas um”. Indício claro de que o segundo foi plantado. Para a emissora norte-americana, as provas inventadas eram fantasmagóricas. Serviram para sustentar a narrativa de “autodefesa” na opinião pública. Os enfermos atacados sofreram à toa. Na encenação, os escassos medicamentos foram estilhaçados.
A verdade foi a primeira a morrer no ataque genocida, como sói acontecer. O The Washington Post informou que os invasores “não acharam absolutamente nada que justificasse a ação”. O jornal espanhol El País quebrou o silêncio sobre os atos colonialistas, de Tel Aviv. Em sociedades de massas, os meios de comunicação cumprem um papel decisivo na manipulação das consciências e, idem, na denúncia. O vazamento de fake news para amenizar o genocídio palestino, matando bebês, crianças e mulheres ultrapassou os limites da tolerância para espelhar cruéis carrascos do passado, responsáveis por crimes hediondos contra os judeus e toda a humanidade. A insanidade deu voltas.
O presente israelita não se coaduna com o espírito das comunas agrícolas socialistas dos kibutzim (plural de kibutz, em hebraico) que, no alvorecer do século XX, cumpriam funções estatais. Deve-se relativizar as assertivas que apresentam Israel como o balão que caiu do céu, em uma Assembleia Geral da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, o qual chancelou o Plano de Partição da Palestina em duas porções, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, na esteira da comoção por causa do Holocausto.
Com a anuência internacional, o movimento trabalhista originário vicejou. O Estado de Israel foi então criado, em 14 de maio de 1948, apesar da contrariedade de países árabes. O projeto previa o Estado palestino, o que jamais se materializou. Advém daí a respeitabilidade diplomática do Brasil, para mediar controvérsias em geografias distantes. Lula da Silva segue as pegadas de Oswaldo Aranha.
Parem o genocídio
Benjamin Netanyahu, extremista de direita, começa a destruir a aura social dos kibutzim entre 1996-1999, prossegue na saga entre 2009-2021. Readquire o cargo de primeiro-ministro em fins de 2022. A longevidade na posição dá uma ideia da radical identificação do semitismo com a barbárie, nos últimos trinta anos. O desatino propagou-se, para além das fronteiras, a ponto de um programa radiofônico, “A hora Israelita”, da Rádio Bandeirantes (RS), ter sido suspenso. A apresentadora, por duas semanas, designou de “animais” os palestinos para incentivar a sua desumanização, no ar.
Não faltou o jornalista da Globo News. Desculpou-se, depois, para salvar o emprego e não desabar a audiência. Para outra criatura inominável, “ninguém que mora na zona amaldiçoada é inocente, cada um é culpado”. Na II Guerra Mundial, os nazistas lançaram a absurda sentença condenatória à procedência judaica; o sionismo repete o anátema à procedência palestina. Ora como tragédia, ora como farsa, a história é “na essência, uma longa série de matanças de povos”, dizia Freud, em idos de 1915. “Porque já somos muito suficientemente uma civilização do ódio”, corroborou Jacques Lacan, em 1950. O diagnóstico sombrio não é um convite derrotista para o conformismo ou para o niilismo.
Inútil reeditar a polêmica sobre se o Estado de Israel deve ou não existir: ele existe. Tal é a realidade incontornável, o ponto de partida para a discussão sobre a coexistência de Leviatãs gêmeos naquele pedaço sagrado de terra. O líder da OLP (Organização pela Libertação da Palestina), Yasser Arafat, comentava que “a pior coisa é ser vítima das vítimas da história”. Estas, imaginam-se no direito eterno à expansão territorial. A solução está na convivialidade das nações israelense e palestina, com Estados contíguos, soberanos, independentes, fronteiras delimitadas, passagem para o mar equacionada e o estatuto de Jerusalém concertado, entre as partes. Uma tarefa que exige estadistas.
As placas se movem
Depõe, por si, a presença de 800 mil manifestantes nas ruas de Londres, 10% da população da capital inglesa, em um país em que a política de integração dos imigrantes é a mais democrática da Europa, por não forçar a negação das culturas aportadas. Entende-se a queda da ministra do Interior, no Reino Unido, demitida pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, por ofender a massiva manifestação. A estação pública BBC e o jornal Daily Telegraph adiantam que a demissão vai desencadear uma grande remodelação do governo britânico.
É extemporâneo o esperneio da ministra dos Transportes israelense, ao criticar o Gabinete de Guerra pelo envio de combustíveis ao sistema de água, esgoto e saneamento, na Faixa de Gaza, para “evitar um surto de epidemia na área que atinja nossas forças”. O racha interno sinaliza o quão insustentável é a continuidade da limpeza étnica racista, em curso.
Vale lembrar que, em Assembleia Geral da ONU recente, aprovou-se por 120 votos – dentre eles, o do Brasil – uma “trégua humanitária” na Faixa de Gaza. Houve quatro votos contrários e 45 abstenções, o que demonstra o isolamento crescente de Israel e dos Estados Unidos que, a contragosto, acataram a resolução. Acuado, o presidente Joe Biden ensaia um tom de moderação para evocar o espectro do Estado palestino, que paira sobre a hipocrisia. Donald Trump espreita o apoio, iniciado em moldes incondicionais, derreter geometricamente. As disputas domésticas pressionam os Democratas.
A proposta de paz não floresce graças aos interesses econômicos e geopolíticos dos EUA, em uma região estratégica, que possui rotas comerciais vitais, a exemplo do Canal de Suez, e a metade do combustível fóssil do planeta. Pós-Guerra Fria, a governança estadunidense vigia as principais esquinas planetárias, em conformidade com a “Doutrina Wolfowitz”, de 1992. Ceder implicaria metabolizar a multipolaridade que está em vias de superar a unipolaridade imperialista. Mas não há nenhum prenúncio de que os “homens ocos” de hoje aceitarão inermes, empáticos e resignados as cortinas baixarem no teatro contemporâneo, aplaudindo de pé os versos do poema de T. S. Eliot: “Assim expira o mundo / Assim expira o mundo / Não com uma explosão, mas com um suspiro”.
Avançar as bandeiras
O vitimismo não legitima bombardeios, feitos até com o uso de dispositivos proibidos pelas “leis da guerra” (que las hay, las hay), tipo os explosivos de fósforo. O cessar-fogo e a consolidação de um Estado Palestino fazem-se inadiável. Da estratégia belicista, só é possível esperar a paz dos cemitérios ao encerramento do massacre. O bom senso não pode subscrever o arroubo de vingança, por um Estado. No quadro do colonialismo: “Nem o terrorista nem o aterrorizado, ambos como substitutos do cidadão, renegam o assassinato. Eles o assumem como garantia derradeira de uma história temperada a ferro e aço, a história do Ser”, pondera Achille Mbembe, em Políticas da inimizade.
O filósofo camaronês acerta em cheio: “A guerra se inscreveu como um fim e como necessidade não só na democracia, mas também na política e na cultura. Tornou-se remédio e veneno, nosso phármakon. A transformação da guerra em phármakon de nossa época, em contrapartida, liberou paixões funestas que, pouco a pouco, têm forçado nossas sociedades para fora da democracia e a se transformarem em sociedades da inimizade, como ocorreu sob a colonização”. O reprimido retorna. Com o pessimismo da razão e a indignação do coração, Achille Mbembe constata que “a guerra contra o terror e a instituição do ‘estado de exceção’ em escala mundial amplificam isso (o mal)”.
A ascensão da extrema direita é análoga ao aquecimento global, fruto de erros em prol do progresso capitalista e da ganância financista, sem atentar para o meio ambiente social e natural. A devastação de direitos equivale à destruição das condições da vida humana. É preciso visão de totalidade para a guinada. As readequações associadas às mudanças no mapa-múndi eleitoral, com o centro inclinado para Thánatos, em vez de Eros, na dialética da decolonização, reatualiza os dilemas dos anos 1930: para pior, no século XXI. Elide a esperança na ordem internacional mais justa e igualitária, pregada pelo otimismo da vontade. A saída do labirinto do neoirracionalismo, que rima guerra e democracia, é o desafio do bloco político-organizativo de progressistas. Desde que ousem avançar as bandeiras.
*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA