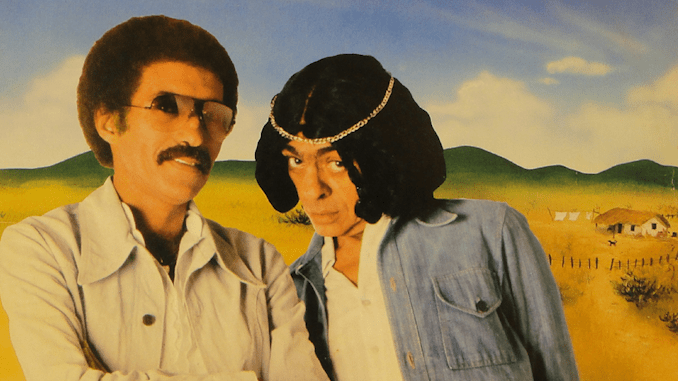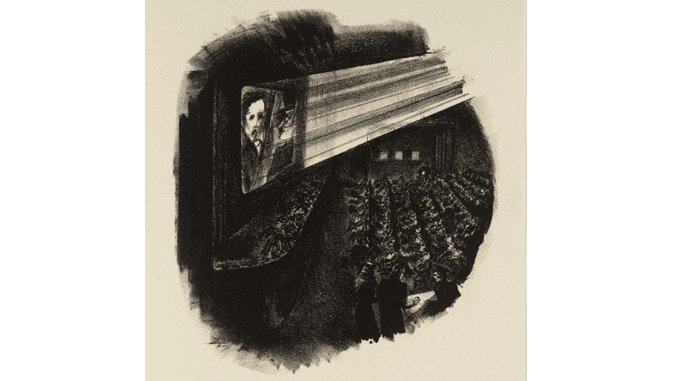Por HENRIQUE N. SÁ EARP*
Repensar nossos valores de fundo, prioridades e alianças, e amadurecer com as colisões, é uma tarefa histórica da esquerda internacionalista na luta por Paz, Justiça e Palestina Livre
As fraturas provocadas pela questão palestina não surgiram em 7 de outubro de 2023. A panela de pressão de dezesete anos de bloqueio israelense à Faixa de Gaza explodiu no ataque coordenado pelo Hamas, que rompeu o cerco militar e procedeu a um massacre de centenas de civis e centenas de militares, e à captura de centenas de reféns em Israel. Nem tampouco tais divergências foram inauguradas pela reação do governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu, que consiste na completa obliteração do território com maior densidade populacional do planeta, com mais de dois milhões de pessoas – metade das quais são crianças. Frente à escala de horrores, a opinião pública mundial viu o cinismo e a passividade de anos recentes racharem-se em fissuras muito mais diversas do que o desgastado paradigma da ‘polarização’. Em particular, o campo da esquerda mundial divide-se acerca de conceitos como autodeterminação, antissionismo, tática e estratégia da militância internacional; e este é o único campo em que tais dilemas me interessam, pois, em matérias de solidariedade, a direita já muito ajuda quando pouco atrapalha.
Minha premissa analítica, que espero incontroversa, é que todas as vidas e sofrimentos humanos valem por igual. Como homem branco nascido deste etnoestado patriarcal que convencionamos chamar Brasil, reconheço múltiplos mecanismos estruturais de supremacia, privilégio e opressão violenta de grupos sociais marginalizados, bem como do apagamento de sua memória histórica e cultural, que se encontram nas narrativas de desumanização acerca dos Palestinos. Por outro lado, tenho clareza de que o ciclo de atrocidades que presenciamos há décadas só será rompido com pressão política exercida com máxima unidade, o que inevitavelmente explicitará contradições e desconfortos no interior da própria esquerda. Mais ainda, eu entendo que algumas perspectivas acerca desse conflito partem de uma percepção assimétrica da dignidade de certo grupo envolvido frente aos demais; se você possui tais vínculos, é provável que algumas partes deste texto lhe sejam desagradáveis. Se servir de consolo, todas as partes deste texto foram desagradáveis para mim.
Necroaritmética: álgebra necropolítica do luto
Um expediente retórico assustadoramente comum entre as militâncias implicadas no conflito, e que me parece intolerável, é o que proponho chamar necroaritmética. Você certamente já ouviu comparações entre o número de vítimas israelenses do Hamas e o número de palestinos vitimados antes e depois de 7 de outubro, computando uma desproporcionalidade nos crimes de guerra israelenses que relativize ou mesmo justifique a atrocidade daquele ataque; por outro lado, trata-se também da maior mortalidade de judeus em um mesmo ataque desde o Holocausto, cujo trauma relativiza ou mesmo justificaria a escala da represália indiscriminada de Israel contra a população civil de Gaza. Ora, se todos os sofrimentos humanos valem por igual, então parece-me inevitável parafrasear a escritora indiana Arundhati Roy, em seu texto “A álgebra da justiça infinita”, postulando que os números de vítimas sempre se somam, jamais se subtraem ou se dividem.
A necropolítica, segundo o teórico camaronês Achille Mbembe, é a expressão máxima da soberania em que um poder (como o Estado) tem a capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer. O filósofo brasileiro Vladimir Safatle apoia-se neste conceito para denunciar os mecanismos de apagamento da memória coletiva e de gestão do luto: em culturas estruturalmente violentas, como a brasileira, o exercício do poder dá-se inclusive pela decisão de quem é digno de luto e quem morre como coisa. Sob essa perspectiva, podemos entender que a prática necroaritmética, por um lado, responde a uma certa economia do luto, já que opera exatamente para anular a dissonância afetiva de sentir compaixão pelas vítimas em “ambos os lados”; por outro lado, parece-me claro que a incorporação de teses necroaritméticas à militância é em si mesma uma reprodução da necropolítica subjacente, e portanto contraproducente ao seu enfrentamento. Além de moralmente indigentes, tais teses são politicamente divisivas e portanto inócuas para a causa que presumem apoiar. Não é “mais de esquerda” minimizar as mortes bárbaras e os sequestros dos civis israelenses, subtraindo-as do número de mortos e prisioneiros palestinos nas mãos de Israel; tanto quanto é um insulto à memória das vítimas do nazismo lastrear novos crimes israelenses em seu sofrimento, dividindo qualquer martírio dos palestinos por seis milhões. Proponho rotular e denunciar com veemência a utilização retórica de operações necroaritméticas em qualquer lado da questão palestina.
Países e cidadania
Um País é uma linha poligonal imaginária, que separa a Terra em duas regiões disjuntas, uma das quais é colorida de fetiches e a outra também. Esta estúpida geometria simbólica da presença humana no planeta não derivou de nenhum projeto racional, mas sim da coagulação histórica de esferas de poder e suas capacidades recíprocas de violência. O formato apoia-se na invenção de mitologias nacionais, como se os comandados que morreram nas medições de forças fronteiriças não se parecessem muito mais entre si do que com seus comandantes – estes sim, não-raro, falantes de uma mesma língua. Qualquer expressão essencialista de identidade nacional que reivindique formas ideais de uma cultura ou características morais particulares de seu povo é igualmente artificial e tola.
No entanto, os Estados nacionais são a forma atual de provimento da cidadania, a proteção de direitos individuais mínimos e a promoção do bem-estar coletivo – na medida em que este não prejudique em demasia os interesses das elites proprietárias. Tomando como imperativo moral o acesso de todos os seres humanos à cidadania plena em algum Estado que a possibilite, chegamos ao impasse entre o projeto nacional sionista, em suas diversas nuances, e à inegável reivindicação dos Palestinos por soberania territorial e política.
Especificamente, a ideia de um Estado de Israel destinado a expressar historicamente alguma promessa profética ao povo judeu parece-me tão estranha quanto um Estado brasileiro, ou francês, ou indonésio, vocacionado a realizar esta ou aquela missão essencial na trajetória daquele povo. Simetricamente, a urgência de um Estado Palestino impõe-se como uma necessidade pragmática de acesso à cidadania, e não como tela de projeção de algum idealismo anti-imperialista na qual, não-raro, o sofrimento imediato do povo palestino é pretexto oratório sem centralidade estratégica. Se a função nacional do Estado de Israel é oferecer proteção e autodeterminação àquele povo, então pelo mesmo argumento também os Palestinos têm direito a um Estado pleno que lhes garanta o mesmo, sem pré-condições ou barganhas adicionais. O “direito a existir” de Israel está predicado no mesmo direito a existir do Estado Palestino, e esta deve ser a meta estratégica urgente da solidariedade internacional.
Autodeterminação dos povos, supremacia étnica e a esquerda sionista
O ponto anterior alude naturalmente ao princípio da autodeterminação dos povos, que também produz fraturas quando aplicado ao interior de um dado país, na medida em que seu traçado poligonal encerra grupos culturalmente diversos em alguma medida e inseridos desigualmente em relações de poder. Afinal, se um país expressa a essência cultural de um de seus grupos, é inevitável que conceda cidadania subalterna aos demais. Vista ao revés, infere-se desta ideia que todo grupo étnico ou cultural não-hegemônico é ontologicamente uma ameaça à autodeterminação do grupo hegemônico, que portanto só se pode manifestar e garantir sob um regime de supremacia étnica.
É assustador encontrar, mesmo em perspectivas identificadas com o pacifismo à esquerda do trabalhismo sionista, a premissa de que a segurança dos judeus em Israel requer a contenção dos não-judeus da região em um lugar social, quando muito, de cidadãos de segunda classe. Insere-se assim a necroaritmética demográfica como elemento divisivo na classe trabalhadora, e essa é a contradição central que o sionismo de esquerda busca justificar com impressionante contorcionismo retórico, apoiado essencialmente em dois pilares. Primeiro, de que a autodeterminação do povo judeu se traduz como direito à hegemonia social em um país, já que são minoria em todos os outros países. Nesse sentido, eu me pergunto que grupo social teria direito à hegemonia social no Brasil, por exemplo? No marco mínimo de qualquer noção substantiva de autodeterminação do povo brasileiro, a única hegemonia social que deve interessar à esquerda é a da classe que tudo produz em aliança com os povos tradicionais, e não vejo por que Israel deveria ser diferente. Segundo, de que tal hegemonia seria um mal menor necessário e potencialmente gentil, vejam lá que os palestinos israelenses vivem melhor que os demais palestinos ou outros povos ao redor, apoiando-se em um dos vícios mais detestáveis na esquerda, que é a inabalável convicção da própria benevolência. O fato é que os palestinos jamais se satisfarão com um horizonte de sub-cidadania, ainda que os tiranos se julguem amáveis, e muito menos com a expropriação brutal e incessante, justamente porque ou a autodeterminação é direito de todos os povos, ou então não é de nenhum.
Assim sendo, ou a esquerda sionista defende ostensivamente a criação imediata do Estado palestino, sem pré-condições e com a retirada total dos colonos da Ocupação, uma solução balanceada para o retorno dos refugiados e um compromisso com a igualdade social radical no longo prazo – ou seja, abre-se a redefinir sua autodeterminação como visão de futuro – ou esquerda não é. Mais ainda, deve denunciar as mentiras oficiais, os abusos de direitos humanos e a retórica genocida da extrema-direita israelense, nosso inimigo comum. Por outro lado, a esquerda internacionalista, se tem como prioridade o sofrimento dos palestinos, tem portanto a obrigação de acumular forças para a vitória histórica, e não o luxo de escolher aliados. É mais fácil aliar-se com quem defende um Estado Palestino em fronteiras de 1967 do que com a ‘direita democrática’ brasileira, por exemplo, e vejam onde estamos; se a esquerda em Israel tem força política para virar o jogo ou não, isso depende também do nosso apoio, retirando-os de um lugar defensivo e reforçando-lhes a moral para destituir seu governo extremista. Qualquer indivíduo ou grupo do campo sionista que adote sinceramente a pauta acima é, por definição, nosso aliado tático, ainda que tenhamos divergência sobre seu componente supremacista imediato. A convergência é possível a partir de nosso horizonte comum, em que a superação de todas as formas de discriminação é objetivo estratégico no processo de expansão da cidadania em cada país. Isto posto, recordo que países são times inventados para um jogo estúpido, no qual todos perdemos e a autodeterminação de um povo ou outro é no máximo uma premiação paliativa.
Direito de existir e a responsabilidade do Mundo
Um Direito de Existir abstrato é em si mesmo uma confusão de categorias; um lago, a palavra ‘berinjela’ e o Brasil existem devido a uma série de eventos passados que culminaram em sua formação, não como expressão de um Direito que lhes seja anterior. Os Estados reconhecem seus direitos recíprocos a partir de sua existência como polos de força historicamente organizados nos territórios que já governam. Nesse marco, a criação de um Estado como expressão de um Direito é de fato uma singularidade de Israel e do futuro Estado da Palestina, cuja criação mútua emana da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), uma peça do Direito Internacional também conhecida como Plano de Partição para a Palestina.
Neste lugar situa-se a demanda incessante, entre os apoiadores de Israel, de que seu direito a existir, com ou sem o predicado explícito de Estado judaico, seja reconhecido como pré-condição para qualquer crítica às suas políticas. A preocupação é que singularizar as consequências da autodeterminação sionista sobre os palestinos, enquanto diversos outros estados nacionais também se baseiam na opressão presente ou passada de minorias, constituiria uma predileção fundamentalmente discriminatória. Afinal, por que a esquerda internacionalista demonstra tanta solidariedade com os palestinos e não, na mesma medida, com os uigures na China, os negros periféricos nos Estados Unidos da América, ou os bougainvilenses em Papua Nova Guiné?
Uma resposta fácil para esta insinuação é que todas essas opressões se somam, jamais se subtraem necroartimeticamente, e, portanto, uma delas não se pode justificar a partir das demais. Outra, mais controversa, é que a esquerda também se solidariza com as lutas de todos os povos oprimidos, ainda que deixe de explicar a ênfase singular na solidariedade aos palestinos. A esquerda dedica-se então a explicar a centralidade da luta palestina a partir de algum princípio universalizável, como ponta-de-lança da luta anti-imperialista global, desafio à projeção geopolítica hegemônica dos Estados Unidos, ou quintessência do ideal descolonial… você escolhe. Tais abordagens, no entanto, pouco contribuem para dirimir entre os não-convertidos a suspeita de fundo, apoiada em precedentes reais, de um latente antissemitismo estrutural apoiado em novas semióticas.
Parece-me que a réplica mais contundente a qualquer enunciado, ainda que emitido de má fé, deve partir do que ele contém de verdadeiro; nesse caso, é verdade que o Estado de Israel tem o direito de existir. Esse direito é uma singularidade histórica que lhe foi concedida pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial e pela AGNU, imposta à força aos palestinos, e por cujas consequências brutais o Mundo é desde então corresponsável. Direito esse que é por corolário também o Direito de Existir do Estado Palestino, pois formulado no mesmo documento do ordenamento internacional. Direito esse que os palestinos não perderam por discordarem de sua implementação unilateral, lastreada na violência colonial britânica, e que nenhum outro povo tampouco aceitaria; por via das dúvidas, Israel aceitaria hoje as fronteiras de 1948? Assim sendo, o Mundo deve aos palestinos a criação de seu Estado, em caráter urgente e singular, precisamente porque Israel tem o direito de existir.
Estas notas curtas não esgotam a questão atual de solidariedade com o povo palestino, passando ao largo de muitos pontos importantes, mas espero que contribuam para abrir ângulos até então pouco contemplados no debate e na ação política. Repensar nossos valores de fundo, prioridades e alianças, e amadurecer com as colisões, é uma tarefa histórica da esquerda internacionalista na luta por Paz, Justiça e Palestina Livre.
*Henrique N. Sá Earp é professor no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA