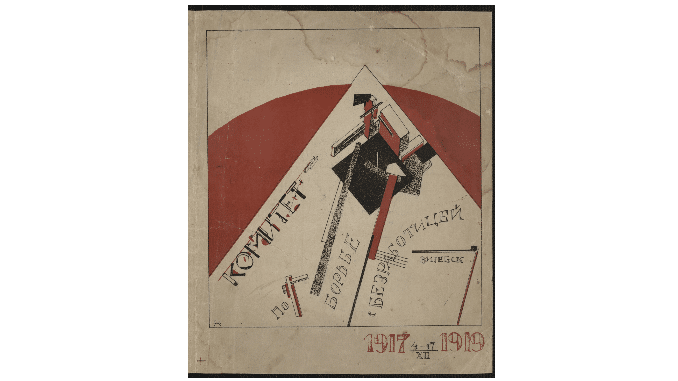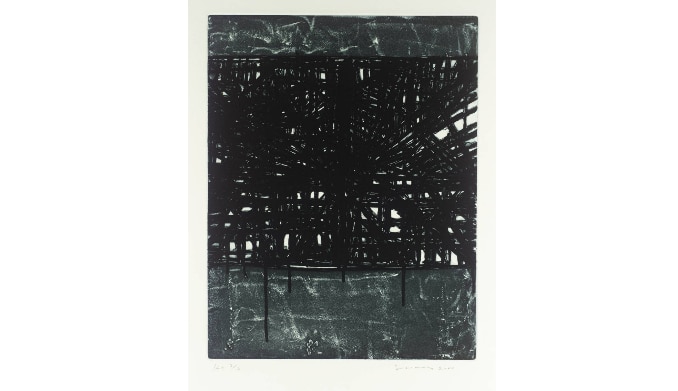Por Luiz Costa Lima*
O repúdio insuficiente à conivência dos poderes constituídos com transgressões das normas civilizatórias deve-se em grande medida à maneira como se organiza a comunicação social.
Ao público da mídia escrita, oral e visual (imprensa, rádio, TV) o termo “tsunami” incorporou-se ao vocabulário comum. Entendido como catástrofe de forças naturais – terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos na crosta terrestre –, provocadora de ondas gigantescas, que destroem ruas, bairros, vilas, muito pouco pode ser feito contra ela. Pior ainda: menos ainda pode ser feito para que também não repercuta na sociedade. Algo além de um seguro sistema de alerta poderá de fato ser feito? Com um mínimo de otimismo, no melhor dos casos, é possível reunir fatores que, conhecidos enquanto dispersos, não aparecem aglutinados.
Na verdade, nosso tsunami social já principia por essa dispersão. De tal maneira o “tsunami social” tem-se enraizado entre nós que é urgente compreender suas motivações. Irresponsabilidade das autoridades perante desastres como o de Brumadinho, que, ademais, em repetição da mesma companhia responsável, mesma irresponsabilidade de um clube de futebol que preparava garotos para se converterem em astros do futebol, que lhe dariam contratos fabulosos, mortos na pré-adolescência pelo descaso com que eram tratados, não são acidentes isolados ou incomuns: o nosso país tem-se definido pela falta de cumprimento das normas que supostamente fariam partes de suas codificações, exacerbada pela conivência dos poderes constituídos.
Levar a cabo o exame rigoroso, com independência dos divulgados pela mídia televisiva, que duram apenas enquanto a tragédia noticiada paira no momento, exige uma atenção mais cuidadosa. Comecemos por verificar o espaço onde o fenômeno começa a ser gerado.
O primeiro fator diz respeito à maneira como a comunicação social passou a ser feita. Até à década seguinte ao fim da Segunda Grande Guerra, o meio de comunicação mais frequente era escrito, o jornal; na sua linha, o livro tinha um papel fundamental. A partir de então e com intensidade crescente, tem preponderado a comunicação visual, mediante o avanço da tecnologia televisiva. Na aparência, a facilidade de seu contato só traria vantagens. O maior gasto com a compra do aparelho televisivo é rapidamente superado pela velocidade da transmissão do que sucede pelo mundo.
Estar em sintonia com o mundo devia provocar uma sensação de euforia. Não é frequente perguntar-se qual o preço pago pela vantagem. Para não sermos precipitados, tomemos o caso concreto da telenovela. É evidente que ela já evolui de outro gênero mediático: a novela radiofônica. Seus traços já se mostravam no realce da linguagem oral. Em relação à ficção escrita em prosa, a novela radiofônica se caracterizava pela simplicidade sintática da fala dos personagens, o tom direto de suas intervenções, sobretudo pela dominância sentimental do enredo. Tais traços, por sua vez, são enfatizados pelos programas de auditório passados para a TV. Neles, a simplicidade da formulação já não tem como correlato o tom sentimental, mas o debochado, o hilariante grosseiro. Tudo vale ser feito para a conquista das massas. Não basta que a linguagem seja a do dia-a-dia senão que seja tão esculachada como no cotidiano das grandes massas, sobretudo de proveniência urbana.
Os dois casos considerados servem de paradigma para a comunicação televisiva mais frequente. É óbvio que seus noticiários não podem ser sentimentais ou transmitidos em um tom esculachado, mas sim que devam encontrar equivalentes verbais. A maneira mais eficaz consiste em encontrar essa correspondência em um formato que se supõe obediente aos fatos. O noticiário se torna então o veículo de socialização maciça dos fatos, tomados como a estrita verdade. Como tal, ele seria imparcial, neutro e contrário ao especulativo. Ora, não é preciso muito raciocínio para compreender-se que a suposta transparência factual é superficial e falaciosa, pois contra ela, de imediato, se levanta o interesse necessariamente particular de seus patrocinadores.
Em suma, o interesse da propriedade privada se impõe à composição da linguagem simplificada e subordinada à ordem do factual. Isso ainda não basta para o esboço do primeiro fator que aqui se destaca porque as consequências da propriedade privada se exacerbam com o regime do oligopólio, sem restrições em um país como o nosso. Acentue-se pois: se um veículo de massa tem obrigatoriamente como sua uma linguagem bastante acessível, capaz de ser absorvida pela mais marginal das populações, se, ademais, ele se integra em um sistema oligopólico, a facilitação de seus recursos estará a serviço do interesse privado que o preside. (Um exame mais demorado nos assinalaria que os pequenos canais mostram que a TV não precisa se confundir com este paradigma. Mesmo por serem igualmente privados, eles precisam se contrapor à exploração deslavada da mais valia e sua oportunidade está na exploração de temas e materiais desprezados pelo canal majoritário).
Vejamos agora a conexão com um segundo fator. Sua temporalidade é muito mais larga do que se assinalou a propósito da comunicação mediática. Refiro-me à relação, no Brasil, da atividade intelectual com seu público. Ter tido sua formação dependente do regime escravocrata significa que, do ponto de vista da população em geral, o trabalho era visto e entendido como sinônimo de servidão. O homem livre se confundia com o senhor de terras. Ora, a partir do segundo reinado, a atividade intelectual se impunha como exercício da liberdade. A que setor ela se dirigiria senão a um público bem reduzido, pouco afeito às consequências do trabalho livre?
Pela restrição numérica e qualitativa do público, nossa atividade intelectual tinha um alvo concreto, imediato e facilmente apreensível: a formação de uma ideia de nacionalidade. Como Machado de Assis bem percebeu (cf. seu ensaio sobre “O Instinto de nacionalidade”), já estreita por si, ela ia pouco além do branco alfabetizado. Daí a constatação que se impõe: a atividade intelectual entre nós nunca alcançou um reconhecimento público efetivo. Os nomes que se consagravam rapidamente passavam (e passam) à condição de mitos, ou seja, a fama substitui sua penetração, seu reconhecimento isenta o receptor de conhecê-los melhor. A marginalidade da atividade intelectual tende a aumentar em períodos de crise econômica, como a que temos vivido. Em vez de examiná-la, a tomemos como ponto de passagem, subentendendo-se que, sem ela, os dois fatores não interagiriam do modo que assinalamos.
Veja-se como esse segundo fator funciona no período mais recente de domínio do mediático. Destaco umas poucas comprovações. Em meados da década de 1960, a tiragem média de um livro era de 3.000 exemplares. Ela agora diminui a 1.000 ou menos. Mais recentemente, tem-se noticiado o fechamento de editoras de algum porte, como a Cossac Naify, enquanto outras poucas grandes quase reduzem seus títulos a romances e candidatos à compra segura. De livrarias, nem falar: fecham e escasseiam.
Não será preciso argúcia para relacionar-se o decréscimo da circulação do livro com o avanço da transmissão televisiva. Ele é acentuado com o desaparecimento dos suplementos de cultura dos jornais – assim o público sequer é informado do que se publica e a circulação de livros se torna ainda menor.
A combinação dos fatores levantados serve para a formulação rápida do que chamamos de tsunami social. As consequências parecem evidentes. Apenas ainda acrescentemos: a realidade eleitoral recentemente vivida foi além dos propósitos da agenda mediática. Os agentes mediáticos não previram que a retórica que difundiam era passível de assumir uma direção imprevista. Através da repetição de seus chavões “dar vez ao novo, renovar”, “conectar, reconectar”, procuravam trabalhar a vitória da direita acadêmica. A realidade aplicou-lhe a chave de perna que a TV exalta nos combates de luta livre e, em combinação com a pregação dos pastores evangélicos e as decisões de certos juízes e câmaras judiciais, provocou a vitória de uma direita propugnadora de uma retaguarda plena e raivosa.
*Luiz Costa Lima é Professor Emérito da PUC-Rio. Autor, entre outros livros, de O controle do imaginário & a afirmação do romance (Companhia das Letra).
Artigo publicado originalmente na revista Eutomia.