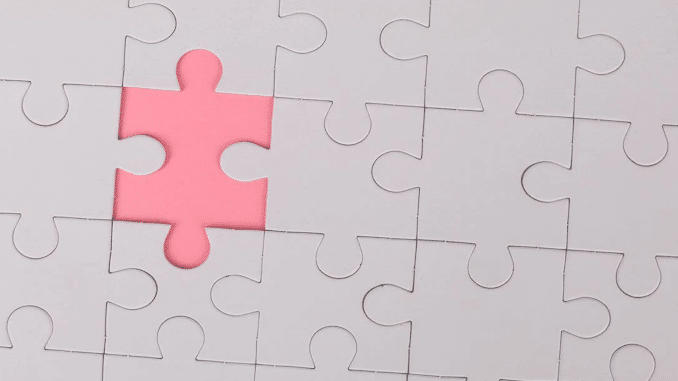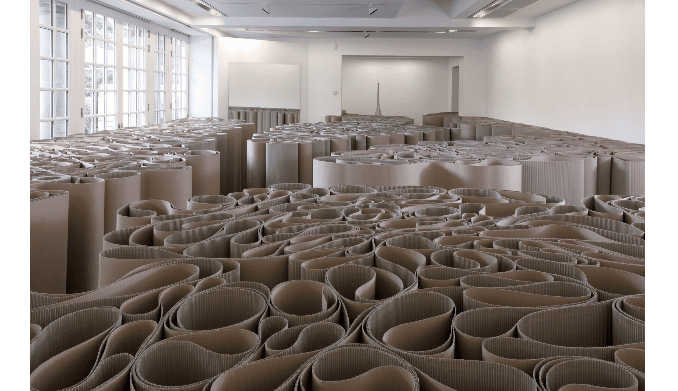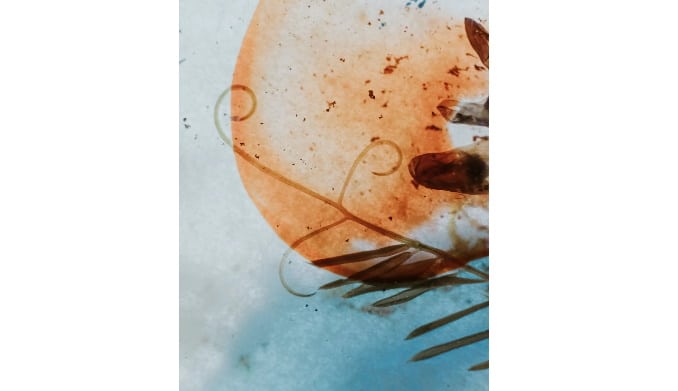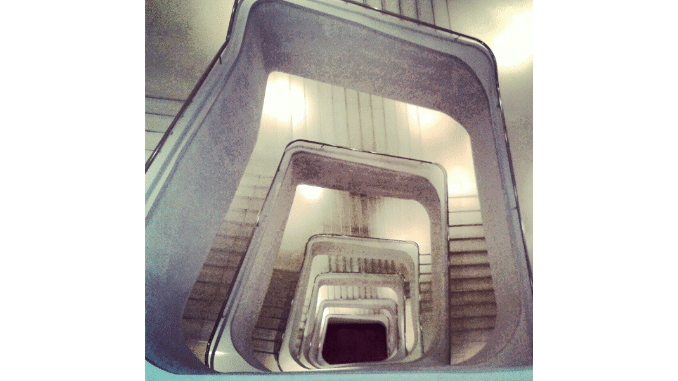Por ARI MARCELO SOLON, ALEXANDRE DE LIMA CASTRO TRANJAN & EBERVAL GADELHA FIGUEIREDO JR.*
Barbie é um filme ruim. Os únicos bons filmes são os soviéticos. Mas na Barbie há mais teoria jurídica do que numa aula de faculdade
Recentemente estreou o filme que marcou o movimento da indústria cinematográfica deste ano. Como no capitalismo neoliberal, a essência das coisas é o esvanecimento rápido, cremos que em breve a cor rosa e as discussões sobre o filme se tornarão absolutamente insuportáveis. Antes que isso aconteça, deixamos nossa reflexão, dividida em três ensaios, sobre este tempo histórico (julho/agosto de 2023).
I’m a Barbie girl, in a Barbie world
Barbie é um filme ruim. Os únicos bons filmes são os soviéticos. Mas na Barbie há mais teoria jurídica do que numa aula de faculdade. A obra traz a oposição entre o matriarcado e o patriarcado, conforme a Escola histórica. Há nela a oposição entre o arquétipo da mãe (animus) e o do pai (persona) que Jung tirou de Savigny.
Surpreendentemente, nele se discute o fim último da história segundo Hegel. Ele é soviético, americano ou japonês? Infelizmente, e talvez o filme esteja certo sobre isso, seria o modo de vida americano, em vez da sovietização. No capítulo IV da Fenomenologia do espírito, o fim da história consiste na mudança da consciência dos animais para os seres humanos. Na Barbieland, eles se tornaram humanos, mas não cidadãos. São pessoas estereotipadas. Isso não é Hegel, é uma má interpretação. É verdade que Hegel dizia que judeus eram incapazes de fazer tragédia. Mas eles são capazes de fazer comédia?
Agora, um spoiler: a mãe da Barbie, Ruth Handler, aparece no final do filme. Rindo, ela diz algo como “eu sou sua mãe, aquela que sonega impostos. Agora vá realizar seu sonho”. Na última cena do filme, Barbie vai para um escritório em Los Angeles. Não sabemos o porquê, mas ela diz “Eu sou Barbara Handler”. Mostram a placa do consultório, uma clínica de ginecologia. Como eu disse, um filme ruim e uma comédia ruim.
(Ari Marcelo Solon)
Life is plastic, it’s fantastic!
Escrevo de um hotel na Faria Lima. Carros assustadoramente grandes e excessivamente bem motorizados passam fazendo seu estrondo. Leio num blog que o barulho do motor é especialmente apreciado entre entusiastas, que amam carros potentes, mas preferem um mais barulhento a um mais potente, talvez porque mais valha a impressão de potência do que a potência em si. Aqui nas redondezas, parece que tudo é mais acelerado.
A arquitetura me oferece conforto suficiente para descansar, mas de alguma forma me faz sentir uma urgência para o trabalho. Tudo é veloz, e não falo só dos carros, nem dos aditivos que alguns dos encoletados apreciam, pelo que ouvi por aí. Deviam estar falando de aditivos para os carros, claro. Aqui giram as engrenagens do motor da acumulação pós-fordista do trópico de capricórnio.
No saguão, um desconforto ocular me acomete. Tudo é cor-de-rosa. Dos números dos quartos aos letreiros em neon com frases motivacionais. Há um elevador felpudo, todo rosa também. Campanha para o filme da Barbie misturada com identidade visual do hotel. Levo um tempo pensando se o estabelecimento paga à distribuidora pelos direitos de imagem ou se a companhia paga o hotel pela campanha de marketing. Deus do céu, quem pagaria para fazer propaganda de um produto? Olho para o espelho, única região não felpuda do elevador, e vejo o logo da Adidas no meu moletom.
De um jeito ou de outro, a campanha global de divulgação funcionou. Meus vinte reais se somaram ao que, à altura da publicação deste texto, já deve ter ultrapassado um bilhão de dólares. O mundo viu a boneca encarnar em Margot Robbie, e se deslumbrou com a brilhante direção de Greta Gerwig. Há um quê de autodepreciação no roteiro da obra, no que diz respeito à máquina produtiva que a concebeu. Claro, nada perto de falar contra o capitalismo.
Mas dizer que liberdade de expressão não deve se estender a grupos econômicos, sob pena de transformar a democracia (burguesa) em plutocracia (já o é), isso eles podem. Evidentemente, a crítica mais radical trazida pelo filme se destina ao patriarcado. Como pode uma máquina social que concebeu a divisão sexual do trabalho como conhecemos hoje, ao mesmo tempo produzir arte feminista, que debocha de seus CEOs, CFOs, CTOs, COOs ou sabe lá deus que outras siglas em inglês vão inventar para seus cargos?
Penso que o filme mais comercial do ano só pode ser crítico de algumas das facetas do capitalismo na medida em que a ideologia limita a si mesma como mecanismo dialético de estabelecimento máximo de seu poder. Se a libido paradoxalmente maximiza o gozo ao limitá-lo – como diria Tom Cruise em Vanilla Sky, “I’m a pleasure delayer” –, parece que é assim o fenômeno da ideologia. Ao abarcar críticas pontuais dentro do sistema, o que se opera é a forclusão da possibilidade de críticas radicais ao sistema. “Não odeie o capitalismo, nós também sabemos que há umas coisas meio ruins e que o castelo cor-de-rosa não existe. Mas nossa realidade é melhor que a sua fantasia comunista”.
Paro de devanear, saio do quarto e pego o elevador felpudo para tomar um café preto na padaria. No caminho, dezenas de homens vestindo camisas em azul claro caminham em bloco. Além dos trajes, seus cabelos, trejeitos e, mais importante, seus assuntos são padronizados. No meio dessa massa pasteurizada, tenho certeza de que cada um se acha especial, único, dotado de um pensamento independente. Ideológicos somos nós, claro.
Ao primeiro gole de café, amargo como a verdade, o descontentamento se esvai. Começo a gargalhar deles, de mim, do mundo. What a time to be alive.
(Alexandre de Lima Castro Tranjan)
You can brush my hair and take me everywhere
Barbie (2023) é um filme com fortes subtextos xamânicos. A princípio, essa afirmação pode parecer bastante estranha, mas uma análise cuidadosa do filme revela que a ontologia pressuposta por seu enredo pode muito bem ser descrita como “xamânico-platônica”. Há dois mundos metafisicamente distintos, o Mundo Real, no qual vivem os humanos, e a Barbielândia, habitada por representações fantasiosas de bonecas, ideias perfeitas e imortais (o princípio estético da “artificialidade autêntica” invocado pela própria diretora Greta Gerwig fortalece, tematicamente, a natureza lúdica e etérea da Barbielândia).
Esses dois mundos influenciam-se mutuamente, e a barreira entre eles não é intransponível. Alguns indivíduos são mais suscetíveis aos efeitos de eventos do outro mundo, e por isso são capazes de atuar como intermediários, a exemplo do que ocorre com a personagem Barbie Estranha. Ao ter seu corpo e alma desfigurados pelas brincadeiras impetuosas de crianças no Mundo Real, Barbie Estranha torna-se particularmente suscetível às forças de fora da Barbielândia, criando assim uma afinidade especial com o mundo humano.
Ela passa a ser uma estranha em seu próprio mundo, vivendo às margens dele. As demais barbies não a consideram completamente uma das suas, mas ao mesmo tempo, é a ela que recorrem sempre que enfrentam problemas relativos ao Mundo Real.Em outras palavras, Barbie Estranha é uma xamã, emissária e intérprete entre dois mundos radicalmente diferentes. Pode-se dizer que ela é acometida daquilo que Platão chama de theia mania (θεία μανία), “loucura divina”. Ela se assemelha, de certa forma, aos heyókȟa das culturas indígenas norte-americanas das Grandes Planícies, “palhaços” que, após terem vislumbrado os Wakíŋyaŋ (“Seres Trovejantes”), adquirem uma sabedoria ensandecida que os permite violar convenções sociais e suscitar reflexões profundas (WIN, 2011).
Similarmente, apesar de relegada às margens, ou talvez justo por causa disso, Barbie Estranha goza de prerrogativas exclusivas no mundo plástico e fantástico da Barbielândia, onde todas as demais devem ser sempre perfeitas e sublimes. Assim, a primeira aparição da personagem é um prelúdio da linha de fuga em relação a esse status quo no fim do filme, quando a personagem de America Ferrera sugere aos executivos da Mattel a criação de uma barbie que não se propõe a representar expectativas de performance irreal.
Em Oppenheimer (2023), o outro grande blockbuster de inverno (no hemisfério sul) de 2023, notoriamente estreando no mesmo dia em que Barbie, há mais de uma menção ao Bhagavad Gita, um importante texto sagrado do hinduísmo, religião pela qual J. Robert Oppenheimer nutria grande fascinação. Já em Barbie, por óbvio, não há qualquer menção ao Bhagavad Gita, mas bem que poderia haver alguma a outra obra, ainda mais antiga, do cânone literário indiano: o Rigveda. Datada de uma época em que o epicentro da civilização indiana ainda eram as margens do rio Indo, e não as do Ganges, a literatura rigvédica remonta às migrações indoarianas ao Subcontinente.
Evidências arqueológicas e textuais indicam que o cavalo ocupava um papel central na vida dos indoarianos do período védico, assim como em outras sociedades nindoeuropeias arcaicas, de caráter equestre (REDDY, 2006: 93). Além de equestres, há quem diga que tais sociedades eram também marcadamente patriarcais, tendo suplantado os matriarcados neolíticos pré-indoeuropeus em sua expansão movida por um ethos marcial implacável (ANTHONY, 1995). Talvez não seja por puro acaso que o deuteragonista masculino de Barbie, interpretado por Ryan Gosling, comicamente entenda o patriarcado como um governo de homens e cavalos.
De fato, o arco do personagem Ken pode ser encaixado na categoria de narrativas etiológicas sobre a ascensão da sociedade patriarcal às custas de um matriarcado primitivo. Uma das instâncias mais explícitas desse tropo encontra-se na cultura dos selk’nam, habitantes das ilhas da Terra do Fogo. Na cerimônia iniciática do Hain, os meninos selk’nam tornavam-se homens, conhecedores da verdadeira origem mitológica da cerimônia: em um passado mítico, as mulheres governavam os homens sem misericórdia, obrigando-os a fazer todos os trabalhos, desde a caça até as tarefas domésticas.
Enquanto seus maridos ocupavam-se de tudo, as mulheres reuniam-se em uma cabana cerimonial onde a presença masculina era estritamente proibida. Lá, a Lua, mais formidável entre as mulheres, determinou que cada uma delas deveria personificar um espírito, fazendo uso de pinturas corporais e máscaras, de modo a maravilhar e aterrorizar os homens, aprofundando-lhes a subjugação. Um dia, no entanto, o Sol, marido da Lua, ouviu os comentários jocosos e incriminadores das mulheres, expondo a conspiração feminina. Revoltados, os homens invadiram a cabana cerimonial do Hain e exterminaram todas as mulheres iniciadas, conhecedoras do segredo.
Desde então, o Sol persegue a Lua pelos céus, e os homens apropriaram-se da cerimônia do Hain, instaurando um regime de dominação patriarcal análogo àquele das mulheres dos tempos míticos (CHAPMAN, 1972: 198-200). O mito etiológico selk’nam sobre as origens do Hain e da hegemonia masculina exibe paralelismo inegável para com o enredo de Barbie, no qual Ken, após descobrir o patriarcado do Mundo Real, decide instaurar o mesmo regime na Barbielândia, invertendo os papéis sociais de homens e mulheres, ou, para ser mais acurado, kens e barbies (que, por serem imagens numênicas de brinquedos infantis, não podem ser considerados homens ou mulheres stricto sensu).
Muito se engana quem pensa que esse tipo de narrativa se encontra restrito à literatura arqueológica, a mitologias indígenas obscuras e a filmes sobre bonecas. O tema também se faz presente entre membros de determinadas facções político-ideológicas, em especial a direita masculinista. O melhor exemplo disso é a obra Bronze Age Mindset (2018), cujo autor, sob o pseudônimo de Bronze Age Pervert, ou BAP, tenta desconstruir os ideais igualitários da sociedade pós-iluminista, com sua releitura de Nietzsche à luz de valores homéricos.
Para Bronze Age Pervert, os ideais igualitários de nossos dias consistiriam, na verdade, em um atavismo, resquício de sociedades matriarcais pré-indoeuropeias, cuja principal instituição ele chama de Longhouse (casa comunal ou, mais literalmente, casa longa). Nas coletividades pautadas pela Longhouse, o potencial viril heroico estaria para sempre destinado à latência, pois os fortes e sãos seriam governados pelos fracos e escleróticos, e os homens, pelas matriarcas (PERVERT, 2018: 48).
A noção de que a vida comunal igualitária é avessa a ideais de virilidade heroica evidentemente não se sustenta. O próprio conceito de Longhouse apropriado pelo autor tem sua origem na cultura dos iroqueses, cujo nome para si mesmos, Haudenosaunee, pode ser traduzido como “Povo da Casa Longa”. A casa comunal pode ser considerada a principal instituição dos povos iroqueses, e de fato, as mulheres iroquesas possuíam poder político bastante notável, podendo inclusive nomear e depor chefes (RANDLE, 1951: 171), mas o heroísmo guerreiro viril também fazia parte da vida dos iroqueses.
As próprias mulheres valorizavam a coragem em batalha como uma virtude masculina, levando isso em conta na escolha de seus parceiros (RICHTER, 1983: 530). Fica claro que BAP tenta estabelecer uma dicotomia conceitual entre sociedades “iroquesas”, matriarcais e coletivistas, e “indoeuropeias”, patriarcais e individualistas, afirmando que é apenas no segundo tipo de sociedade que as “virtudes masculinas” podem desenvolver-se com plenitude. Trata-se, no entanto, de uma interpretação antropologicamente infundada.
(Eberval Gadelha Figueiredo Jr.)
*Ari Marcelo Solon é professor da Faculdade de Direito da USP. Autor, entre outros, livros, de Caminhos da filosofia e da ciência do direito: conexão alemã no devir da justiça (Prismas).
*Alexandre de Lima Castro Tranjan é doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP.
*Eberval Gadelha Figueiredo Jr. é bacharel em Direito pela USP.
Referências
WIN, Wambli Sina. Heyoka: a man taller than his shadow. Native Times, 2011. Disponível em: https://nativetimes.com/index.php/life/commentary/5149-heyoka-a-man-taller-than-his-shadow.
REDDY, Krishna. Indian History. Tata McGraw-Hill Education, 2006.
Anthony, David. Nazi and eco-feminist prehistories: ideology and empiricism in Indo-European archaeology. Nationalism, politics, and the practice of archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
CHAPMAN, Anne. Fin de Um Mundo: los Selknam de Tierra del Fuego. Ushuaia: Zaguer & Urruty Publications, 1972.
PERVERT, Bronze Age. Bronze Age Mindset. Online: Amazon Publishing, 2018.
RANDLE, Martha C. Iroquois Women, Then and Now. In Symposium on Local Diversity
in Iroquois Culture. William N. Fenton, editor. Bureau of American Ethnology Bulletin #149. Washington, 167-80. 1951.
RICHTER, Daniel . “War and Culture: The Iroquois Experience”. The William and Mary Quarterly. 40 (4): 528–559. 1983. doi:10.2307/1921807.JSTOR1921807.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA