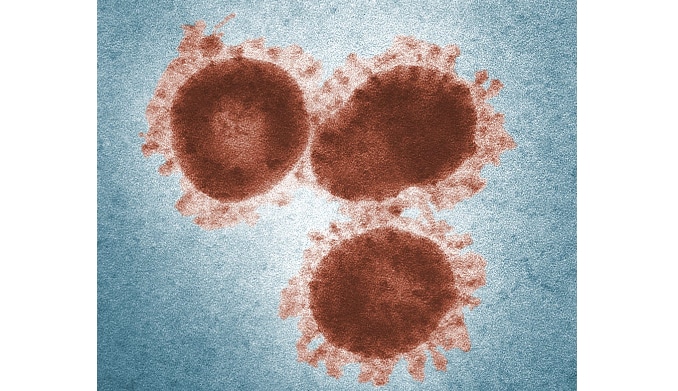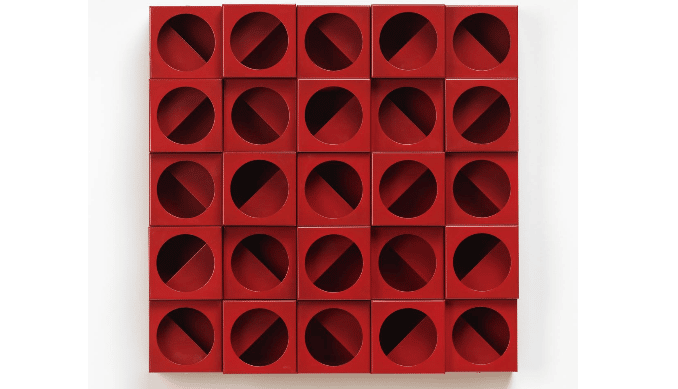Por JODI DEAN*
Reconhecer o direito de resistir a um opressor, o direito à autodeterminação nacional, significa defender aqueles que estão dispostos e são capazes de lutar contra seus opressores
As imagens do dia 7 de outubro de parapentes fugindo das defesas aéreas israelenses foram emocionantes para muitos de nós. Foram momentos de liberdade, que derrotaram as expectativas sionistas de submissão à ocupação e ao cerco. Neles, testemunhamos atos aparentemente impossíveis de bravura e desafio diante da certeza da devastação que se seguiria (não é segredo que Israel pratica uma guerra assimétrica e responde com força desproporcional). Quem não se sentiria energizado ao ver pessoas oprimidas derrubando as cercas que as aprisionavam, subindo aos céus em fuga e voando livremente pelo ar? O rompimento do senso coletivo do possível fez com que parecesse que qualquer um poderia ser livre, como se o imperialismo, a ocupação e a opressão pudessem e fossem ser derrubados. Como a militante palestina Leila Khaled escreveu sobre um sequestro bem-sucedido em seu livro de memórias, My People Shall Live: “parecia que quanto mais espetacular fosse a ação, melhor seria o moral do nosso povo”. Essas ações quebram as expectativas e criam um novo senso de possibilidade, libertando as pessoas da desesperança e do desespero.
Quando testemunhamos tais ações, muitos de nós também sentimos essa sensação de abertura. Nossa reação é indicativa do efeito de sujeito que as ações desencadeiam: algo no mundo mudou porque um sujeito inscreveu uma lacuna no dado. Para usar uma ideia de Alain Badiou, vemos que a ação foi causada por um sujeito, produzindo assim esse sujeito como um efeito retroativo da ação que o causou. O imperialismo tenta acabar com esses sentimentos antes que eles se espalhem demais. Ele os condena e os declara fora dos limites.
As imagens dos palestinos que vemos em nossos ambientes imperialistas geralmente são imagens de devastação, luto e morte. A humanidade dos palestinos é condicionada ao seu sofrimento, ao que eles perderam e ao que eles suportam. Os palestinos recebem simpatia, mas não emancipação; a emancipação acabaria com a simpatia. Essa imagem da vítima produz o “bom” palestino como civil, ainda melhor como criança, mulher ou idoso. Aqueles que revidam, especialmente como parte de grupos organizados, são maus: o inimigo monstruoso que deve ser eliminado. Mas todo mundo é um alvo. A culpa pelo ataque aos “bons” palestinos é, portanto, atribuída aos “maus”, o que justifica ainda mais a sua erradicação: cada centímetro de Gaza é um esconderijo para os terroristas. O policiamento dos afetos elimina a possibilidade de um palestino livre.
O policiamento dos afetos faz parte da luta política. Qualquer coisa que acenda a sensação de que os oprimidos se libertarão, que as ocupações e os bloqueios terminarão, deve ser extinta. Os imperialistas e sionistas reduzem o 7 de outubro a uma lista de horrores não apenas para impedir que se veja a história e a realidade do colonialismo, da ocupação e do cerco. Eles fazem isso para impedir que a lacuna da ruptura produza o assunto que a causou.
A Primeira Intifada, em 1987, começou com a “Noite dos Planadores”. Em 25 e 26 de novembro, dois guerrilheiros palestinos da PFLP-GC (Frente Popular para a Libertação da Palestina – Comando Geral) aterrissaram no território ocupado por Israel. Ambos foram mortos. Um deles matou seis soldados israelenses e feriu outros sete antes de morrer. Depois disso, o guerrilheiro se tornou um herói nacional, e os habitantes de Gaza escreveram “6:1” em seus muros para provocar as tropas da IDF. Até mesmo o presidente da OLP, Yasser Arafat, elogiou os combatentes: “O ataque demonstrou que não poderia haver barreiras ou obstáculos para impedir um guerrilheiro que decidiu se tornar um mártir”. Nada poderia detê-los ou bloqueá-los se eles tivessem vontade de voar. A Noite dos Planadores reacendeu as energias afetivas da revolução palestina que se seguiu à derrota árabe, em junho de 1967, e estimulou o crescimento do movimento guerrilheiro após a batalha de Karama, em março de 1968. Após a Noite dos Planadores e durante a Primeira Intifada, ser palestino significava novamente rebelião e resistência, em vez de aquiescência à cidadania de segunda classe e ao status de refugiado.
Em 2018, durante a Grande Marcha do Retorno, os habitantes de Gaza usaram pipas e balões para escapar das defesas aéreas israelenses e provocar incêndios em território israelense. Parece que foram os jovens palestinos que começaram a enviar as pipas incendiárias. Mais tarde, o Hamas se envolveu, criando a unidade al-Zouari, especializada em fabricar e lançar pipas e balões incendiários. As pipas e os balões elevaram o moral em Gaza, ao mesmo tempo em que prejudicaram a economia israelense e irritaram os israelenses que moravam perto da fronteira de Gaza. Em resposta aos comentários de um jornalista italiano sobre a “nova arma icônica” que estava “enlouquecendo Israel”, o líder do Hamas, Yahya Sinwar, explicou: “As pipas não são uma arma. No máximo, elas incendeiam alguns restolhos. Um extintor, e acabou. Elas não são uma arma, são uma mensagem. Porque são apenas barbante, papel e um pano encharcado de óleo, enquanto cada bateria do Iron Dome custa US$100 milhões. Essas pipas dizem: vocês são imensamente mais poderosos, mas vocês nunca vencerão. De verdade. Nunca.”
Há um contexto adicional para ler as pipas em Gaza como mensagens de um povo que se recusa a se submeter. Em 2011, 15 mil crianças palestinas em uma praia de Gaza quebraram o recorde mundial de maior número de pipas empinadas ao mesmo tempo. Muitas das pipas apresentavam bandeiras e símbolos palestinos, bem como desejos de paz e esperança. Rawia, uma menina de 11 anos, que fez sua pipa com as cores da bandeira palestina, disse: “Quando a empino, sinto que estou erguendo meu país e minha bandeira, no céu”. O documentário de 2013 Flying Paper, dirigido por Nitin Sawhney e Roger Hill, conta a história de alguns dos jovens empinadores de pipa. “Quando empinamos pipas, sentimos que somos nós que estamos voando no céu. Sentimos que temos liberdade. Que não há cerco em Gaza. Quando empinamos a pipa, sabemos que a liberdade existe.” No início deste ano, pipas foram empinadas em manifestações de solidariedade que ocorreram em todo o mundo, expressando e ampliando a esperança e a vontade de liberdade palestina.
O último poema de Refaat Alareer, If I Must Die, baseia-se na associação de pipas e esperança. Um vídeo de Brian Cox lendo o poema circulou on-line depois que a IDF matou Alareer em um ataque aéreo que demoliu seu prédio.
Se eu tiver que morrer,
você deve viver
para contar minha história
para vender minhas coisas
para comprar um pedaço de tecido
e algumas cordas,
(faça-o branco com uma longa cauda)
para que uma criança, em algum lugar de Gaza
enquanto olha para o céu nos olhos
esperando seu pai que partiu em um incêndio
e não se despediu de ninguém
nem mesmo para sua carne
nem mesmo para si mesmo
vê a pipa, minha pipa que você fez, voando lá em cima,
e pensa por um momento que um anjo está lá
trazendo de volta o amor.
Se eu tiver que morrer
que ela traga esperança,
que seja uma história.
A pipa é uma mensagem de amor. Ela é feita para voar e, ao voar, cria esperança. As palavras de Alareer se referem à confecção da pipa, sua criação a partir de tecido e cordas, bem como seu voo. Fazer a pipa é mais do que luto; é um engajamento no otimismo prático, um elemento do processo subjetivo que estabelece o sujeito de uma política, o “você” instruído a fazer a pipa e contar sua história.
Em 1998, os palestinos construíram o Aeroporto Internacional Yasser Arafat. Em 2001, durante a Segunda Intifada, os bulldozers israelenses o demoliram. Como explicou Hind Khoudary, o aeroporto estava profundamente interligado ao sonho do Estado palestino. Ela entrevistou trabalhadores que construíram a pista de pouso que foi reduzida a escombros e areia. Como escreve Khoudary, “o aeroporto de Gaza era mais do que um projeto. Era um símbolo de liberdade para os palestinos. Voar com a bandeira palestina no céu era o sonho de todo palestino”.
Os parapentes que voaram para Israel em 7 de outubro continuam a associação revolucionária de libertação e voo. Embora as forças imperialistas e sionistas tentem condensar a ação em uma figura singular do terrorismo do Hamas, insistindo contra todas as evidências de que, com o extermínio do Hamas, a resistência palestina desaparecerá, a vontade de lutar pela liberdade palestina a precede e a excede. O Hamas não foi o sujeito da ação de 7 de outubro; foi um agente que esperava que o sujeito surgisse como um efeito de sua ação, a última instância da revolução palestina.
As palavras usadas por Leila Khaled para defender a justeza da tática de sequestro da PFLP se aplicam igualmente ao 7 de outubro. Khaled escreve: “Como disse um camarada: Agimos heroicamente em um mundo covarde para provar que o inimigo não é invencível. Agimos “violentamente” para soprar a cera dos ouvidos dos surdos liberais ocidentais e para remover os canudos que bloqueiam sua visão. Agimos como revolucionários para inspirar as massas e desencadear o levante revolucionário em uma era de contrarrevolução.”
Como um povo oprimido pode acreditar que a mudança é possível? Como os movimentos que passaram por décadas de derrota podem sentir que são capazes de vencer? Sara Roy documentou o desespero que permeava Gaza e a Cisjordânia antes de 7 de outubro. O faccionalismo e a sensação de que não apenas o Fatah, mas também o Hamas, estavam cooperando demais com Israel havia destruído a confiança em um projeto de unificação nacional. Um amigo disse a Roy: “Nossas reivindicações passadas se tornaram sem sentido. Ninguém fala de Jerusalém ou do direito de retorno. Só queremos segurança alimentar e passagens abertas”. A inundação de Al Aqsa atacou esse desespero. A coalizão de combatentes da resistência liderada pelo Hamas e pela PIJ (Jihad Islâmica Palestina) se recusou a aceitar a derrota e a se submeter à indignidade da morte lenta. Sua ação foi planejada para que o tema revolucionário aparecesse como seu efeito.
I
Nos seis meses desde o início da guerra genocida de Israel contra a Palestina, houve uma onda de solidariedade global com a Palestina, que lembra a onda anterior das décadas de 1970 e 1980. Como Edward Said nos disse, no final dos anos 70 “não havia uma causa política progressista que não se identificasse com o movimento palestino”. A solidariedade com a Palestina uniu a esquerda, unindo as lutas pela libertação em uma frente global anti-imperialista. Como diz o historiador Robin D.G. Kelly, “nós, radicais, considerávamos a OLP como uma vanguarda em uma luta global do Terceiro Mundo pela autodeterminação, percorrendo uma “estrada não capitalista” para o desenvolvimento”. A militância e a dedicação da luta palestina fizeram de seus combatentes revolucionários modelos para a esquerda.
Atualmente, a luta pela libertação palestina é liderada pelo Movimento de Resistência Islâmica – Hamas. O Hamas é apoiado por toda a esquerda palestina organizada. Poder-se-ia esperar que a esquerda no núcleo imperial seguisse a liderança da esquerda palestina no apoio ao Hamas. No entanto, na maioria das vezes, os intelectuais de esquerda fazem eco às condenações que os Estados imperialistas impõem como condição para falar sobre a Palestina. Ao fazer isso, eles tomam partido contra a revolução palestina, dando uma face progressista à repressão do projeto político palestino e traindo as aspirações anti-imperialistas de uma geração anterior.
O ensaio de Judith Butler de 19 de outubro na London Review of Books é um excelente exemplo. Em vez de colocar os setenta e cinco anos da Nakba e a resistência palestina no centro de sua análise, Butler critica os estudantes de Harvard por exonerarem as mortes hediondas do Hamas. Os grupos de Solidariedade com a Palestina de Harvard emitiram uma declaração que considerava o regime israelense “inteiramente responsável por toda a violência que se desenrola”. O ensaio de Butler prenunciava uma atitude que logo tomaria conta do meio acadêmico, como aconteceu em Columbia, Cornell, Penn, Harvard, na Universidade de Rochester e em outros lugares. Ele desviou a atenção da realidade da violência genocida em Gaza para o ambiente afetivo das universidades americanas seguras e privilegiadas. O fato de Butler ter como alvo os estudantes – sua linguagem e sentimentos, como eles se expressavam – serviu de modelo para as audiências do Congresso que levaram à renúncia dos presidentes de Harvard e Penn.
Contra os estudantes de Harvard, Butler condenou “sem qualificação a violência cometida pelo Hamas”. Butler não acha que essa condenação seja o fim da política ou que ela impeça o aprendizado da história da região. Pelo contrário, Butler insiste que a condenação seja acompanhada de uma visão moral. Essa visão inclui ou pode incluir igualdade de direitos e direitos de luto, bem como “novas formas de liberdade política e justiça”. Para Butler, porém, essa visão exclui o Hamas. Butler trata o Hamas como o único responsável pelo 7 de outubro, ignorando o fato de que as forças armadas de vários grupos palestinos participaram da ação, sinalizando assim um apoio à ação que vai muito além do braço militar do partido que foi democraticamente eleito para governar Gaza. Além disso, Butler quer fazer parte da “imaginação e luta” pelo tipo de igualdade que “obrigaria grupos como o Hamas a desaparecer”. Não está claro o que é considerado “como o Hamas” para Butler, nem quais são as características que levariam um grupo a desaparecer. Se, por exemplo, o que importa é o uso violento da força, então a luta de libertação de um povo colonizado, ocupado e oprimido é descartada de antemão. O horizonte político que unia as forças progressistas no final dos anos 1970 é encurtado.
Ao querer “obrigar grupos como o Hamas a desaparecer”, a posição de Butler se sobrepõe à de Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Ao contrário deles, porém, Butler nomeia e rejeita a ocupação. Mas Butler ecoa a posição deles e sua tática de separar o Hamas da Palestina e condicionar a libertação palestina a essa separação. Quando o Hamas é o líder amplamente reconhecido e aceito da luta por uma Palestina livre, esperar por sua dissolução é um fracasso da solidariedade internacional. É um golpe contra e uma cunha em uma frente unida de resistência ao imperialismo. Defender o Hamas é algo tão inconcebível que mal pode ser abordado; é evitado por meio de uma condenação antecipada, como se fosse selar uma porta já fechada e trancada. “Ficar do lado do Hamas” é uma acusação, uma escoriação, e não o reconhecimento da posição de alguém em um conflito fundamental.
Butler diz que o Hamas tem “uma resposta aterrorizante e terrível” para a questão de qual mundo será possível após o fim do domínio colonial dos colonos. Butler não nos diz qual é a resposta do Hamas. Nenhuma menção é feita ao documento político que o grupo emitiu em 2017, que “aceitou a criação de um Estado palestino nas fronteiras de 1967, a Resolução 194 da ONU para o direito de retorno e a noção de restringir a luta armada para operar dentro dos limites do direito internacional”. Esse documento não me parece nem assustador nem apavorante, mesmo que seja difícil de imaginar, dada a proliferação de assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia. Em 13 de dezembro, Butler emitiu um pedido de desculpas aos alunos de Harvard. Ela reconheceu a possibilidade de que o Hamas seja “um movimento de resistência armada” que poderia ser situado em uma história mais longa de luta armada, ou pelo menos que essas são “questões importantes”. Defender o líder do movimento de libertação palestina permaneceu fora de cogitação. Em 11 de março de 2024, Butler disse: “Nem todas as formas de ‘resistência’ são justificadas”.
As pessoas oprimidas lutam contra seus opressores por todos os meios necessários. Elas escolhem – e são forçadas a escolher pelos cenários em que ocorrem suas lutas de libertação – as estratégias e táticas de que precisam para vencer. Quanta dissidência o opressor tolerará? Quanta força o opressor usará para reprimir a rebelião? Qual é o grau de dependência do opressor em relação à obediência dos oprimidos? Quanto desonra moral o opressor está disposto a absorver? Reconhecer o direito de resistir a um opressor, o direito à autodeterminação nacional, significa defender aqueles que estão dispostos e são capazes de lutar contra seus opressores. Essa defesa não precisa ser acrítica – é comum que indivíduos, grupos e Estados se encontrem na posição política de defender aqueles de quem discordam. Mas essa defesa deve se orientar pelos oprimidos em sua luta pela libertação, não pelo opressor ou pela ordem imperialista maior que permite e valida a opressão. Ela precisa enraizar a solidariedade em “pontos comuns de resistência” em vez de “pontos comuns de opressão”, para usar a formulação de Robin Kelley. Essa ideia não é nova, ela tem uma longa história nas lutas anti-imperialistas e de libertação nacional.
O declínio da solidariedade anti-imperialista aparente em posições como a de Butler reflete uma despolitização mais ampla, um conjunto diferente e reduzido de premissas. Hoje em dia, pelo menos até o dia 7 de outubro, as pessoas reclamam que a esquerda não existe ou, se não reclamam, imaginam a política de esquerda em termos de uma infinidade de singularidades, inúmeros indivíduos com todas as suas escolhas e sentimentos específicos. Mesmo que os apelos à interseccionalidade tentem estabelecer conexões entre questões que quatro décadas de fragmentação neoliberal procuraram manter separadas, os fundamentos jurídicos liberais do conceito frequentemente posicionam o indivíduo como a interseção e as questões como questões de identidade. Despolitizadas no nível da organização, as questões são repolitizadas nos indivíduos e como indivíduos. O que pensa um indivíduo? Ela se sente à vontade para expressar isso? Que expressões ameaçam esse conforto e minam seu senso de segurança? A restrição da política ao gerenciamento das ansiedades individuais reenquadra o egocentrismo como moral, seja nos campi universitários ou nas localidades que regulam os protestos públicos. Essa restrição é apenas um momento no deslocamento mais geral e sistêmico da política pelo moralismo manifesto na substituição do trabalho de assistência pela organização política militante, da administração pela luta, e das ONGs e OSCs pelos partidos revolucionários.
O que encontramos não é despolitização, é derrota. A política continua, mas em uma forma estruturada por essa derrota. Incapazes de nos constituirmos como um lado coerente na luta contra o imperialismo, temos dificuldade em tomar um lado, deixando de ver ou perguntar de que lado estamos? Até mesmo o reconhecimento de lados é descartado como pensamento binário ou uma incapacidade infantil de aceitar a complexidade e a ambiguidade.
II
O documento de estratégia da Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), de 1969, nos dá uma janela para o mundo político evocado por Said e Kelley, um mundo que o moralismo de Butler não apenas oculta, mas, em sua manutenção das condições sionistas e imperialistas para falar, se opõe ativamente. Elaborado em 1967, após a derrota árabe na guerra de junho, o texto foi o documento de fundação da PFLP. A questão do imperialismo é fundamental para ele. Após a Segunda Guerra Mundial, afirma o documento, as forças capitalistas coloniais se reuniram em um campo, liderado pelo capital norte-americano, enquanto os países socialistas e as lutas de libertação compunham um campo revolucionário oposto. Por meio de técnicas neocolonialistas para conter as lutas de libertação nacional, os EUA tentaram realizar seus interesses. Além disso, o partido observou que, como provaram as invasões americanas no Vietnã, em Cuba e na República Dominicana, os EUA estavam perfeitamente dispostos a usar a força armada. Depois que os EUA não conseguiram impedir que o movimento árabe se fundisse “com o campo revolucionário mundial”, o imperialismo americano deu seu apoio militar a Israel. Isso significava, para a FPLP, que a luta palestina não poderia evitar o confronto com o enorme poder e a vantagem tecnológica do imperialismo. Por uma questão de estratégia, então, a Palestina não tinha escolha a não ser “entrar em aliança total com todas as forças revolucionárias em nível mundial”. O documento afirma:
Os povos da África, Ásia e América Latina sofrem diariamente com a vida de miséria, pobreza, ignorância e atraso, resultado do colonialismo e do imperialismo em suas vidas. O maior conflito vivido pelo mundo de hoje é o conflito entre o imperialismo mundial explorador, de um lado, e esses povos e o campo socialista, de outro. A aliança do movimento de libertação nacional palestino e árabe com o movimento de libertação no Vietnã, a situação revolucionária em Cuba e na República Popular Democrática da Coreia e os movimentos de libertação nacional na Ásia, África e América Latina é a única maneira de criar o campo capaz de enfrentar e triunfar sobre o campo imperialista.
A solução política para o problema da Palestina, portanto, necessariamente se desdobra em uma luta global contra o imperialismo. O “nós” de “somos todos palestinos” é o nome do lado que luta por todos nós. Nas palavras de Ghassan Kanafani, romancista, poeta e membro fundador da FPLP que foi assassinado por Israel em 1972, citadas na introdução do documento de 2017, “a causa palestina não é uma causa apenas para os palestinos, mas uma causa para todos os revolucionários, onde quer que estejam, como uma causa das massas exploradas e oprimidas em nossa época”.
Em vários campi universitários, o slogan “Do rio ao mar, a Palestina será livre” foi proibido. Houve até mesmo um debate internacional sobre o slogan, outra parte da guerra contra o sentimento de solidariedade com a Palestina e a extinção do processo subjetivo que o 7 de outubro incitou. O que realmente deveria incomodar os imperialistas é outro slogan: “Em nossos milhares, em nossos milhões, somos todos palestinos”. Isso rejeita a fragmentação, reconhecendo o sujeito anti-imperialista como um efeito da causa palestina. Ele substitui as suposições individualizantes do gerencialismo e do humanitarismo neoliberais pelo universalismo divisivo do anti-imperialismo.
Ao defender o Hamas, tomamos o partido da resistência palestina, respondendo a um sujeito revolucionário – o sujeito que luta contra a ocupação e a opressão – e reconhecendo esse sujeito como um efeito de um processo contestado e aberto. De que lado você está? Da libertação ou do sionismo e do imperialismo? Há dois lados e nenhuma alternativa, nenhuma negociação da relação entre opressor e oprimido. A opressão não é administrada por meio de concessões enervantes às normas do discurso permitido; ela é derrubada. A ilusão de um meio e de uma multidão desaparece à medida que a divisão constitutiva do político aparece em toda a sua brutalidade.
Isso pode sugerir a formulação clássica de Carl Schmitt sobre o político em termos da intensificação da relação amigo/inimigo. Mas o que a difere é o reconhecimento da hierarquia. A ocupação colonial e a exploração imperialista produzem inimizade; a inimizade não é o cenário afetivo de iguais em conflito. Não é uma guerra de todos contra todos. É uma guerra de oprimidos contra seus opressores, a rebelião daqueles cujo direito à autodeterminação é negado contra aqueles que o negam. Os dois lados empregam ordens de significado radicalmente diferentes: de dentro de um deles, o outro parece louco e monstruoso, totalmente sem sentido. Não há um terceiro ponto a partir do qual se possa avaliar a situação, nenhuma autoridade soberana neutra ou sistema de legalidade que não seja varrido para um lado ou para o outro. As mortes não podem ser tabuladas e inseridas em um cálculo que garanta quando tudo se equilibrará. A história não determina a questão. As datas a partir das quais começamos a narrar a sequência de eventos não são simplesmente alternativas. A divisão constitutiva do político vai até o fim.
Poderia ser tentador tratar a Palestina como o sintoma de algum fracasso maior – do direito internacional, por exemplo, e do regime de direitos humanos ou do mundo suave do neoliberalismo globalizado. Nesse caso, a Palestina marcaria o ponto em que esses sistemas entram em contradição consigo mesmos, sua exclusão constitutiva. Deve-se resistir a essa tentação. A lei sempre se depara com casos difíceis e desafios de implementação sem desmoronar. O neoliberalismo globalizado proliferou a fragmentação, a separação e a perfuração do espaço político em inúmeras zonas individuais. Como Quinn Slobodian demonstrou, a descentralização tem sido um dos principais mecanismos para garantir os interesses da classe capitalista. A Palestina não nomeia um sintoma; ela nomeia um lado na luta contra o imperialismo. Quando a resistência palestina perfurou dramaticamente seu cenário de ocupação e opressão, o fato desse lado ressurgiu. Ela confronta uma ordem que quer ignorá-la com o fato de uma vontade contínua de persistir, de corrigir a injustiça, de recuperar o que foi tomado e de ser reconhecida como um povo, uma nação, um Estado com direito à autodeterminação. A Palestina é um assunto político.
Uma rica literatura pode ser recrutada para preencher a ideia da subjetividade política palestina. Os pontos principais podem incluir: a centralidade da resistência para a criação de uma identidade nacional na esteira da Nakba; a especificidade da diversidade religiosa palestina (muçulmana, cristã, judaica); e a dispersão dos palestinos em Israel, nos territórios ocupados e na diáspora. Mais convincente ainda é a afirmação provocativa de que todos nós somos palestinos. Essa afirmação não deve ser entendida como aquele tipo de identificação sentimental que diz que todas as formas de sofrimento são variações do mesmo sofrimento e, portanto, todos devemos lidar. Em vez disso, é o slogan político da emancipação universal radical que responde ao assunto como um efeito da causa palestina. Nem todo mundo fala pela Palestina, mas a Palestina fala por todos nós.
Publicado originalmente no Blog da Verso. Tradução autorizada pela autora para o Blog da Boitempo.
*Jodi Dean é professora de teoria política, feminista e de mídia em Nova York. É autora, entre outros, de “Camarada: um ensaio sobre pertencimento político (2021)” [https://amzn.to/4atuJh9]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA