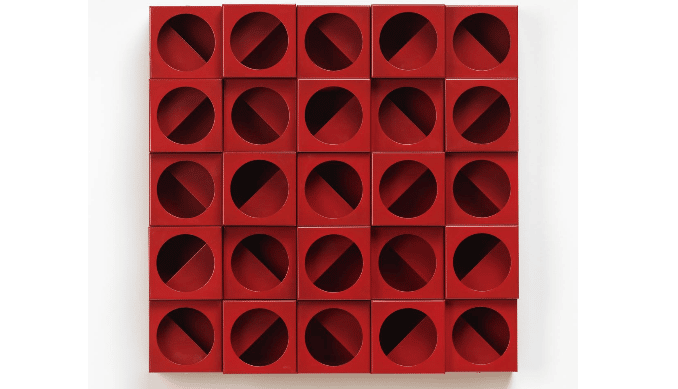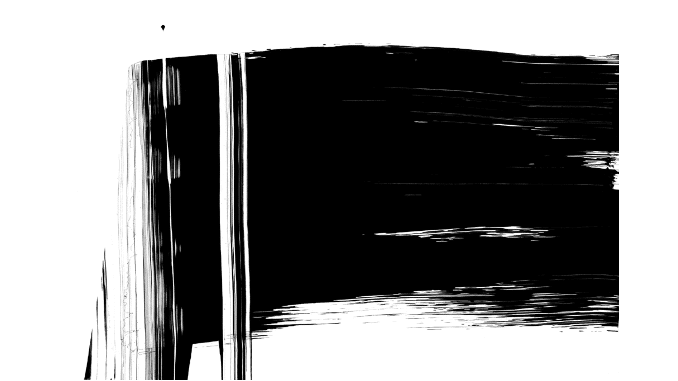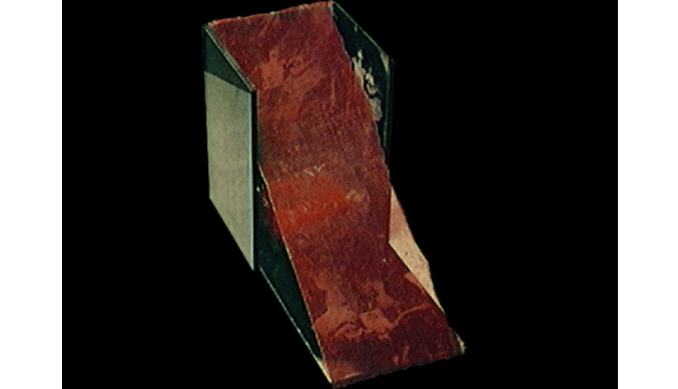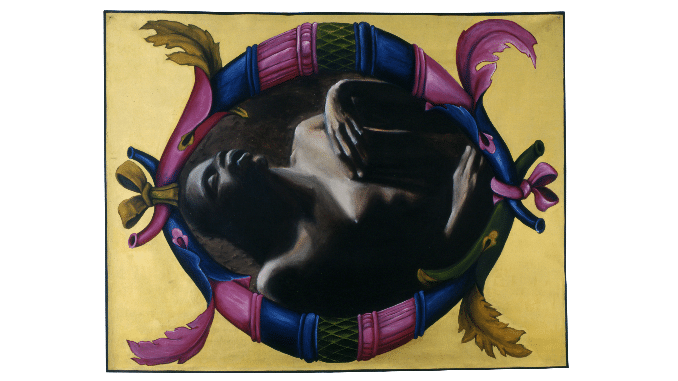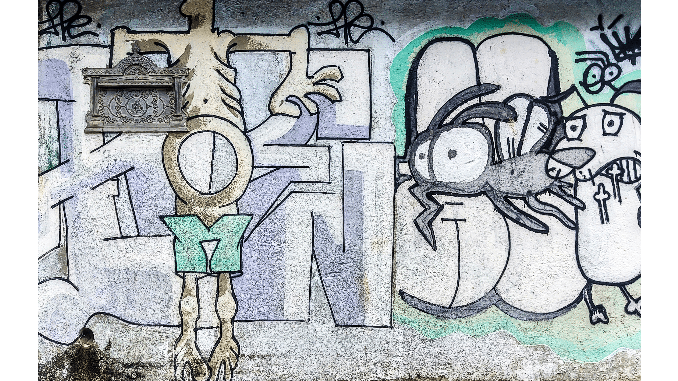Por ALEXANDRE JULIETE ROSA*
Considerações sobre o romance-folhetim de Pausilippo da Fonseca
Texto e contexto
Na edição de 25 de agosto de 1903, o jornal O Paiz apresentou a seguinte nota: “Uma folha disse que o Sr. Pausilippo da Fonseca, italiano, estava sendo procurado pelo delegado da 17ª circunscrição, como instigador de tumultos e perigoso anarquista. O procurado não é italiano, nem instigou desordens, nem é anarquista. É brasileiro e foi aluno da Escola Militar. Só pode ser perseguido pelo fato de redigir o periódico A Greve, órgão socialista, simpático à parede. Também o Sr. Dr. Cardoso de Castro é socialista. Isso não é crime, Sr. Delegado!”[i]
Não consegui encontrar a tal “folha” citada no jornalão governista, mas, pelo tom irônico da passagem – o Sr. Dr. Cardoso de Castro é socialista. Isso não é crime, Sr. Delegado! – muito provavelmente deve ter sido algum jornal operário que saiu em defesa de Pausilippo, apresentado erradamente como sendo de nacionalidade italiana e, portanto, passível de expulsão do país.[ii] Em relação a “acusação” de anarquista, a negativa pode ter sido, também, uma forma de preservar a integridade do companheiro, pois não havia nada mais hediondo, naquele momento, do que ser anarquista.
No livro de Francisca Nogueira de Azevedo – Malandros desconsolados: o diário da primeira greve geral no Rio de Janeiro – temos a descrição da mesma circunstância, acrescida com a informação da prisão do jornalista: “O chefe de polícia informou que está preso o sr. Francisco Pausilippo da Fonseca, italiano e perigoso anarquista, procurado pelo delegado da 17ª como instigador de tumultos. Segundo informações dos operários, o sr. Pausilippo não é italiano, nem instigou desordem, nem é anarquista.”[iii]
As pesquisas históricas nos permitem chegar a uma primeira constatação acerca dos folhetins de A vitória da fome: é da combinação de personagens com maior teor de ficção [ou inspirados em individualidades que caíram no anonimato] e outros personagens identificáveis com pessoas reais que viveram na sociedade carioca da época, além de seu próprio testemunho, que Pausilippo da Fonseca reconstitui, literariamente, os momentos mais dramáticos da greve geral ocorrida no Rio de Janeiro em agosto de 1903. E, dentro dessa moldura mais ampla, encontram-se a tematização da atuação dos anarquistas nesse movimento, da condição da mulher e das crianças naquela época, dos passos iniciais do tipo de organização conhecida como sindicalismo revolucionário, da repressão sistematizada na articulação entre Estado e burguesia, além dos impasses decorrentes da organização política do proletariado carioca no início do século XX.
A greve geral de 1903 – o levante do proletariado mirim
O movimento paredista que se iniciou na cidade do Rio de Janeiro teve como ponto de partida a paralização dos operários da fábrica de tecidos Cruzeiro, localizada no bairro do Andaraí e adquirida pela Companhia América Fabril em 1891.[iv] O motivo alegado pelos grevistas, além dos baixos salários, era o costume praticado pelos industriais de se cobrar dos trabalhadores pelo uso de instrumentos próprios à realização do ofício, principalmente aventais, espanadores e bolsas para apanhar o algodão. Contra tal prática, os operários e operárias cruzaram os braços após o horário do almoço do dia 11 de agosto daquele ano: “Eram cerca de 200 trabalhadores, em sua maioria menores que atuavam na seção de fiação. Entre eles muitas moças, também operárias da fábrica.”[v]
No dia seguinte, trabalhadores de todas as seções da fábrica, incluindo mulheres e crianças, se declararam em greve. [vi] Num estudo publicado em 2020, sobre o trabalho infantil nas indústrias têxteis cariocas, no período da Primeira República, Isabelle Cristina Pires e Paulo Fontes comentam a participação das crianças (menores) na deflagração da greve geral de 1903. Após o início da paralização na fábrica Cruzeiro, com o intuito de ampliar o alcance do movimento, “um grupo de menores dirigiu-se para a frente da Fábrica de Tecidos Confiança, localizada em Vila Isabel, e começaram a apedrejar o portão na tentativa de buscar a solidariedade dos colegas empregados nessa fábrica. Os menores se anteciparam aos companheiros adultos da Fábrica Cruzeiro, que só buscaram o apoio dos/as trabalhadores/as da Fábrica Confiança no dia seguinte”.
Após o término da greve, na última semana de agosto, “o número considerável de menores demitidos, maior até que o de adultos, demonstra que as crianças e adolescentes, além de terem iniciado a paralisação, tiveram atuação proeminente no movimento paredista, pois conseguiram o apoio de seus/suas companheiros/as de trabalho, percorreram outras fábricas em busca de adesão à greve e paralisaram a produção no estabelecimento por cerca de duas semanas para reivindicar condições mais justas de trabalho.”[vii] Marcela Goldmacher informa que a diretoria da Cruzeiro “demitiu aqueles que julgou serem os líderes do movimento, um total de 18 trabalhadores, dentre estes, 13 menores.”[viii]
Imediatamente à deflagração da ‘parede’, a diretoria da Cruzeiro contatou a polícia, que enviou para as cercanias da fábrica um contingente de cavalaria e infantaria com aproximadamente 40 praças. No dia seguinte, a fábrica funcionou parcialmente e ficou o dia todo sob os cuidados da força militar. A participação das crianças na deflagração da greve mostra de forma muito patente a incorporação da força de trabalho infantil no processo produtivo dessas e de praticamente todas as fábricas e indústrias que surgiram no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX[ix]. Na indústria têxtil, entre diversas outras, “os empresários recrutavam a sua mão-de-obra não especializada nos orfanatos, nos juizados de menores e nas Casas de Caridade. Ao se utilizarem dessas fontes de mão-de-obra, os proprietários das fábricas asseguraram o desenvolvimento de um segmento industrial da economia brasileira (o setor têxtil), convertendo-se, ao mesmo tempo, em benfeitores e filantropos; ambos os papéis estavam entrelaçados e disso tinham plena consciência os empresários e os observadores da época – meninos enjeitados e órfãos trabalhavam na fábrica Todos os Santos, na Bahia, na década de 1850, substituindo os adolescentes que eram designados a cursar escolas de mecânica.”[x]
Se por um lado havia uma certa crença por parte desses primeiros industriais de que “os pobres eram uma classe dada à indolência se não fosse coagida a trabalhar”[xi], por outro lado, fatores de ordem estritamente econômica entravam nos cálculos dessas ações beneméritas. Um grupo de empresários do setor têxtil escrevia com entusiasmo em 1870 que não havia “empreendimento mais humanitário e filantrópico do que proporcionar emprego apropriado e permanente para essa grande e crescente parcela da comunidade, formando cidadãos bons, inteligentes e habilidosos.”[xii] Nesse entendimento, as crianças que trabalhavam nas fábricas davam alguns anos de sua vida útil numa idade em que seu caráter está em formação e os hábitos regulares da diligência podem ser adquiridos. Quatro anos depois, o mesmo grupo de empresários expressava sua satisfação, num boletim oficial da Companhia Brazil Industrial (Paracambi, Rio de Janeiro) com os meninos de pouca idade engajados em suas fábricas como limpadores de máquina; “os diretores viam nisso um sinal auspicioso, pois no futuro seria fácil encontrar trabalhadores de ambos os sexos por baixos salários.”[xiii]
O problema da mão-de-obra foi uma das maiores pedras nos sapatos dos industriais durante quase toda a segunda metade do século XIX. A proibição definitiva do tráfico de escravizados em 1850 fez com que o preço do trabalhador escravizado aumentasse muito, transformando-se num dos principais ativos nas mãos dos comerciantes e capitalistas, que passaram a especular a “mão-de-obra cativa” ao sabor de quem mais pagasse. Em 1853, um relatório da Comissão encarregada de rever a legislação sobre tarifas alfandegárias no território brasileiro, tendo em vista a criação de condições encorajadoras para o empreendimento industrial no país, reclamava que o “tráfico ilegal de escravos chagava a atrair pessoas com tino industrial, levando-os a abandonar os seus projetos pela possibilidade de uma riqueza colossal.”[xiv] Em 1864 havia um “proprietário de escravos do Rio de Janeiro que possuía mais de 300 cativos exclusivamente destinados à locação. Esse ‘empresário’ utilizava os escravos como um ativo qualquer: é um grande proprietário de escravos que não é um produtor escravista.”[xv]
Para termos uma ideia de quão valioso era esse mercado, numa transação ocorrida em 1868, o senhor Jacinto Bernardino vendeu uma fazenda denominada Pau Grande [futura Fábrica de Tecidos Pau Grande, da Cia América Fabril], na região de Magé, Rio de Janeiro, ao americano de nome James B. Johnson, pelo valor de 65 contos de réis: “Pela escritura da venda, a fazenda compreendia terras, casa de vivenda, olaria e outras benfeitorias, tendo como acessórios 40 escravos, gado vacum e suínos. Dos 65 contos de réis, 40 foram referentes aos escravos e os 25 restantes o equivalente às terras, casas, gado e benfeitorias.”[xvi]
O preço dos escravizados não parou de valorizar nos trinta anos seguintes à extinção do tráfico; ao contrário, “sempre pressionado pela carência de mão-de-obra, sofreu acentuado processo de inflação até 1880, quando chegou ao auge e começou a cair por força da idade dos escravos e dos sintomas do fim iminente da escravidão.”[xvii] O preço elevadíssimo dos escravizados ainda no ano de 1880 levou um grande estudioso do assunto a supor que os escravagistas nutriam esperanças de mais uma geração para o escravismo: “o que provocou, logo em seguida, rápida mudança de expectativa por parte dos escravistas, registrada na queda dos preços dos escravos, foi o recrudescimento da campanha abolicionista.”[xviii]
A Guerra do Paraguai (1864 – 1870) contribuiu bastante para retirar do mercado de trabalho um contingente enorme de trabalhadores, livres, forros ou escravizados. A campanha para o alistamento quase não recebia mais voluntários e antes do final de 1865 iniciou-se o recrutamento compulsório para formação dos Corpos de Voluntários da Pátria. Foram cinco anos de um verdadeiro deus nos acuda para se livrar da guerra: “Os cidadãos do império dispunham de diversas formas de se esquivarem da convocação. Os mais aquinhoados, utilizavam-se de doações de recursos, equipamentos, escravos e empregados à Guarda Nacional e aos Corpos de Voluntários para lutarem em seu lugar; os que podiam menos, faziam oferecimento de familiares, ou seja, alistavam seus parentes, filhos, sobrinhos, agregados etc. Aos despossuídos não restava outro recurso para escapar ao alistamento que a fuga para o mato.
A compra de substitutos, ou seja, a compra de escravos para lutarem em nome de seus proprietários, tornou-se prática corrente. Sociedades patrióticas, conventos e o governo encarregavam-se, além disso, da compra de escravos para lutarem na guerra. O Império prometia alforria para os que se apresentassem para a guerra, fazendo vista grossa para os fugidos.”[xix] Nas palavras de Ricardo Salles, “a guerra do Paraguai foi um acontecimento marcante em nossa história; ela foi um dos elementos – e não de pequeno peso – no processo histórico concreto que marcou o período de transição do escravismo ao capitalismo, que se inaugura na década de 70 do século XIX.”[xx]
Após o término do conflito e durante toda a década de 1870, os industriais disputariam com os fazendeiros e com os donos de estabelecimentos comerciais o mercado de mão-de-obra, que ia se dinamizando cada vez mais. Trabalhadores e trabalhadoras na condição de escravizados, empregados em diversos empreendimentos manufatureiros e industriais[xxi], foram paulatinamente substituídos por trabalhadoras e trabalhadores “livres” e assalariados. Um exemplo dessa dinâmica pode ser ilustrado no caso da fábrica de velas Companhia Luz Stearica (Rio de Janeiro), que até 1857 empregava exclusivamente trabalhadores escravizados e em 1858 passou a contratar colonos portugueses e a diminuir o contingente de cativos: “A partir de 1874 os escravos passaram a ser alugados mas, como o aluguel era mais alto do que os salários, era tão vantajoso importar o colono que a fábrica de velas, que empregava 20 escravos em 1856, só alugava 7 em 1874 e já não mais os alugava em 1888.”[xxii]
No Rio de Janeiro, conforme demonstrou Luís Felipe de Alencastro, “durante os três primeiros quartos do século XIX, os fazendeiros e empregadores urbanos se enfrentam pelo controle do mercado de trabalho; funcionando como um polo de atração, a capital fixava em seu seio uma parte da mão-de-obra livre e escrava. Nos anos imediatamente posteriores à supressão definitiva do tráfico, a chegada de proletários estrangeiros [portugueses principalmente] e a consequente queda dos salários induz os proprietários de escravos urbanos – especialmente daqueles que não têm qualificações ou “ofícios” – a vender esses cativos aos proprietários rurais.”[xxiii] Ainda assim, o contingente de trabalhadores escravizados no contexto urbano do Rio de Janeiro continuou bastante elevado – 51% no ano de 1874.
O desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil ocorreu nesse contexto extremamente complexo e nuançado de uma sociedade ainda estruturada na formação social escravista, que dava os primeiros passos para a instituição do ‘trabalho livre’: “Ferroviários, operários da construção civil, estivadores, portuários, têxteis e gráficos, eis algumas das primeiras categorias de proletários brasileiros formadas no século XIX, ainda no tempo do Império, em várias cidades e regiões do país; a primeira geração de proletários brasileiros convivera, nas fábricas e nas cidades, com trabalhadores escravos durante várias décadas. Esse fato caracteriza toda a fase inicial do processo de formação do proletariado como classe no Brasil, diferenciando-se dos demais países, tanto europeus como sul-americanos (Argentina, Uruguai e Chile, principalmente).”[xxiv] Segundo Foot Hardman de Victor Leonardi, os operários têxteis foram os que constituíram “a primeira categoria de verdadeiros proletários industriais modernos surgida no Brasil”[xxv].
Neste setor da economia, o emprego da mão-de-obra escravizada, pelo menos no Rio de Janeiro, quase não existiu ou foi bastante diminuto, até por que o boom das indústrias têxteis ocorreu justamente ao longo dos anos de 1880, quando o regime escravista entrara em sua fase aguda de declínio.[xxvi] Recrutar mão-de-obra para a indústria têxtil não era tarefa fácil; conforme relatou Stanley Stein, “a fábrica têxtil Pau Grande, situada nos subúrbios do Rio, ficou com falta de trabalhadores após a abolição, provavelmente por estar localizada numa zona pantanosa e empesteada pela malária, e mandou um agente recrutar mão-de-obra numa região miserável do país, a Paraíba do Norte.”[xxvii].
Num estudo mais pormenorizado sobre a Companhia América Fabril, controladora da indústria-fazenda Pau Grande e de outras quatro fábricas têxteis (Cruzeiro, Bonfim, Mavilis e Carioca), as pesquisadoras Elisabeth von der Weid e Ana Maria Bastos sustentaram que “a mão-de-obra escrava, que trabalhara na fazenda [Pau Grande], não mais existia quando esta foi adquirida com fins industriais [1878], dez anos antes da Abolição, não tendo sido, portanto, utilizada tal relação de trabalho na fábrica”. Essa constatação, continuam as autoras, “confirmada em entrevistas com antigos funcionários da fábrica Pau Grande, caracteriza bem a mentalidade industrialista dos empresários fundadores e o surgimento da empresa já dentro do sistema fabril capitalista, cuja mão-de-obra é livre e assalariada.”[xxviii] Jacob Gorender comenta, de passagem, que o emprego de escravos na indústria fabril ou extrativa moderna ocorreu na “fase germinal” de nosso capitalismo industrial, ainda preso à estrutura dominante do escravismo colonial, pois a estrutura do mercado de força de trabalho livre impôs “o recurso parcial a escravos, comprados ou alugados. Até meados do século XIX, é notável a presença de escravos nas manufaturas e fábricas do Rio de Janeiro, exceto nas do ramo têxtil, que só empregava operários livres. Enquanto as fazendas de café continuavam a atrair escravos ainda no começo da década de 1880, a indústria urbana prescinde deles, o que representou um dos prenúncios da Abolição no Brasil.”[xxix]
Para resolver o problema da mão-de-obra, os industriais do setor têxtil recorreram à contratação de imigrantes; num primeiro momento, ingleses com formação técnica especializada e em seguida portugueses, espanhóis e italianos. Com relação aos brasileiros, à medida que aumentava o contingente de trabalhadores livres, “intensificava-se entre eles, sem dúvida, a repugnância por qualquer regime de trabalho ininterrupto, fatigante e supervisionado, associado à prantation escravista.”[xxx] Por outro lado, havia a questão cultural relativa à imigração, também vista como “tentativa de ver surgir uma mão-de-obra disciplinada, com homens mais sóbrios que os nacionais, tidos como preguiçosos e indolentes, principalmente se fossem mulatos ou negros; Os imigrantes portugueses, italianos e espanhóis também eram considerados ignorantes, fatalísticos e retrógrados pelas elites de seus países. Entretanto, no Brasil, os empregadores viam os europeus do sul como gente trabalhadeira, ambiciosa, muito mais adaptável à vida urbana que o próprio brasileiro.”[xxxi]
A alta rotatividade dos trabalhadores brasileiros, a carência de mão-de-obra anterior à grande onda de imigrantes, além do alto preço dos aluguéis de escravizados afetavam praticamente todas as primeiras indústrias têxteis do Rio de Janeiro. Num relatório da Companhia Brazil Industrial, de 1875, a diretoria apontava, entre as dificuldades que concorreram para elevar os custos, a notória escassez de operários e a consequente alta dos salários. Foi nesse contexto que os fabricantes “não demoraram a aprender as regras do jogo do mercado capitalista vigente na Europa – a introdução de mulheres e crianças, recebendo salários abaixo ou ao nível de subsistência, constituiu a medida fundamental para estabelecer o patamar a partir do qual o salário dos operários fosse considerado nas negociações.”[xxxii]
Tal expertise não era uma novidade da fábrica têxtil da Companhia Brazil Industrial, já utilizada em fábricas da Bahia, conforme apontou Stanley Stein. Luiz Carlos Soares relata que já no primeiro estabelecimento têxtil fundado na região fluminense, na década de 1840, pelo prussiano Frederico Guilherme, havia o emprego de crianças. “Frederico Guilherme era comerciante e, durante os anos 1840, foi sócio de Carlos Tanière, francês, numa loja de consignação, compra e venda de escravos ‘ladinos’ na Rua do Ouvidor. No mesmo ano de sua fundação, o estabelecimento foi contemplado com o produto de 4 loterias do Governo Imperial, estando o proprietário, em virtude da lei, comprometido a não empregar trabalhadores escravos”. Em 1848, o estabelecimento empregava de 16 a 22 operários livres; “Além desses trabalhadores, Frederico Guilherme mantinha 10 meninos livres sem remuneração salarial, com autorização governamental, sob a alegação de conceder-lhes ‘instrução elementar, religiosa e industrial’. Pode-se imaginar que tipo de ‘filantropia’ praticava este notório negociante de escravos e que tipo de ‘instrução’ ele fornecia aos meninos mantidos em seu estabelecimento.”[xxxiii]
Em 1874 havia 27 operários e operárias contratados(as) na Inglaterra pela Companhia Brazil Industrial; seus diretores já se referiam, no entanto, “à promissora oferta espontânea de crianças, as quais, por módica retribuição, poderia ser utilizada em serviços que demandassem mais destreza do que força muscular. Um ano depois, a empresa divulgava na imprensa a seguinte informação: ‘O serviço da fábrica é feito por 230 operários, sendo do sexo masculino 170, dos quais homens 126 e meninos 44, e do feminino 60, sendo mulheres 32 e meninas 28. Estre os meninos e meninas há crianças de cinco anos que já prestam valioso auxílio com seus pequenos serviços, e assim realiza a instituição mais de um fim nobre, aproveitando o concurso dessas pequenas forças, e habituando ao trabalho crianças que a vagabundagem das ruas só poderia tornar antes desgraçados.”[xxxiv]
O emprego do trabalho infantil seguiu firme e forte mesmo após o período de abundante oferta de mão-de-obra, resultado da ruína dos artesãos que foram empurrados para a miséria, da entrada crescente de imigrantes e a libertação dos escravizados, enfim, “todas as circunstâncias históricas que possibilitassem que os desejos dos fabricantes se transformassem em realidade.”[xxxv] A fábrica Cruzeiro, onde se iniciou o levante desse proletariado mirim de 1903, operava, em 1895, com 450 trabalhadores, sendo que deste total 100 operários eram menores de idade.[xxxvi]
As políticas voltadas à solução do problema da mão-de-obra, implementadas por parte das indústrias têxteis, tanto do Rio de Janeiro quanto do restante do país, se voltaram para o desenvolvimento de estratégias relativas à permanência, ao controle a à formação da força de trabalho. O recurso à instauração de vilas operárias foi, dentre tais estratégias, o mais eficiente. No último quarto do século XIX os industriais do setor têxtil “começaram a alojar os operários segundo o plano inglês, no que ficou conhecido no país como as vilas operárias.”[xxxvii] Tais mecanismos foram progressivamente desenvolvidos e institucionalizados, manifestando-se de forma direta no dia a dia dos operários. Em 1874, a Companhia Brazil Industrial “gastou 29.743$000 na construção de pequenas casas para os operários e suas famílias, com o objetivo de concentrar na própria localidade os trabalhadores têxteis habilitados, que dificilmente eram encontrados no incipiente mercado de trabalho que começava a se formar. Em 1875, o número de operários empregados era de 239, entre homens e mulheres, além de existirem 109 menores de ambos os sexos em aprendizado.”[xxxviii]
As unidades fabris da Companhia América Fabril alugavam moradias no entorno das fábricas para uma parcela grande da força de trabalho; a partir daí, criavam-se verdadeiros dispositivos disciplinadores que abrangiam as mais diversas esferas da atividade humana: “na educação, através da construção de escolas primárias para os operários e seus famílias; na saúde, no oferecimento de assistência médico-farmacêutica; na religião, com a edificação de igrejas e atendimento espiritual; e no lazer, através da criação de uma associação operária, com comitês nas diversas unidades fabris que promoviam bailes, piqueniques, passeios, jogos de futebol, sessões de cinema e teatro.” [xxxix]
Numa conferência realizada em 1882, o sr. José Pereira Rego Filho, um dos fundadores da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, sustentava a ideia segundo a qual a força de trabalho nas fábricas deveria ser entendida “como um grupo de famílias vivendo juntas sob a administração verdadeiramente paternal dos gerentes e acionistas.”[xl] Dessa forma, o ‘paternalismo industrial’ conseguia agregar a força de trabalho de toda a família, incluindo os ‘menores’, meninos e meninas de 5 a 17 anos, que eram submetidos a jornadas de trabalho exorbitantes: “O laboratório secreto de extração de mais-valia, representado pela grande indústria (têxtil, em sua grande maioria) submetia por completo a família proletária às condições da produção fabril.”[xli]
As unidades fabris dessa magnitude, como a Cruzeiro, no Andaraí ou a Aliança, no bairro das Laranjeiras, se transformavam em verdadeiras cidadelas, dentro das quais se reproduziam as mais variadas formas de tirania, açambarcamento dos salários e discriminações as mais variadas. As denúncias de maus tratos eram constantes, tanto nos jornais operários quanto na imprensa burguesa: “Homens, mulheres e crianças, operários fabris ficavam sujeitos a uma ordem draconiana que trazia à lembrança o cativeiro. Os militantes operários costumavam comparar as fábricas a presídios, com guardas fardados e armados que submetiam operários a revistas vexatórias. A grande empresa têxtil converteu-se em núcleo, até certo ponto, autônomo, de onde o trabalhador praticamente não saia. No mundo criado pela fábrica havia tudo que o trabalhador necessitava – moradias, escolas, armazéns, assistência médica, clubes etc.”[xlii] É o mundo paradoxal da servidão burguesa explicita do trabalhador livre, tão bem estudado por José Sérgio Leite Lopes: “… o proletariado estável imobilizado pela empresa através da moradia, que faz o patrão controlar outras esferas da vida do trabalhador além da esfera do trabalho.”[xliii]
E o trabalho nas fábricas, por sua vez, obedecia a uma jornada exaustiva de 14 ou mais horas de trabalho, para homens, mulheres e crianças, com uma hora para o almoço e às vezes uma pequena pausa para um café à tarde. Para quem vivia nas vilas operárias, boa parte dos salários ficava no comércio local, que também era controlado pelas fábricas. Na virada do XIX para o XX, a grande indústria têxtil representava, no Brasil, o lado ‘mais desenvolvido’ das relações capitalistas de produção: “era o setor que apresentava os maiores índices de concentração de capital, força de trabalho e força motriz por unidade de produção”[xliv]; o alto grau de mecanização (energia a vapor, elétrica [em algumas unidades], teares modernos, etc.) ampliava a produtividade do trabalho ao mesmo tempo que reforçava a desvalorização da força de trabalho. A partir dos anos 1890, mais ou menos, já era possível perceber, no Rio de Janeiro, o fenômeno do exército industrial de reserva, “fazendo com que o setor têxtil apresentasse as taxas mais baixas de salário, com relação aos ramos do vestuário.”[xlv]
Mesmo com o mercado plenamente abastecido de mão-de-obra adulta para o trabalho nas fábricas, os industriais continuaram a empregar um contingente significativo de crianças, com os salários inferiores aos demais operários. A documentação da Companhia América Fabril, entre os anos de 1878 a 1930, especialmente da fábrica Cruzeiro, mostraram que a presença dos menores de idade sempre foi relevante no conjunto da força de trabalho, “sobretudo entre 14 e 17 anos – idades incluídas na faixa oficial estabelecida pelo Código do Menor de 1926 – embora houvesse um contingente ponderável abaixo dos 14 anos.”[xlvi] Esses trabalhadores se concentravam principalmente no setor de fiação ou admitidos em outras seções como aprendizes ou auxiliares. Quando o trabalho era muito pesado, empregava-se adolescentes mais velhos, por serem mais ágeis e fortes, mas sempre recebendo salários inferiores aos demais operários, homens e maiores de 18 anos.
Em janeiro de 1891 o Governo Provisório da República baixou o Decreto 1.313, na tentativa de normatizar as relações de trabalho envolvendo menores de idade nas fábricas da então Capital Federal. Vinha assinado pelo “Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil” e por José Cesário de Faria Alvim, Ministro do Interior. O Decreto tinha por finalidade, de acordo com o estabelecido em seu texto de abertura, atender “à conveniência e necessidade de regularizar o trabalho e as condições dos menores empregados em avultado número de fábricas existentes na Capital Federal, a fim de impedir que, com prejuízo próprio e da prosperidade futura da pátria, sejam sacrificadas milhares de crianças.”[xlvii] O que chama atenção ao longo dos 17 Artigos do Decreto é um certo destaque relativo ao emprego dos menores nas fábricas têxteis. No Art. 2º estipulava-se que “Não serão admitidas ao trabalho efetivo nas fábricas crianças de um e outro sexo menores de 12 anos, salvo, a título de aprendizado, nas fábricas de tecidos, as que se acharem compreendidas entre aquela idade e a de oito anos completos.” E no Art. 4 acrescentava: “Dos admitidos ao aprendizado nas fábricas de tecidos só poderão ocupar-se durante três horas os de 8 a 10 anos de idade, e durante quatro horas os de 10 a 12 anos, devendo para ambas as classes ser o tempo de trabalho interrompido por meia hora no primeiro caso e por uma hora no segundo”.
De uma forma geral, o Decreto 1.313 já nasceu como letra morta, pelo menos em relação à situação dos menores no processo de trabalho das fábricas têxteis. Mesmo estipulando a idade mínima de oito anos e normatizando as jornadas e condições de trabalho, sobretudo higiênicas, a lei, em sua organicidade, apresentava diversas brechas e fissuras “às quais colocavam em xeque sua própria viabilidade, principalmente nos quesitos da fiscalização e da punição aos infratores.”[xlviii] O Código do Menor, de 1926, proibia o trabalho de menores de 14 anos. Entretanto, nos documentos referentes à Companhia América Fabril, entre 1878 e 1930, “destaca-se a contratação de menores de 14 anos ainda no final da década de 1920, com maior concentração no período de maior população operária (1918 – 1924), quando a fábrica recorreu inclusive a crianças de menos de sete anos. Um terço do total dessas crianças possuía menos de cinco anos, dado bastante surpreendente no início dos anos 20. No final da década de 1920 intensificou-se a admissão de crianças entre oito e treze anos, coincidindo esse período com o aumento de admissões de mulheres. Esses dados sugerem a adoção pela Companhia América Fabril de uma política de despesas em face da crise econômica mundial, uma vez que os salários das mulheres e dos menores eram tradicionalmente mais baixos do que os salários dos homens adultos. Os dados relativos à mão-de-obra da fábrica Cruzeiro parecem reproduzir com clareza a situação do operariado do Rio de Janeiro à época.”[xlix]
Mais do que um ‘apêndice’ ou complemento à força de trabalho necessária ao desenvolvimento industrial no país, as crianças desempenharam um papel fundamental em toda a “engrenagem” da nascente classe trabalhadora urbana. Fonte de recursos e complemento da renda das famílias pobres, modalidade de contratação de mão-de-obra barata por parte dos industriais, elas são parte integrante [e a mais indefesa] do estabelecimento das relações capital-trabalho nos moldes da indústria moderna. Pode nos causar certa estranheza, hoje em dia, algumas passagens de A vitória da fome em que os dois irmãozinhos de Beatriz, “um de 11 e outro de 9 anos” já trabalhavam na fábrica de tecidos “desde o amanhecer até o pôr do sol.” Na época da escrita do romance este fato era basicamente um dado ‘normal’ da realidade; se bem que não faltaram vozes a se opor a essa prática – delituosa – do emprego das criança nas fábricas: “Entre as diversas vozes preocupadas com a presença de crianças no mundo do trabalho, o militante operário Albino Moreira, em coluna no jornal A Voz do Trabalhador [em 1913], direcionou-se aos pais da classe operária: “É vergonhoso para homens que vivem neste século, fazer levantar às 5 horas da manhã, seus filhos com 6 e 7 anos de idade, para os manter na fábrica ganhando 500 réis, nas longas 10 horas do dia em um trabalho penosíssimo para a sua tenra idade, aniquilando o organismo, preparando assim seres raquíticos e tuberculosos de que compor-se-á a humanidade futura.”[l]
As famílias talvez fossem as menos culpadas por tal situação, ou pelo menos enfrentavam uma condição de vida tão lastimável que não lhes permitia pensar nos danos que causariam às pobres criancinhas mandando-as para o trabalho numa idade tão tênue: “A inserção de menores no trabalho fabril era considerada vantajosa para ambos os lados, posto que os patrões se beneficiavam por admitirem crianças e adolescentes na condição de aprendizes e, portanto, pagavam remunerações mais baratas à mão-de-obra; enquanto que os pais contavam com um reforço no orçamento doméstico e com a possibilidade de afastarem seus filhos dos males das ruas e do ócio.”[li] Havia uma certa absorção por parte das famílias pobres daquela ideologia formulada por legisladores, juristas, jornalistas, escritores, médicos higienistas e industriais da época, cujo fim último era disciplinar a população na ética do trabalho, da ordem e do progresso: “…a oligarquia capitalista julgava estar prestando um grande favor, praticando um ato de benemerência em dar trabalho para proteger essa pobre gente esfomeada… Os gerentes e diretores assumiam, por isso, ares altaneiros e superiores de grão-senhores, aos quais só se podia falar de chapéu sobre o peito, fazendo vênia de beija-mão, numa humildade de escravo.”[lii]
Estando longe das ruas, e, portanto, “protegidas dos perigos inerentes ao ócio”, as crianças eram mandadas para as fábricas, seja pelas famílias ou por instituições de caridade (orfanatos). E nas fábricas se deparavam com situações que podemos classificar, no mínimo, de desumanas. São incontáveis os relatos acerca das cargas sobre-humanas de trabalho às quais esses pequenos trabalhadores e trabalhadoras eram submetidos. Também na indústria metalúrgica ou mecânica, relembra o militante Everardo Dias, “… o número de menores era predominante. Com exceção de um reduzidíssimo número de técnicos (mecânicos, ferramenteiros, moldadores, fundidores) o restante era constituído de carvoeiros, alimentadores de fornalhas, fazendo serviços quase suicidas pelas bronquites, pneumonias, reumatismos que iam contraindo.
Os menores (em que se contavam rapazinhos de oito anos) eram empregados em serviços pesados, alguns incompatíveis com sua idade e sua constituição física e mal chegavam a adultos e quando chegavam era para formar filas nas clínicas gratuitas da Santa Casa de Misericórdia, como indigentes.”[liii] Se a carga de trabalho para as crianças era descomunal, havia ainda a recorrente prática dos castigos físicos e psicológicos. Aqui encontramos um verdadeiro teatro dos horrores: “Os maus-tratos verbais e físicos pareciam ser um procedimento comum dado à mão-de-obra em fábricas, sobretudo, no que diz respeito a mulheres e menores.”[liv]
As memórias de Jacob Penteado, que trabalhou quando criança numa fábrica de vidros no bairro do Belenzinho, em São Paulo, são paradigmáticas a esse respeito: “… muitos dos meninos não tinham ainda alcançado dez anos. Havia-os de sete anos de idade. O ambiente era o pior possível. Calor intolerável, dentro de um barracão coberto de zinco, sem janelas nem ventilação. Poeira micidial [que causa lesões na pele], saturada de miasmas, de pó de drogas moídas. Os cacos de vidro espalhados pelo chão representavam outro pesadelo para as crianças, porque muitas trabalhavam descalças ou com os pés protegidos apenas por alpercatas de corda, quase sempre furadas. A água não primava pela higiene nem pela salubridade. Acrescentem-se a isso os maus tratos dos vidreiros, muito comuns, naquele tempo. Os maus tratos foram tantos e tão frequentes que, certa noite, as vítimas [todas crianças] resolveram vingar-se. Reuniram-se em um grupo e acoitaram-se num terreno baldio, localizado no trajeto que Casanova [o vidreiro algoz] costumava percorrer. Agachados entre os arbustos, com o coração palpitando, mas firmes no seu desígnio de aplicar um corretivo no homem que os torturava diariamente, ficaram de tocaia. Quando perceberam que Casanova se aproximava, cambaleando, sob a ação do álcool, levantaram-se e descarregaram tamanha saraivada de pedras, pedregulhos e cacos de tijolos, que este se viu impotente e, aturdido e ferido, caiu gemendo, com a cabeça rachada, contorcendo-se em dores. Passou vários dias acamado.”[lv]
Sem ter a quem recorrer, cabia ao próprio proletariado mirim se insurgir contra tal estado de coisas. Não era incomum surgirem movimentos de caráter grevista que reivindicavam o fim dos castigos físicos praticados nas fábricas. Embora o principal motivo alegado pelos trabalhadores para o início das paralizações na Fábrica Cruzeiro, no dia 11 de agosto de 1903, tenha sido a cobrança que os industriais faziam dos utensílios utilizados pelos próprios operários, não é descabida a hipótese, sobretudo pela grande quantidade de menores envolvidos, de que havia motivações, por parte dos pequenos trabalhadores, de protestar contra os maus tratos que sofriam no dia a dia de trabalho. Na fábrica Carioca, que também aderiu à greve em 1903, entre as reivindicações que os grevistas enviaram à diretoria daquele estabelecimento; jornada de 8 horas, aumentos salariais, readmissão de companheiros demitidos etc., está o pedido de “repreensão ao contramestre Paulino Vieira Gomes, da seção de crianças”[lvi], muito provavelmente por conta dos maus tratos que praticava.
Na Aliança, a fábrica representada nos folhetins de A vitória da fome, encontramos menções dos próprios diretores insinuando que a greve teria sido motivada após a demissão de dois menores. Em entrevista concedida ao Correio da Manhã, o diretor Joaquim Carvalho de Oliveira assegurou ao repórter “que a causa da greve atribuía-se tão somente à despedida de dois menores, que pelo seu procedimento perturbavam a disciplina de uma de suas oficinas. Outro diretor que chegou na ocasião, o sr. Alfredo Loureiro Pereira Chaves, corroborou as mesmas informações que o sr. Silva tinha nos ministrado.”[lvii]
As informações que mais circularam na imprensa e que estão nas pesquisas realizadas sobre o movimento grevista de agosto de 1903 sustentam que “a greve [na Aliança] teve início após o diretor da fábrica ter-se negado a readmitir uma operária dispensada pelo mestre dos teares. A operária demitida, uma viúva polaca, havia sofrido abuso sexual por parte do mestre, de nome Ferreira da Silva, e fora por ele abandonada e demitida após o nascimento da criança.”[lviii] Nos folhetins de A vitória da fome o motivo deflagrador da greve na fábrica das Laranjeiras aparece no mesmo espectro dos abusos sexuais, embora com menor gravidade em relação às noticias veiculadas na imprensa da época: “a explosão [greve] deu-se motivada pela demissão duma operária casada, por mera vingança do mestre da oficina em que ela trabalhava, o qual baldadamente a tentava seduzir.”[lix] De qualquer forma, entre os relatos da época e o que de fato entrou para a elaboração do romance não há pontos muito discrepantes, a não ser a justificativa dos diretores da Aliança, que atribuíram ao movimento grevista a demissão de dois trabalhadores “menores”.
A situação da classe trabalhadora mirim foi tematizada nos folhetins de A vitória da fome através do padecimento da personagem Beatriz e de seus pequenos irmãozinhos. O objetivo desse artigo foi trazer à baila essa parcela um tanto quanto sub representada nos estudos sobre a formação da classe trabalhadora no Brasil, elemento quase invisível na tão complexa ‘passagem’ do trabalho escravizado para o trabalho livre ou assalariado, mas nem por isso menos fundamental ou participativa. Evidente que o “comando” da greve geral de 1903 passou para os grupos de trabalhadores [homens, adultos] organizados em diversas entidades – sindicatos, uniões, grêmios, associações, centros operários, etc. Dentro desse embate surgiram, grosso modo, duas forças a disputar os rumos que o movimento deveria tomar: de um lado, os anarquistas; de outro, os socialistas.
Não poderia deixar de mencionar, para finalizar esse texto, uma nota publicada no Correio da Manhã do dia 27 de agosto de 1903: “Entre 20 operários da fábrica de biscoitos da rua do Livramento, n. 130, trabalhavam oito menores, que, ontem, deliberaram aderir à greve, depois de uma longa conferência havida ao redor do tabuleiro da preta dos pastéis. Convencidos de sua importância, seguiu a comissão de infantes grevistas para a citada fábrica, onde, com todas as formalidades legais, enviaram um ultimatum a seus companheiros maiores. “– Se vocês não nos acompanharem na greve nós lhes jogaremos pedras, das quais temos no bolso uma amostra”.
Assim terminava a representação dos petizes, que, realmente, fizeram um grande ajuntamento de pedras, perigosos projéteis de que iam lançar mão. A diretoria da fábrica, ao contrário do que devia fazer, que era distribuir biscoitos pelos grevistas, procurou o dr. Ayres da Rocha, da 3ª Urbana, a quem cientificaram da ‘importante’ parede. As autoridades fizeram a greve abortar. Constava ontem que o dr. Ayres, delegado, ia requisitar uma companhia de guerra de aprendizes marinheiros para impedir a realização da greve infantil.”[lx]
O tom jocoso da notícia tenta sabotar uma situação que, se por um lado pode até ser inusitada, por outro, reforça a ideia segundo a qual esses pequenos trabalhadores, além de sofrerem toda sorte de abusos e violências, e por isso mesmo, tentavam, na medida de suas forças, enfrentar situações de flagrante injustiça. E não pensemos que os “menores” eram utilizados apenas como força de trabalho descartável nas fábricas e indústrias. Na “parte de cima” da sociedade, entre a camada dos empresários e industriais, no mesmo ano de 1903, a Companhia América Fabril “registrou mais de uma dezena de novos sócios subscrevendo ações, mas quase todos ligados aos antigos, como por exemplo os três filhos mais velhos de Domingos Bibiano [diretor-gerente e grande acionista da Companhia], os cinco filhos de Alfredo Coelho da Rocha [um dos fundadores e sócio majoritário da Companhia] e os cinco filhos de Antônio Mendes Campos [o quarto maior acionista] – sendo esses últimos todos menores. Ampliava-se, assim, a sociedade anônima mantendo-a, entretanto, restrita aos parentes e amigos.”[lxi]
*Alexandre Juliete Rosa é mestre em literatura pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP.
Para acessar a primeira parte da série clique em https://aterraeredonda.com.br/a-vitoria-da-fome/
Notas
[i] Notas soltas. O Paiz, terça-feira, 25 de agosto de 1903. p. 02. http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=178691_03&pasta=ano%20190&pesq=&pagfis=6440
[ii] Durante o período da greve geral circulavam no Rio de Janeiro, além de A Greve, outros jornais operários, como A voz do trabalhador, Brasil Operário, Gazeta Operária.
[iii] Francisca Nogueira de Azevedo. Malandros desconsolados: o diário da primeira greve geral no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume Dumará: 2005, p. 151.
[iv] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. O Fio da Meada: estratégia de expansão de uma indústria têxtil. Rio de Janeiro: FCRB / CNI, 1986, pp. 65 – 68.
[v] Francisca Nogueira de Azevedo. Op. cit., p. 41.
[vi] Marcela Goldmacher. A “Greve Geral” de 1903: o Rio de Janeiro nas décadas de 1890 a 1910. Tese de Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2009, p. 124.
[vii] Isabelle Cristina Pires e Paulo Fontes. Crianças nas Fábricas: o trabalho infantil na indústria têxtil carioca na Primeira República. Tempo & Argumento. Vol. 12, Nº 30, 2020, p. 28–9.
[viii] Marcela Goldmacher. Op. cit., p. 124.
[ix] Eulália Maria Lahmeyer Lobo e Eduardo Navarro Stotz demonstram que o emprego de crianças foi uma estratégia recorrente em diversos segmentos industriais, desde os anos 1870; nas fábricas de luvas, de cigarros, de chapéus, de flores artificiais e sobretudo no trabalho a domicílio de variados ofícios. In: Formação do Operariado e Movimento Operário no Rio de Janeiro, 1870 – 1894. Estudos Econômicos. São Paulo, Nº 15, 1985, pp. 57 – 60.
[x] Stanley Stein. Origens e Evolução da Indústria Têxtil no Brasil (1850 – 1950). Rio de Janeiro: Campus, 1979, p. 66.
[xi] Idem.
[xii] Idem, p. 68.
[xiii] Idem, p. 69.
[xiv] Idem, p. 27.
[xv] Luiz Felipe de Alencastro. Proletários e escravos imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio de Janeiro, 1850-1872. São Paulo-USP. NOVOS ESTUDOS, nº 21, 1988, p. 40.
[xvi] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 33.
[xvii] Maria Odília S. Dias. Nas Fimbrias da Escravidão Urbana: negras de tabuleiro e de ganho. Estudos Econômicos, São Paulo, Vol. 15 (Nº Especial), 1985, p. 93.
[xviii] Jacob Gorender. Questionamento sobre a Teoria Econômica do Escravismo Colonial. Estudos Econômicos, Nº 13, Vol.1, 1983, p. 15.
[xix] André Amaral de Toral. A participação dos negros escravos na guerra do Paraguai. São Paulo-USP. Estudos Avançados, 24, 1995, pp. 291–2.
[xx] Ricardo Salles. Guerra do Paraguai: escravidão e cidadania na formação do Exército. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 55.
[xxi] Para uma visão geral do emprego dos trabalhadores e trabalhadoras escravizados(as) no contexto urbano durante o período escravagista pode-se consultar o capítulo “Escravidão Urbana”, de Jacob Gorender, do livro O Escravismo Colonial. São Paulo: Editora Ática, 1985, pp. 472 – 489 e também o estudo de Hebe Maria Mattos de Castro. “A escravidão fora das grandes unidades exportadoras”. In: Ciro Flamarion Cardoso (Org). Escravidão e Abolição no Brasil: novas perspectivas. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, pp. 32–46.
[xxii] Eulália Maria Lahmeyer Lobo e Eduardo Navarro Stotz. Op. cit., p. 57.
[xxiii] Luiz Felipe de Alencastro. Op. cit., p. 38-9.
[xxiv] Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi. História da Indústria e do Trabalho no Brasil. São Paulo: Ática, 1991, p. 92–3.
[xxv] Idem, p. 93.
[xxvi] Luiz Carlos Soares. A indústria na sociedade escravista: um estudo das fábricas têxteis na região fluminense (1840-1880). Travesía – Revista de História Económica y Social. Vol. 17, Nº 1, 2015.
[xxvii] Stanley Stein, op. cit., p. 68.
[xxviii] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 24.
[xxix] Jacob Gorender. O Escravismo Colonial. São Paulo: Editora Ática, 1985, p. 484.
[xxx] Stanley Stein. Op. cit., p. 67.
[xxxi] Carlos Molinari Rodrigues Severino. Mestres estrangeiros; operariado nacional: resistências e derrotas no cotidiano da maior fábrica têxtil do rio de janeiro (1890 – 1920). Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2015, p. 104 e 108.
[xxxii] Eulália Maria Lahmeyer Lobo e Eduardo Navarro Stotz. Op. cit., p. 58.
[xxxiii] Luiz Carlos Soares. Op. cit., p. 59–60.
[xxxiv] Eulália Maria Lahmeyer Lobo e Eduardo Navarro Stotz. Op. cit., p. 58.
[xxxv] Idem, p. 59.
[xxxvi] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 137.
[xxxvii] Stanley Stein. Op. cit., p. 69.
[xxxviii] Luiz Carlos Soares. Op. cit., p. 69.
[xxxix] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 157.
[xl] Stanley Stein. Op. cit., p. 69.
[xli] Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi. Op. cit., p. 135.
[xlii] Francisca Nogueira de Azevedo. Op. cit., p. 45.
[xliii] José Sérgio Leite Lopes: “Fábrica e Vila Operária: considerações sobre uma forma de servidão burguesa.” In: Mudança social no Nordeste – a reprodução da subordinação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 45.
[xliv] Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi. Op. cit. p. 136.
[xlv] Idem, p. 135.
[xlvi] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 229.
[xlvii] DECRETO Nº 1.313, DE 17 DE JANEIRO DE 1891. Disponível no link: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1313-17-janeiro-1891-498588-publicacaooriginal-1-pe.html
[xlviii] Pedro Paulo Lima Barbosa. O trabalho dos menores no Decreto 1.313 de 17 de janeiro de 1891. Revista Angelus Novus, Vol. 10, 2016, p. 65.
[xlix] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 230–1.
[l] Isabelle Cristina Pires e Paulo Fontes. Op. cit., p. 19.
[li] Idem, p. 20.
[lii] Everardo Dias. História das lutas sociais no Brasil. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977, p. 46.
[liii] Idem.
[liv] Isabelle Cristina Pires e Paulo Fontes. Op. cit., p. 26.
[lv] Jacob Penteado. “Os pequenos mártires da industrialização”. In: Belenzinho, 1910 (retrato de uma época). São Paulo: Carrenho Editorial / Narrativa-Um, 2003, pp. 100 – 108.
[lvi] Correio da Manhã, “Agitação Operária”, 17 de agosto de 1903, p. 02. Link: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_01&pasta=ano%20190&pesq=&pagfis=4410
[lvii] Correio da Manhã, “Agitação Operária”, 23 de agosto de 1903, p. 02. Link: https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=089842_01&pagfis=4444
[lviii] Francisca Nogueira de Azevedo. Op. cit., p. 125.
[lix] Pausilippo da Fonseca. “A Vitória da Fome – Romance Socialista” (Capítulo VI). Correio da Manhã, 27 de outubro de 1911, p. 6. Link:
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_02&pasta=ano%20191&pesq=&pagfis=6853
[lx] PETIZADA GREVISTA. Correio da Manhã, 27 de agosto de 1903. Link: https://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_01&pasta=ano%20190&pesq=&pagfis=4468
[lxi] Elisabeth von der Weid e Ana Marta Rodrigues Bastos. Op. cit., p. 83.