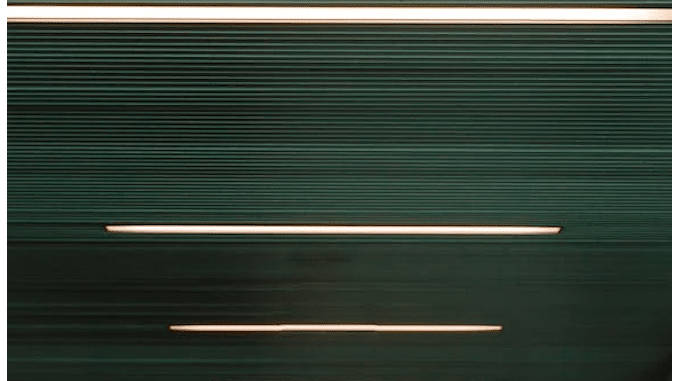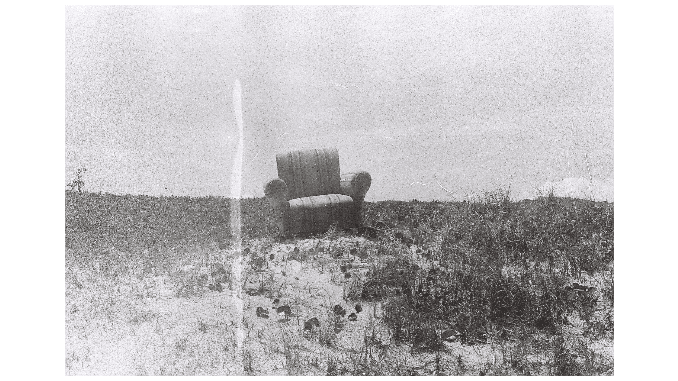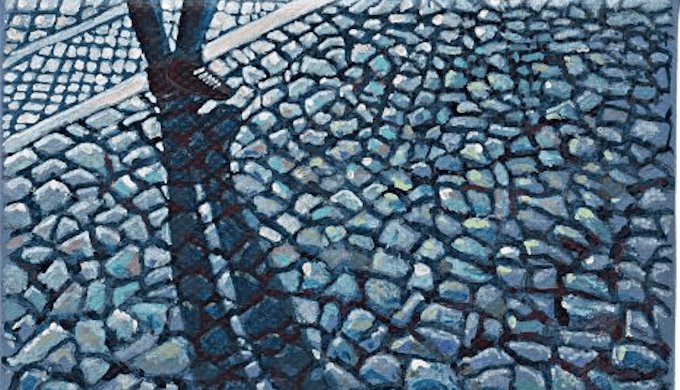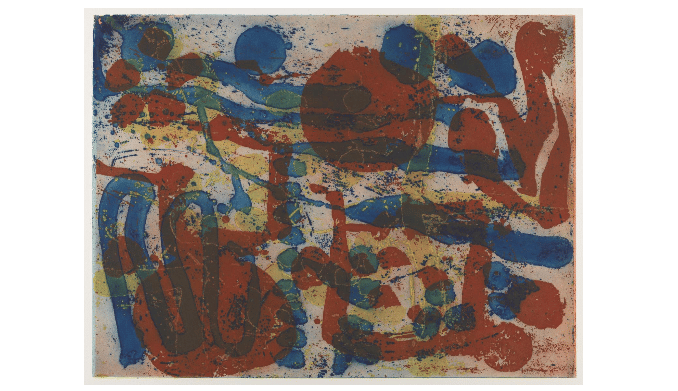Por Eugênio Trivinho*
Resposta à necropolítica neofascista: comunicação, política e ética em tempos de ameaças espalhadas
We believe there was once a color like gray but it wasn’t very serious and escaped into the wind.
Paul Violi (2014, p. 27)
A pena é a minha última espada.
Yi Sáng, poeta coreano
(apud IM, 1999, p. 11)
Prólogo
Evidências há muito espalhadas sinalizam que o pensamento de oposição no Brasil, tal como ele se expressa no âmbito político, acadêmico, cultural e jornalístico do espectro de esquerda (para usar um termo incrivelmente revigorado, como referência de posicionamento e ação), necessita realizar urgente deslocamento de visão – estrutural, profundo e conjunto – acerca do enfrentamento estratégico da realidade nacional atual. Esse deslocamento implica alçar-se ao macroplano social-histórico de um combate híbrido e uníssono mais grave, intenso e de cauda longa. Mais de doze contados meses de periclitante repaginação neoliberal do Estado brasileiro apenas robusteceram a urgência dessa tarefa multilateral. Diversas vozes politicamente sensíveis têm chamado a atenção para ela, dentro e fora da esfera parlamentar e das Universidades, especialmente na imprensa digital alternativa e progressista, de radar aberto e mais inclusivo. Se esse fato aplaca a originalidade da ênfase ao referido chamamento, novo pode, no entanto, ser o modo argumentativo de ressignificá-lo, no devido diapasão social-histórico, em compatibilidade com justificativas mais definidas para a premência da causa. A reflexão a seguir é uma contribuição nesse sentido, equacionado na construção coletiva e paulatina de um horizonte antifascista, como forma de defesa incondicional da democracia como valor universal.[1] O estudo escova, na contramão, todas as formas de desencanto (em particular a niilista), as análises apressadas e/ou vacilantes, as convicções petrificadas na renitência antigregária e, sobretudo, o entreguismo pessimista a priori. Em razão do contexto, o pessimismo, de par com os três primeiros fatores, constitui dádiva prévia e incondicional a um adversário perigoso: serve-lhe jantar farto, em endereço, mesa e horário por ele determinados – o gesto serviçal, a cabeça baixa –, tendo na bandeja oxidada os direitos históricos bem temperados de todas as multidões traídas.
Tanto por tanto, daí se acachorraram mais em nós,
por beber vinganças.
Guimarães Rosa (2001, p. 84)
Há algumas décadas, o indizível delírio de extrema direita de um brasileiro ressentido, hoje já sênior, residente no estado norte-americano da Virgínia, deflagrou, de forma silenciosa, guerra narrativa e pragmática contra todos os segmentos de esquerda (ortodoxos e heterodoxos, filiados a partidos políticos ou não, com ou sem mandato) paranoicamente identificados como contrários ao modelo econômico de status quo, vigente há mais de 200 anos. Enquadram-se, na “escala cultural” desse alvo uma linhagem civil significativa de militantes de movimentos sociais e partidos, trabalhadores urbanos e rurais, sem-teto e sem-terra, estudantes, artistas, intelectuais, sindicalistas, professores, pesquisadores etc. e, com eles, todos os direitos sociais, civis e políticos, trabalhistas e previdenciários, reconhecidos pela Carta Constitucional de 1988 – direitos que todas as formas de oposição ao status quo jamais se cansarão de representar com genuíno brio. Obviamente, o alvo tem, no limite, propensões físicas; e, nesse caso, no centro da mira, estão corpos seletivos.
Roubando teses fundamentais de Antonio Gramsci, a extrema direita bolsonarista, tão inculta quanto violenta, inspirada na toada alucinatória do pseudoavatar da Virgínia, também inseriu, estrategicamente, essa guerra no registro da cultura, encarada do ponto de vista socioantropológico. O vetor político (ou, se se quiser, mais precisamente, micropolítico e nanopolítico, nas filigranas mais redutíveis e informais da vida cotidiana) é apenas um ingrediente estrutural dessa abordagem – prioritário, mas apenas um ingrediente. A cultura como circunscrição bélica de disputas diuturnas e capilarizadas em todos os setores sociais reescalona-se, assim, ao nível do processo civilizatório, com consequências moral-pragmáticas progressivas, a começar pelos dias que correm.
Não por acaso, com passadas mais rápidas nessa direção, esses neofascistas, costurando populismo caudilhista, arrastão emocional e imediatismo histórico, apoiaram a direita brasileira corrupta (e desesperada por autodefesa) a travar batalha de vida ou morte em 2016, no perímetro de um golpe executivo-parlamentar-judicial, visando obter o controle do poder político federal; ampliaram eleitoralmente esse poder em 2018, com aparelhamento de toda a principal máquina estatal, e agora estagiam no aprofundamento administrado e em rede de todas as capilaridades multissetoriais em expansão.
Em palavras preambulares, esse é o estado da arte operacional – estado de exceção – do “progresso neofascista” no Brasil, sob o tônico influxo de ventos similares provenientes da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina: a partir do final desta década, a extrema direita, em arco aberto de concitação lesiva, com fissuras internas ou não, deverá intensificar ações para realizar, de forma coronelista, nepotista e fisiológica, todo tipo de disputa moral-fundamentalista na dimensão da política, oficial e não, em todos os escalões, bem como para espalhar a tal “guerra cultural” e tirar absoluto proveito dela em matéria de ocupação alargada de espaços possíveis: das igrejas pentecostais à “Bancada da Bíblia” no Congresso Nacional e nas Câmaras estaduais e citadinas [religião]; da governança federal quadrienal (subcolonizada por interesses norte-americanos) à consolidação do Estado neoliberal, “enxuto” e socialmente indiferente [política]; dos grandes conglomerados de mídia conservadora ao marketing ideológico rasteiro [comunicação de massa]; das redes sociais reacionárias e milicianas (sobretudo em contextos audiovisuais) à robotização online e à algoritmização facilmente influenciável [cultura digital]; da parcialização político-religiosa do aparato judiciário à judicialização policialesca e espalhafatosa do sistema eleitoral [magistratura (sob a distorção antirrepublicana da lawfare)[2]] e das megacorporações nacionais e estrangeiras ao sistema financeiro parasitário [economia].
O transcurso do tempo conspirou para multiplicar os segmentos da lista, que o dever analítico, exigindo fôlego dobrado, faz ver que, por idênticas extremidades simétricas, estendem-se da ameaça homicidária ao Sistema Único de Saúde (SUS) à corrosão hedionda (já consumada) da Previdência [bem-estar social]; da politização partidária do sistema escolar (com a falácia do “ensino sem ideologia”, lido na dissuasão “escola sem partido”) à escabrosidade privatista “Future-se” [educação]; da estigmatização aviltante e desdenhosa (como nunca vista no país) das Universidades à subqualificação do investimento em pesquisa e inovação [ciência]; do engavetamento federal da reforma agrária à anulação nacional dos direitos indígenas [terra]; do apoio indiscriminado a milícias paraestatais (“oficializadas” para “combate” ao crime organizado e ao tráfico de entorpecentes) à barulhenta “Bancada da Bala” no Parlamento e à militarização cotidiana da população [segurança pública]; da insolência em relação à legislação contra o racismo, a homofobia e a xenofobia à apuração distorcida de violências contra índios, afrodescendentes, mulheres e integrantes das comunidades LTBTI [gênero]; da liberação descomedida de agrotóxicos ao novo empuxe vendilhão – madeireiro, minerador e garimpeiro –da Amazônia e outras reservas naturais, com autorização oficiosa para desmatar e, se necessário, assassinar [meio ambiente], assim por diante.
No horizonte-limite dessa “guerra cultural” de desmantelamento sistemático de direitos reconhecidos pela Constituição e por legislações específicas, constitui ingenuidade política o esquecimento de que a simples existência corporal dos opositores (e até dos não-alinhados) é, para o neofascismo, presença non grata no mundo. A existência ideológica de mentalidades distintas tende a tornar-se cada vez mais inimiga pública prioritária, objeto de humilhação por todos os modos cínicos e irônicos de autoritarismo (galhofeiro ou não), de “fachada democrática”, enquanto milhares de assassinatos por ano – de lideranças indígenas e das comunidades LGBTI, militantes antirraciais e ecologistas etc. – grassarão sem qualquer visibilidade nos media de massa, sob leniência ou omissão contínua das instituições (a começar pela circunscrição das Prefeituras), fora das estatísticas oficiais e sob o aplauso odiento dos “bandos virtuais” de extrema direita. A experiência histórica jamais escondeu que os neofascistas poderão vir “para cima” – fisicamente – de todas as esquerdas (e não somente em ambientes parlamentares e universitários) quando não tiverem mais possibilidade de quórum assegurado em votações republicanas, que tanto abominam, e isto até fazer sangrar de morte o jovem e frágil tecido das regras democráticas minimamente consolidadas no país, a partir dos escombros da ditadura civil-militar-empresarial, no final do século passado, em especial no período entre 1995 e 2016.
Esses rápidos tracejados demarcam e projetam situação histórica resiliente, tão lenta quanto insidiosa, sob a conjetura, infelizmente, de inúmeros embates – eventual manancial incivilizado de flagelos imprevisíveis (materiais e simbólicos). Entretanto, não foram eles, os odientos, os facínoras, seus asseclas e aduladores que o quiseram – assevera a prudência antifascista convicta –, com as agressões discursivas e procedimentais continuamente perpetradas, dentro e fora da Web, faca em riste?
II
Machine-gun posts defined a real stockade.
There was that white mist you get on a low ground
And it was déja-vu […]
Seamus Heaney (2014, p. 80)
O rochedo fala:
Se tu procuras o fogo ei-lo aqui
François Cheng (2011, p. 77)
Salvo discernimento mais consistente em contrário, ao campo diversificado das esquerdas (caracterizado adiante), juntamente com as forças democráticas mais simpáticas ao centro do espectro político tradicional (com gravitação ou não em disputas eleitorais em todos os escalões do Estado), restará, assim – para não serem vítimas de tentativa de uma higienização sociopolítica sem precedentes –, o dever histórico do revide em bloco procedimental e coeso, mediante qualificação consensuada de todos os terrenos de resposta possíveis – o espaço sociofragmentário da “contraguerra” diária, dizem os mais pressurosos –, intensificando-a estruturalmente no registro que os neofascistas escolheram: o dos ideais civilizatórios projetados para a posteridade.[3]
A meta explícita da “guerra cultural” não é a “reconstrução” da “nação” (esta, na verdade, é apenas um meio), mas a colonização ideológica permanente do futuro a partir de uma invasão discursiva majoritária, peremptória e repetitiva – como antes apontado – em todos os espaços no presente. Os neofascistas, dos graúdos aos aparentemente ínfimos, têm de ser democraticamente derrotados, um a um, no prazo mais breve possível, para que seu potencial político e moral definhe e eles não venham a cumprir a promessa em curso: infestar maciçamente o amanhã. Da máxima desidratação eleitoral urgente de sua ascendência sedutora e oportunista sobre o imaginário das classes médias e populares depende a redução substantiva desse risco estrutural. Um dos tablados principais da guerra, nos suspiros titubeantes da democracia no país, é a teia multimediática constituída por todos os canais estratégicos (de massa e digitais) de participação e expressão.
Por coração e tonalidade de esgrima, a alma progressista das forças de esquerda tem muito a dizer e a fazer nesse horizonte. Foram elas que, com destemida pressão em favor das liberdades políticas e civis (jamais redutivas à liberdade econômica), construíram o ocidente republicano, nas condições históricas mais inóspitas, enfraquecendo os agrupamentos conservadores e reacionários, bem como os laços com modelos políticos de antigos regimes. Não será agora que uma horda de incultos conservadores e reacionários, com arroubos patriarcais caricatos numa região tropical cujas elites insistem em mantê-la selvagem, colocará fim a uma milenar e transnacional destinação irrefreável contra todos os modelos de statu quo atrelados à produção incessante da iniquidade.
Que o cadinho de potência prioritário dessa mensagem seja o campo das esquerdas (e não o difuso espectro tradicional de centro-esquerda, vedados os oportunismos) não carece – já pela larga sinalização acima – de explicação e justificativa extensas. Desde antes da emergência do capitalismo industrial como sistema econômico, as esquerdas representam, no Brasil e na América Latina, a autêntica pulsação política de contradito – em plano tanto sociofenomenológico quanto discursivo-praxiológico –, na qualidade de motor primacial de desafios à ordem das coisas. Mesmo com energia histórico-teleológica amplamente arrefecida para a superação do existente em bloco, são elas, ainda, sem dúvida – pela convicção de alma humanitária –, a depositária fundamental da confiança política e ética de realização da tarefa (inaugural e contínua) de alastramento da disposição antifascista. Elas se configuram socialmente como amplo âmbito político e cultural, tão horizontal quanto internamente matizado, com pulsão e influência esparramadas por artérias e nervuras das metrópoles, cidades e vilas, em sulcos entrecruzados, hoje fundidos com as redes digitais.
Esses apontamentos são suficientes para destacar que, a rigor, as esquerdas, conforme aqui entendidas, preservam forte natureza política stricto sensu (ligada a partidos políticos), mas não são cativas desse importante derredor, de embate convencional e pendores disputativos predominantemente em torno dos escalões executivos e parlamentares do Estado. As esquerdas merecem ser pensadas no caminho e/ou sob o prisma de uma semântica mais rica e abrangente, como potência de oposição imanente e socialmente orientada – de reserva a priori, por descontentamento ético, político e/ou cultural estável, e/ou de suspeita a posteriori, expressa no espírito coerente de contestação justificada, com a coragem permanente da recusa (total ou ponderada, radical ou flexível) –, em todos os setores de atuação humana: elas se alongam dos movimentos sociais aos partidos instituídos e agremiações não-legalizadas, dos diretórios de estudantes aos sindicatos de trabalhadores, de ONGs a entidades de categorias profissionais, tanto quanto entremeiam o campo da ciências e das artes, recortam religiões e laicismos, animam projetos editoriais, análises críticas em economia e alternativas pedagógicas, e assim por diante.
O aspecto mais importante dessa dilatação de entendimento é o espírito e/ou propensão de oposição. As esquerdas políticas vêm-se abrangidas nesse diapasão. Longe, portanto, de constituir mera metáfora recobrada, atinente a entidade metafísica ou abstrata por preservação proposital de caro significante, a referência inegociável das esquerdas, no afluxo das ruas às redes e vice-versa, é o posicionamento concreto de contradito consciente e inventivo (programático ou não, doutrinário ou não) em relação aos fundamentos e consequências dos modelos macroirracionais e produtores de desigualdades socioeconômica na civilização tecnocapitalista tardia, o que abrange todos os regimes políticos obscuros, de cariz autoritário, seja fascista ortodoxo, seja de feitio alternativo e concorrente, instalado nos escalões do Estado e/ou corporativos, a começar por sua manifestação mais próxima. Esse redimensionamento semântico honra pilares formais de oposição pregressos e realiza o diálogo entre eles e o futuro do antagonismo e da contestação (hoje nas e com as redes comunicacionais), sem omissão quanto à necessidade premente de reinvenção do segmento político-partidário de esquerda. (Ninguém, de toda forma, precisa dizê-lo: no frio chão do autorreconhecimento mais profundo, ela mesma sabe que precisa abraçar imaginários heterodoxos na confluência entre pulsões micropolíticas, senão também nanopolíticas, paralelas ao Estado, e macrorredes de afeto e diversidade anticonservadoras, que, alocadas em novas ruas e corredores emergentes, há muito não desembocam mais necessariamente nas mesmas praças urbanas, nem disputam os mesmos objetos políticos e sociais.) O alargamento da compreensão proposto envolve, por evidente, uma legião infindável de pessoas sem cadastro em partidos políticos.
O protagonismo de vertentes representativas dessas forças de oposição espargida – lembre-se – impele (e, às vezes, inflama), no conjunto, movimento e oscilação importantes na história, embora hoje desprovidos de vigor dialético, em meio a formas tão diversas e simultâneas (materiais e imateriais) de acumulação, investimento, preservação e transmissão de capital econômico dentro do próprio capitalismo, insuflado pelo desenvolvimento acelerado de conhecimento científico e tecnológico. Essa função quase autopoiética de oposição encerra, em seu cinturão socialmente fragmentado, o epicentro principal da possibilidade de tateio nos magmas mais sensíveis da vida política de uma sociedade. Nenhum status quo resta ou pode restar sem esse contradito imanente, sob pena de necrosar mais facilmente em totalitarismo, explícito ou ocluso.
Tal condição de oposição precisa ser amplamente otimizada, tanto em natureza sociotecnológica quanto em eficiência política e reverberações históricas; remanesce ainda por ser mais bem articulada e reforçada à vista das ameaças já anunciadas. Sob lastro em seu conteúdo de resistência propositiva, uma de suas qualificações estratégicas essenciais é, sem dúvida, a mais elementar (e, por incrível que pareça, dificultosa): a sua autocomposição em feixe inextricável e estendido – a união de todas as suas forças internas, representativas de seus estratos, categorias ou vertentes mais disponíveis e pró-ativos. As forças progressistas simpatizantes, similarmente autossituadas no cinturão regular de alguma oposição, participam desse processo de desafio à ordem das coisas quando elegem para confronto prioritário as tendências políticas, econômicas e/ou culturais que, sejam voluntárias, estejam desavisadas, caucionam abraço (direto ou indireto) a todo tipo de miséria humana e abandono da alteridade, bem como ao congelamento das providências políticas para superar essa situação, por via do Estado como por via de organizações em conexão com ele.
Por certo, o princípio bélico extremo-direitista introduz todas as forças de oposição, especialmente as de vertente partidária e sindical, num dilema a rigor inconcebível sem a devida decisão a respeito sobre se se deve entrar ou não nos espaços da tal “guerra cultural”, fazer ou não o jogo dos verdugos e facínoras, no xadrez arrogante e duelista que demandaram. Quando Hitler forjou, entre as décadas de 1920 e 1930, a guerra de expansão ariano-europeia, o mundo democrático, seguindo resistência secular sob o crivo vital da autodefesa legítima e necessária, não hesitou em dar-lhe a resposta merecida, em contrarrepressão militar à altura da conflagração unilateralmente desencadeada por invasões a outros países. Somos todos filhos e filhas dessa epopeia histórica de coragem fatal, que optou por zelar pela liberdade até mesmo no capitalismo, na aventura acertada de evitar atmosfera humana indubitavelmente pior. A história testifica a raridade de povos ou povoados que, ao serem ameaçados e postos em dilema idêntico, optaram por não reagir e desproteger seus pares, abrindo guarda suicida para a destruição cabal de sua própria história e identidade.
A “guerra cultural”, reacionária em tudo, será majoritariamente travada em terreno simbólico-discursivo, ainda que há muito conheça efeitos constrangedores e/ou coativos – muitas vezes, criminosos – no mundo prático. Está longe, porém, de tratar-se de confronto light: sua pólvora aguerrida tem engendrado mortes físicas todos os dias (conforme apontado, de índios, negros, mulheres, integrantes das comunidades LGBTI, pobres, “periféricos”, militantes, e assim por diante), de forma espalhada e sem estatística oficial atinente.
A rigor, estilhaços no campo político-partidário de esquerda – egressos de contendas legítimas, mas hoje certamente em lugar e hora inconvenientes – e o não reescalonamento da visão estratégica ao patamar de uma disputa micropolítica sem deadline não nutrem senão o canhão rival. Nunca como agora, na situação impensável de uma extrema direita burlesca e eleitoralmente vitoriosa, tornou-se tão patente o quanto a continuidade do divórcio ou conflito entre as lideranças e forças progressistas de esquerda é amplamente providencial ao próprio sinistro a ser dissolvido. O adversário, sempre irrequieto, torce, com dedos cruzados na testa do demônio, pela fragmentação permanente das frentes que lhe são contrárias. A gravidade histórica do presente, em ferida sem calcificação à vista, precipita a premência de uma articulação multilateral e estável diante do pantanoso abismo a ser galgado. Nas casas parlamentares como nas praças públicas e redes virtuais, a tarefa requer o conjunto das forças de oposição antifascista, com apoio sempre atento de instâncias solidárias da comunidade internacional, comprometidas com a defesa incondicional dos direitos humanos, sociais e civis, em particular com a liberdade de pensamento, expressão e organização.
No mais, essa união estratégica obedece a traço estrutural simultâneo e fundamental do problema: ela se justifica tanto mais porque a monumental crise na dimensão política do país representa, nas honrarias de um desafio histórico a queima-roupa, a chance – não se deve esquecer – de reinvenção, no quanto possível, da própria democracia, a partir de seus escombros.
III
A resposta à “guerra cultural” deve, antes de tudo, atender à logística da circulação de significantes e significados. Essa tarefa paradoxal compreende escolha meticulosa de palavras.
Por mais que as democracias contemporâneas tenham sido esculpidas a partir de duas longas guerras tecnológicas e mundiais – o nazifascismo teria grassado para além da Europa não fossem as forças ocidentais aliadas na última delas –, constituiria procedimento político-estratégico e sígnico-procedimental ingênuo, além de fácil (a bem dizer, de matrícula em curso elementar de contranarrativa em contextos de conflito social agudo), servir-se, a pretexto de revide à altura, de uma terminologia que muito agradaria ao gosto e ao jogo ladinos do adversário – por exemplo, utilizando-se a palavra “contraguerra” ou, mais exatamente, “contraguerra antifascista” ou similares. Qualquer prudência estratégica minimamente autoconsciente de sua real falibilidade vê-se em apuros tanto mais raso seja o plano de abordagem. Em atmosfera açodada por propensões de guerra – do céu aberto a recintos seletos, das ruas e redes aos parlamentos, e rota inversa –, as práticas políticas e, especificamente, as micropolíticas e nanopolíticas, tão afeitas a faíscas e incêndios semânticos (o que radica na espuma abissal do significado), precisam somar inteligência de escala, nutrindo-a com marcadores de estrutura, não somente com ingredientes de conteúdo (o que as remente ao perímetro dos significantes). Sob tal arco, prevalecem as métricas e funções de tabuleiro, não as peças do xadrez; valem mais os pilares normativos do jogo, não o jogo propriamente dito; mais os princípios, não a empiria.
As razões são evidentes e sua explanação, relativamente serena: a “guerra cultural” dos neofascistas liga-se, do atacado ao varejo, a uma necropolítica sistêmica e, obviamente, à racionalização institucionalizada, mediática e estetizada do ódio obliterado (inconsciente e/ou inconfesso) como leitmotiv no âmbito das práticas e interações políticas cotidianas. Os cinco blocos temáticos subsequentes detalham os fundamentos dessa perspectiva.
IIIa
E no entanto morre quem não come, e quem não come o suficiente
Morre lentamente. Durante os anos todos em que morre
Não lhe é permitido se defender.
Bertold Brecht (2000, p. 73)
A tal “guerra cultural”, desde a sua absurda concepção até as suas implicações totalmente irresponsáveis, representa, na história recente brasileira, a reconfiguração da violência (em todos os seus tipos, não somente a simbólica) como necropolítica neofascista[4], catapultada – conforme visto – ao plano macrossocial do futuro do país.
Grosso modo, a necropolítica (do grego nekrós, relativo a corpo morto, cadáver), aqui tomada em semântica ampliada, nomeia o conjunto socialmente articulado e descentralizado (isto é, sem centro condutor) de técnicas de administração do Estado e da sociedade no qual e pelo qual a contabilidade (programada ou osmótico-aleatória) da morte em determinados estamentos da população, com evidência para os mais pobres, sobretudo negros, constitui, de maneira explícita ou não, uma das vigas matriciais do exercício do poder. A ciência necropolítica ou necropolitologia, por sua vez, estuda os modos pelos quais o valor articulatório da morte ou a dança das forças tanáticas (de Thanatos, deus grego do ramo) se insere na administração do Estado e da sociedade, quer dizer, em linguagem biopolítica, a função estrutural das formas de produção e manifestação de óbitos (materiais e simbólicos) no governo dos viventes distribuídos em determinado território.
A necropolítica, como soe ontologicamente com todos os fenômenos e processos, apresenta dois planos espaço-temporais: um, estrutural, atinente às suas manifestações no fluxo da história e no solo dos países em particular; e, outro, conjuntural, ligado ao modo e à intensidade pelos quais esse tipo de política se configura localmente e a cada época. Confundindo instância de governo e instância de Estado num feixe promíscuo de princípios institucionais de fundo e práticas executivas, legislativas e mediáticas no atacado, a necropolítica costura, no plano macroeconômico, os elementos socioestruturais e financeiro-conjunturais que lhe interessam e sustentam.
Em geral – tanto mais nas últimas décadas – ela subordina a produção e a distribuição da riqueza social à prosperidade do capital improdutivo com função sistemicamente parasitária (rentista) e, portanto, tímida em termos de apoio ou investimento em políticas de geração de empregabilidade formal e renda regular. Concentrando a posse da riqueza produzida nas mãos de poucas famílias ou indivíduos, ela engendra segregação geopolítica socialmente endógena ao prever ocupação desigual do solo citadino, com territórios de opulência separados dos bolsões de miséria e pobreza.
Sua consolidação, ainda que descarte concepções conspiratórias de origem para operar prioritariamente como sociodinâmica estrutural fundada na administração da indiferença como política implacável, envolve incremento de dificuldades socioeconômicas para a maioria da população, em especial nos estratos depauperados e desprotegidos: achaca, por rateamento extensivo e comparativamente indefensável, impostos aos estratos mais desfavorecidos, enquanto isenta ou subtributa as grandes fortunas e as heranças transmitidas nos estratos afluentes; e majora preços de bens básicos à suficiência da vida coletiva e à formação satisfatória da cidadania (alimentos, remédios, escola, creches, bens culturais, esporte etc.). A pauperização progressiva que ela promove multiplica, como algo “natural”, a miséria nômade nas cidades – objeto de política de gentrificação agressiva em épocas determinadas (como a de megaeventos esportivos, em que milhões de estrangeiros são aguardados para incremento à indústria do turismo e ao comércio) –, bem como alarga ad infinitum o perímetro da pobreza sedentária em zonas periféricas. A esculturação dessa realidade inóspita força, em termos etários, a necessidade de ingresso antecipado em atividades laborais voltadas para a sobrevivência, estriando severamente o caminho de milhões de crianças e adolescentes rumo à aquisição do padrão normal de formação educacional posteriormente requerido pelo próprio mercado de trabalho.
Além de modular dessa forma as trajetórias sociais, grupais e individuais de acesso à moradia qualitativa, aos hospitais equipados, à mobilidade urbana, ao saneamento básico, à educação superior, os centros tecnológicos de lazer e assim por diante, a necropolítica ataca o sistema previdenciário ou deprecia o seu valor socioestrutural ao adiar a proteção legal do Estado à maioria dos cidadãos vis-à-vis ao contrair o período de vida sob o usufruto desse direito adquirido; superelitiza o acesso a planos básicos de saúde e a programas de previdência privada; implementa políticas de segurança pública sem contrapartida de investimento no sistema escolar, sob o pressuposto populista e imediatista de que o fortalecimento da repressão policial ao tráfico de drogas e ao crime organizado nos estamentos pobres representa não racismo institucionalizado, mas solução legítima urgente, cobrada pela maioria dos “cidadãos de bem”, definidores de sufrágios; e condescende com (quando não, protagoniza) a assepsia social da oposição ao establishment mediante previsão oficiosa ou informal de assassinatos de líderes e militantes políticos ou simplesmente não computando ou investigando tais mortes. À parte seu crivo estrutural, a necropolítica soa sempre mais evidente e tétrica quando se reveste de componentes éticos e fundamentalistas e elegem determinados grupos sociais para serem objetos de sua movimentação obituária.
Inexiste necropolítica protagonizada ou mediada pelo Estado sem lastro histórico prévio, na modalidade de uma necrocultura apoiada (espontânea ou tacitamente) no sistema de vida de parcela significativa da população, seja por atuação discursiva voluntária (verbal ou não-verbal), seja por hábitos inquestionáveis desde tenra idade, reforçados ao longo do processo de socialização e de educação (na família como no âmbito escolar) e reconfirmados nas e pelas práticas de consumo e lazer.
Igualmente, não custa registrar – a essa altura, a título de afirmação de evidências históricas – que a dinâmica social do capitalismo, em quaisquer de suas fases, se deixada solta a interesses selvagens de mercado, sem a mediação mínima de um Estado socialmente orientado e complementado por organizações da sociedade civil alinhadas a valores democráticos, já é, por sua própria natureza, necropolítica. Essa propensão constitutiva – de interesses acesos no plano local, empírico e imediato, mas totalmente cegos em escala macroestrutural (de reverberações nacionais e internacionais) –, não somente se calcifica, senão ainda acelera resultados funéreos quando a política que regula o Estado se molda segundo idênticos fundamentos necropolíticos, direcionando-se para cumpri-los na qualidade de única verdade, como no caso do neoliberalismo. Mais além, aliás, reconheça-se, se se quiser, falha pouco quem, ciente das múltiplas franjas do conceito, queira asseverar que a necropolítica é, na verdade, mais antiga do que se imagina, transcendendo, em longa retroação no tempo, a experiência capitalista na história: a necropolítica precede, desde terreno bárbaro, a antiguidade guerreiro-expansionista, costura estruturas feudais e imperiais mundialmente esparramadas, expectora totalitarismos e ditaduras a fio e se instala, como bruma oclusa, no coração insuspeito de democracias modernas até atingir o presente na modalidade processual de neofascismo. Por certo, a apreensão de macroinjunções espaço-temporais mediante reiteração proposital do mesmo prefixo talvez seja um tanto fastidioso, mas jamais falha com a veracidade factual: sob todos os riscos de equívoco analítico sazonal, a categoria da necropolítica, de par com a necrocultura de cujo bucho homeopático viceja, não deixa de, como prisma panorâmico de visão sobre as venturas e desventuras humanas, ressignificar a história até agora especificamente como necro-história.
A lucidez da cultura grega antiga testemunha que a necropolítica, quando não essencialmente plutocrática (do grego ploutos, riqueza, significando “governo pelos mais ricos”), é, ao menos, plutófila ou plutólatra; e, não é errôneo admitir-se, como diziam os antigos, na perspectiva pró-aristrocrática de então, tratar-se, não raro, do que o historiador grego Políbio chamou de kakistocracia (de kakistos, superlativo de kakos, mau, com extensa sinonímia: ignóbil, sujo, perverso, vil, pernicioso, funesto) – em síntese, o poder exercido pelos piores.
A desgraça política, quando autoarvorada ao nível macrossocial e histórico, não economiza feições sinistras: conspira para alargar o infortúnio pelas vias mais tortuosas. A necropolítica contribui – de forma dolosa ou desavisada, não importa – para a geração constante de crises econômicas e sociais por meio do próprio Estado para combatê-las depois, no frigir dos ovos, com o imediatismo das políticas de segurança pública mencionadas, que vitima – vale enfatizar –, com prisões e assassinatos, a população menos favorecida, em geral afrodescendentes.
Conforme se depreende dos apontamentos anteriores, a administração necropolítica implica figuração diversificada da morte programada. As tendências sociotanáticas liberadas abrangem desde mortes sumárias por operações policiais até a forma da morte processada em tempo ultralento, através de segregação geográfica permanentemente combinada com desassistência do Estado, destrato à saúde pública e negação ou negligência previdenciária. No entremeio, comparece a morte simbólica sistemática, como horizonte igualmente prioritário, em duas vertentes: perseguição policial-judiciária, mediática e/ou moral (com forte preconceito operante) ou a privação de liberdade, com encarceramento temporário ou duradouro, legal ou ilegal, com trânsito em julgado ou não.
IIIb
Was it wind off the dumps
or something in heat
dogging us, the summer gone sour,
a fouled nest incubating somewhere?
Seamus Heaney (2014, p. 34)
Esse último aspecto – a morte simbólica – merece desdobramento específico sob o ângulo das relações entre formação social de subjetividades, produção jornalística e realidade lawfare.
Sem outras propensões essenciais, a necropolítica sistêmica forja e entrelaça, de maneira não previamente arquitetada, tanto as formas de subjetividade conforme (ao statu quo) que, em ciclo ontológico-fenomenológico vicioso, correspondem à sua própria reprodução social-histórica, como também o tipo descabidamente coerente de resultado geral de administração do Estado que movimenta e enriquece a máquina noticiosa e publicitária do jornalismo sensacionalista de massa (especialmente audiovisual), focada em latrocínios, assassinatos, dramas familiares e individuais, catástrofes e desastres, perdas emocionais, fatos grotescos etc. – enfim, o espectro alarmante do trágico ou calamitoso reduzido ao desvio da “normalidade da vida”, bem como da exclusão social equacionada à morte (física ou simbólica). Essa estratégia estético-mediática de concentração de desgraças, fatalidades e incertezas num único espaço de produção sígnica (a tela), na modalidade programada de uma subjetivação propositiva de mundo focada em ameaças e perigos aterradores e assim corporativamente oferecida como mercadoria alucinatória específica no reino profuso da mercadoria, volta-se, majoritariamente, cerrando o círculo, para as mencionadas formas de subjetividade socialmente engendradas. O apreço pela metáfora não desautorizaria a veracidade de quem porventura alegasse tout court que a necropolítica nutre, à base de fatuidades incessantes, a comunicação massificada norteada por uma “ideologia de corvo” e que, no entanto, precisa ser, paradoxal e compulsoriamente, aceita na qualidade de exercício legítimo de liberdade de empreendimento e expressão, sob pena inafiançável de se atentar contra a democracia.
Tais injunções contraditórias se entregam tanto mais quando, desdobradas as filigranas, o contexto temático evoca que o jornalismo sensacionalista, em razão de sua encenação discursiva de apelos sígnicos, equivale, explicitamente, a produção simbólica fundamental de necrocultura. Sendo sua beneficiária factual e direta, essa produção noticiosa não somente lhe prestigia os fatos ao acolhê-los para divulgação em massa, como também os reconstrói a pretexto de lhes fazer mera remissão especializada. Ato simultâneo, ele a sustenta dia a dia ao espalhá-la como modelo axiológico normal de visão praticista de mundo.
Com efeito, a imprensa sensacionalista massificada não corresponde a simples adornos estéticos e publicitário-funcionalistas da necropolítica. O aspecto antitético desse ramo noticioso alarmista e espetaculoso se patenteia nos traços complementares da dimensão política de seu desempenho social. Igualmente populista, como toda necropolítica “modernizadora”, ele incorpora, em sua agenda prioritária, a defesa paternalista (e heterossexual) dos estratos mais pobres e vulneráveis contra o que, proveniente da administração pública, lhes compromete a existência mínima. Atento à preservação ampliada da audiência, ele precisa obviamente defender os valores democráticos e a liberdade de opinião, como o ar crucial que respira, a cada notícia, para se autopropor como produto despolitizado de consumo. Essas características, quando tomadas em mosaico, não evidenciam senão que a dimensão simbólica da vida social condicionou a estruturação de um tal estágio ambíguo de armadilha informacional que esse jornalismo necropolítico stricto sensu, como especificidade do projeto histórico-liberal de economia simbólica no campo opinativo, termina por interessar fortemente à própria manutenção da democracia formal, a mesma que, por sua vez, quando ou se instrumentalizada, serve à afirmação da necropolítica.
A expressão “jornalismo necropolítico stricto sensu”, longe de subentender exclusividade de ligação com a necropolítica, tampouco significa que sistemas noticiosos de massa, nacionais e internacionais, tomados em conjunto, bem como modalidades diversas de produção jornalística nesse âmbito subtraiam-se de envolvimento direto ou indireto no processo de constituição ou desdobramento social da necropolítica como sistema. A expressão aspeada, ao contrário, os subentende. Embora também beneficiários dos fatos socialmente gerados pela necropolítica (como soe veementemente acontecer com os veículos ideológicos de extrema direita), os tipos considerados “normais” de produção jornalística (sempre mais audiovisuais que radiofônicos e impressos) – vale dizer, aqueles desprovidos de arroubos verbais, elãs extravagantes e arrojos propositivos, acompanhados por sonoplastia de arrastão emocional para otimizar o arrebatamento dos espectadores – autodissimulam o pendor sensacionalista de sua exposição noticiosa numa performance estético-tecnocrática de pretensa descrição “objetiva”, “neutra” e/ou “isenta” dos fatos.
Nesses casos de menor explicitação de vínculo com a necropolítica, esta realidade multipressionante, no entanto, comparece, ostensivamente, na fermentação mediática e inter-ressonante de uma atmosfera geral lawfare, isto é, de banalização tão abrangente quanto reiterativa de “efeitos de verdade” supostamente inquestionáveis referentes a factoides noticiosos semeados na e egressos da área do Direito, quando a interpretação profissional de princípios constitucionais e legais em nome do Estado se estabelece sob casuísmos hermenêutico-legalistas e distorção oficial do exercício do cargo público. Imersas na bolha social (política lato sensu) criada por essa banalização, no circuito de migração e reprodução noticiosas que oscila dos media de massa aos media digitais e vice-versa, subjetividades espectadoras, diante, por exemplo, de uma concatenação perseverante de ações do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia (civil ou militar), de órgãos executivos e do noticiário diuturno, acabam por receber como perfeitamente normal a exposição mediática seletiva, denunciadora e persecutória (já, em tudo, um julgamento público) de indivíduos isolados ou grupo de pessoas, empresas, entidades ou marcas, como forma “legítima” e antecipada de aplicação da justiça penal – o que, a rigor, caberia exclusivamente à esfera constitucional atinente, em vara e instância judiciais esperadas –, e isto independentemente do efeito colateral (doloso ou culposo) de arruinamento irredimível das reputações envolvidas e, com ele, de distribuição e imposição da morte simbólica, já per se socialmente segregativa.
A realidade sígnica lawfare, de paisagens mediático-noticiosas tendencialmente mais duradouras que esporádicas ou efêmeras, harpejando maciamente o oscilante arcabouço de emoções imponderáveis das massas – ao ponto gradativo de contribuir para a gestação de juízos prévios padronizados e estigmatizantes, bem como de os arrastar de modo indiscriminado e sem consideração a consequências (imediatas ou mediatas) –, conforma aleatoriamente um ambiente social e político forçoso que, na ponta extrema da linha judiciária, tende, malgrado voluntariosos autodiscursos de autonomia indevassável dos julgadores, a colaborar sobremaneira para a condenação populista (temporária ou definitiva) dos sujeitos submetidos a berlinda multimediática contínua. Essa bolha de “efeito de verdade” quase incondicional, hoje beneficiada pelo concurso sine qua non e replicador das redes sociais, se configura de tal forma que qualquer retrocesso decisório a respeito, de tipo absolvente ou pouco exemplar, seria considerado absurdo e contestável por manifestações em praça pública. É assim que, absorvendo de modo sub-reptício e não-planejado funções do Poder Judiciário, a exposição persecutória na visibilidade multimediática converte, sumariamente, simples acusados e investigados, réus ou não – portanto, sem trânsito em julgado em contexto apropriado – em condenados sumários.
A sutileza desse processo social compatibiliza-se com a envergadura macroestrutural de sua ocorrência, em várias mediações, para além da possibilidade de sua apreensão pelo senso comum, no âmbito imediato da percepção cotidiana. Uma interpretação terrestre a respeito insinua, em geral, que os órgãos de imprensa massificada (em todos os suportes) buscam tal colaboração, em razão de vantagens econômicas e ideológicas para a sua sobrevivência como negócio. A realidade, prescindindo de qualquer modus operandi mecanicista ou fácil, salpica complicação adicional naquilo que por si já é difícil de ser socialmente admitido e posto com franqueza na mesa de discussão. A conjetura acusatória a priori de que a grande imprensa de massa, por vocação imanente a arranjar-se conforme tendências estruturais e conjunturais do capitalismo, procura, invariavelmente e sempre voluntariamente, participar do processo sistêmico-necropolítico de produção de morte simbólica via lawfare deve ser, a rigor, tão descartada quanto, na compensação diametralmente contrária, não se pode jamais desprezar este fato de gigantesca monta: a produção espiral contínua do jornalismo de massa, quando apreendida sinteticamente pelo conjunto de reverberações inter-ressonantes de sua operação não-concatenada como multicorredor sociomediático de circulação de reportagens, imagens, vídeos e informações, concorre, de fato, para instaurar, em escala simbólica macroestrutural, o resultado descrito, com prejuízos generalizados para o funcionamento da própria democracia, paradoxalmente projetados em nome dela e em seu favor.
A lawfare, encarada sob essa atmosfera mediática, demonstra que o processo social a que se refere é bem mais vultuoso que a mera mobilização de estratégias do Direito e da legislação vigente para perseguir, mediante instrumentalização do Estado, autoridades, cidadãos e empresas. Sua característica aparentemente legal, nutrida por reiteração noticiosa pantópica (por todos os media, não somente por programas de natureza noticiosa), contribui, por sua vez, para a aceitabilidade mais fluente dos fatos e narrativas no âmbito individual e isolado dos redutos da recepção e consumo. Na urdidura não-conchavada dessas injunções (acidentais ou, pelo menos, não autocráticas, a ponto de se confundirem, no final das contas, com uma casualidade caprichosa e infeliz), a grande imprensa de massa não cobre senão, em ação de agrado culturalmente recursivo, expectativas sociais que ela mesmo contribui para engendrar previamente, sobretudo no estrato das classes de renda mais abastadas.[5]
IIIc
OS DE CIMA
Juntaram-se em uma reunião.
Homem da rua
Deixa de esperança.
Bertold Brecht (2000, p. 158)
I declare that the best man in the world
can become hardened and brutified to such a point,
that nothing will distinguish him from a wild beast.
Fedor Dostoïeffsky (1911, p. 229)
Evidentemente, a dança da morte passou a jogar papel mais acentuado no neoliberalismo semilegalista barganhado pela necropolítica neofascista no Brasil. Caudatária tardia da toada mundial de políticas draconianas de Estado mínimo a partir do início da última década do século passado, essa necropolítica assumiu matizes especificamente fascistas durante e após o processo eleitoral de 2018, por parte seja do vitorioso e de sua equipe, seja por nicho significativo e mais nervoso entre os milhões de seguidores caudilhistas e votantes aleatórios, estes seduzidos pelo desaviso rampeiro do apelo fictício anticomunista.
O espectro da morte, então atiçado, tece, desde bojo axiomático, narrativas e discursos (públicos e reservados, presenciais ou nas redes digitais, sob anonimato ou não) com quatro conhecidos desatinos de barbárie: (a) o racismo notório (do mais cifrado, devido a lei penal vigente, até o mais ostentativo e impune), no carril de posições histórica e tecnicamente infundadas contra as cotas para negros e pardos e em apoio a (ou condescendência com) operações policiais recorrentes e indiscriminadas, com óbitos ou não, dentro de comunidades sabidamente de maioria negra; (b) homofobia convicta, com defenestração arrogante de membros da comunidade LGBTI e depreciação dos avanços na política de gênero (acusada ideologicamente de “ideologia”…); (c) xenofobia velada (mesclada com anticomunismo fundamentalista) contra venezuelanos e cubanos, e (d) misoginia inconfessa ou inconscientemente demonstrada no uso de palavreado rústico, de senso comum patriarcal ou machista, em que a mulher comparece como ente instrumental e inferiorizado, entre outras mazelas simbólicas sintomáticas. Todas essas formas de intolerância protagonista, muitas vezes combinadas, têm – nunca é demais sublinhar – produzido mortes em série, de cômputo diário, de norte a sul do Brasil.
Por certo, na história ocidental, a necropolítica nem sempre foi neoliberal. O neoliberalismo globalizado, entretanto, é, dos fundamentos tecnocráticos ao gargalo megapublicitário, uma necropolítica sistêmica subsumida numa economia política divulgada como visão de mundo séria, competente e socialmente responsável. O bolsonarismo, em sua vertente majoritariamente civil, por seu turno, como movimento populista emergente – ainda com a vaguidão programática que lhe define, ou talvez por isso –, dispõe-se como variação periclitante dessa necropolítica ao hiperanimá-la sob influxos fascistas restaurados. Na esteira de quejandos salientes em outros quadrantes do mundo, o bolsonarismo civil não deixa de ser, açoite em riste, um continuum significativamente reprogramado e escancarado da necrocultura sistêmica forjada no Brasil especialmente no transcurso de 300 anos de escravidão institucionalizada, a última horrenda exploração (material e simbólica), entre similares nos séculos passados, a assumir descaracterização formal (e covardemente lenta) por força de lei, ainda não de todo incorporada e/ou cumprida na profusa linha de eventos de desigualdade constatados desde as interações vicinais cotidianas até as formas de seleção e tratamento regulares em repartições públicas e empresas privadas.[6]
Um vez que a sua potência mortífera tende a levar invisivelmente a óbito contingentes maiores (conforme estipulados em alvos socialmente seletos) no compasso histórico paciente do tempo longo e sob a prerrogativa da instrumentalização estatal dos tributos da população, a necropolítica neofascista não deixa de se corroborar, de fato, como uma sorte de sociodarwinismo tanático instituído e legalizado, mais vagaroso que a sua versão matricial da primeira metade do século XX e, assim, mais afeito a passar, na percepção de senso comum, como tipo de governo “normal”, como “vida” portanto, sem jamais ser percebido como necropolítica – e, como tal, a escapar ileso.
Explicitando lastro mais complexo de fatores conjugados e historicamente mais próximos, a necropolítica do bolsonarismo, mal egressa de uma ditadura civil-militar-empresarial de mais de duas décadas, não por acaso esnoba, com rudeza escandalosa, a Organização das Nações Unidas (ONU) e defenestra, caçoando, os direitos humanos e seus defensores, ao mesmo tempo que condecora torturadores e beneficia policiais envolvidos em ações repressivas e/ou mortuárias.
Nesse particular, é impossível, aliás, não reconhecer, en passant, que o Brasil alcança, a partir de 2019, condição sociopolítica pós-1964 tão inédita quanto paradoxal, na qual gendarmes (civis) de carreirismo oportunista nas hierarquias e dependências do Estado, ocupáveis mediante sufrágio universal ou indicação mandatária, ostentam-se – ao menos do ponto de vista discursivo e formal – mais extremistas do que militares de alta patente, distribuídos nas três Forças e participantes do governo em diversos estratos. O passado de chumbo do país torna, de fato, tal notação bastante problemática, em função das incertezas e riscos imanentes e, por isso, deve ser assentada com cuidado e devido contexto: seja por declarações públicas e/ou linha de conduta que a grande imprensa apura majoritariamente regulares, tais militares graduados, a ver-se cada caso sob ressalva acolhedora de juízo oposto (a começar por certas falas controversas da Vice-Presidência), não têm demonstrado, ao menos formal e abertamente, hostilidade à Constituição Federal de 1988, tanto quanto, com o mesmo significativo ressalto (em que se pode observar preservado o ranço da ameaça anticomunista), deixam de reverenciar verbal e explicitamente o regime republicano e democrático.
Passadas mais de três décadas, esses militares, em chance histórica ímpar, que aproveitam como oportunidade de ouro para “refazer” totalmente a imagem das Forças Armadas perante o conjunto da sociedade, têm sinalizado, sem críticas públicas à ditadura militar como um todo, abandono estratégico, como capítulo ignóbil, do vínculo oficial e umbilical com as masmorras da tortura, hediondez que, apesar de conhecida e apoiada pelos Estados Unidos, envergonhou o Brasil aos olhos do mundo moderno, livre e desenvolvido, especialmente europeu. Ou seja, as Forças Armadas, que o estrito zelo positivista pela ordem e pela segurança nacional alocou na direita e na extrema direita do espectro político tradicional, tentam, sob o providencial emblema da racionalidade, repaginar a sua própria imagem social (antes ligada à estatização da economia e à violência política) mediante cotejo tático e tenso com uma extrema direita civil, parva e desvairada (ligada à privatização indiscriminada e a vezos necropolíticos conexos).
A bem da precisão histórica, é impossível não notar, vice-versa, que vários desses militares de alta patente do Governo Federal, pares estamentais dos sêniores implicados no então regime ditatorial sem precedentes, comparecem, na visibilidade mediática (de massa e digital), como “moderados” quando comparados, em termos de comportamento e tendência política, com os mandatários sufragados (do executivo e do legislativo), aos quais vêm empenhando apoio (sem colocar totalmente a “mão no fogo”), como tecnocracia qualificada e diversificada.
[Mal 2020 teve início, essa alta ala fardada, visando obviamente anular repercussões nacionais e internacionais e estancar desgastes à imagem da administração, das Forças Armadas e do país, pressionou o Presidente da República, em princípio resistente, a demitir sumariamente e com urgência o Secretário Especial de Cultura, depois que este, no dia anterior, havia parodiado trecho de discurso de Joseph Goebbels, assecla nazista, em pronunciamento oficial no YouTube, para anunciar editais de financiamento público à produção cultural. Os militares negociaram essa exoneração de forma coincidente com as reações imediatas da Presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A circunstância não deixa de ser um sismógrafo inequívoco da surda disputa de modelos de sociedade no interior da tecnoburocracia de Estado: a direita fardada, aparentemente “discreta” e “criteriosa”, “guardiã” securitária da “ordem republicana” conservadora, agindo – até quando? – para conter sangrias indesejadas, de reverberação mediática gigantesca, plantadas a todos os Poderes pelos desvarios da ultradireita executiva civil. Ponta de falso iceberg que, pela fundura, não esconde senão compleição vulcânica ativa, o episódio se distribui também para ambas as extremidades desse termômetro: ou se trata de factoide oficial planejado para testar, quantas vezes forem necessárias, os limites da democracia vigente, mediante aferição periódica do estado da arte da sensibilidade coletiva a novidades autoritárias – estado da arte dado pelo grau de alerta e indignação dos setores sociais mais organizados, bem como pelo ânimo geral para a defesa dos valores democráticos [e, nesse caso, o factoide integra série de bodes expiatórios previamente estipulados (como “laranjas”-cobaia) para sacrifício calculado e prática de recuo sob contabilidade estratégica]; ou se trata de ocorrência fortuita – quem acredita? – com epicentro num ato hiperestético precipitado de um membro neofascista excêntrico que, como “linfoma cênico” no tecido autoritário do governo, pode ser extirpado “sem problemas”, de modo a apascentar reações negativas e a fazer tudo retornar ao armistício satisfatório, como se nada tivesse acontecido. Seja como for, semeando incerteza estrutural, o episódio, aterrador e agourento (validando, portanto, a primeira conjetura acima), expectorou, da forma mais organizada até agora, as vísceras do protoprojeto político de sociedade, economia, cultura e moral que articula, no mínimo, os estratos civis majoritários do governo federal, especialmente os mais íntimos ou próximos à Presidência da República.]
Pessoas torturadas, suas famílias e descendentes, bem como todos os inconformados com o negócio institucional da crueldade, no mencionado período de militarização social e mesmo depois, nas delegacias e estabelecimentos prisionais do país, têm o direito de supor que, dada a história pregressa de envolvimento de militares com a tortura – oficiais que, a rigor, não deveriam participar de jogos político-partidários nem de equipes de governo (civil ou fardado) em quaisquer estratos da hierarquia administrativa –, eles, mesmo fazendo juramento formal de respeito à democracia e à Constituição (dois coeficientes nem sempre necessariamente juntos), podem um dia vir a não cumpri-lo.
Em sua longa história, a cultura militar brasileira já ofereceu ao país desde ditadores com insígnias sanguinolentas até republicanos convictos, ciosos de suas funções constitucionais de proteção nacional contra agressões externas, entre outras destinações pertinentes a um Estado moderno. Legou até mesmo revolucionários notoriamente socialistas. Espera-se, com aposta aberta, que a história futura não demonstre, por sua própria conta e riscos alheios, que as notícias há bom tempo ressonantes sobre perfis militares “comedidos” enquadram-se no rol de ornatos da ingenuidade política.
IIId
Ferox gens nullam esse vitam sine armis rati.[7]
Tito Livio (apud Pascal, 2004, p. 73)
Por razões que não fazem senão a lógica confirmar as evidências, a necropolítica neofascista é inseparável de relações de classe, familiais e pessoais de cultivo recorrente, silente ou não, do ódio como valor social articulatório. Sendo impossível – como antes sinalizado e aqui recontextualizado – a um fenômeno emergir historicamente, configurar-se socialmente e cristalizar-se politicamente a partir de nihil, inexiste necropolítica neofascista que não seja essencialmente odienta, isto é, enraizada profundamente em húmus cultural esparramado desde tenras interações na socialização primária e, portanto, desde o início da formação psicoemocional individual, como mentalidade de pressuposta estigmatização da alteridade, bem como de estruturação (simultânea ou diferida) do modelo de sociedade conforme o espelho dessa violência.
Patenteia igualmente lógica trivial o fato de, em passo mais desabrido, a fustigação social do ódio constituir ingrediente relevante do bolsonarismo como movimento político. Ávida por galope mais célere no dorso do processo eleitoral de 2016, essa ideologia militante, sob o mexerico canino – lembre-se – de dizer-se “não-ideológica”, culminou por crispar enormemente o estado de conflitos sociais ancorado em polarização política salubre para conduzi-lo, de roldão, a uma dinâmica conflitiva insuflada por práticas e atitudes coléricas de polarização ideológica. O bolsonarismo arrastou, assim, a importante rivalidade pragmático-narrativa entre direita, centro e esquerda, vigente no país de 1985 a 2016, para o precipício imprevisível do rancor, da ira e da repulsa – quase étnicos – do extremismo sectarista.
O termo “guerra” e seus derivados (incluindo gestualidade evocativa de clima de guerra literal, de guerra civil, de guerra de guerrilha, de sonoridade de tiroteio e similares) pertencem ao repertório público de violência e ódio dos neofascistas e seus simpatizantes.
Como se sabe, esse ódio não constitui, essencialmente, mera fleuma estratégica encenada para efeito mediático, nem simples técnica calculada de marketing político para auferir sucesso eleitoral, muito menos qualquer simulação teatral para causar impressão pública duradoura. Ultranacionalista e reacionário, esse sentimento odiento mostra-se, salvo melhor avaliação psicológica, como genuíno, isto é, expresso com a veracidade factual que só a espontaneidade de caráter e comportamento torna convincentemente indiscutível, sem mediações de artifício ou artimanha, com esteio em veia cultural profusa, inconscientemente arraigada no seio de parte empática e/ou susceptível da população. Gestado na própria dinâmica das relações sociais e, por isso, eficazmente ascendente sobre a esfera individual, ele serpenteia como que do fundo das vísceras, com consciência (total, parcial ou nula) do sujeito, rendendo manifestação a partir de estado latente, de disponibilidade imediata.
Ao longo dos últimos anos, esse ódio granjeou crescente capilaridade a partir de diversos redutos digitais dos media móveis, com os quais e em função dos quais ele adquiriu expressões multimediáticas variadas, todas enquadráveis num mosaico identitário típico, uma hiperestética da veemência, por assim dizer, cujos contornos sígnicos pretensamente infensos engalanam impetuosidade de maior monta, clandestina, a que de fato conta e em torno da qual toda a dinâmica de governo gira, na forma de uma destruição tecnoburocrática competente e acelerada de todos os direitos constituídos. [A produção audiovisual elaborada pelo staff da Secretaria Especial de Cultura, no episódio mencionado parágrafos acima, é apenas uma sinédoque sintomática dessa hiperestética neofascista. O Presidente da República nomeou o Secretário da pasta com pleno conhecimento da biografia e posições políticas do beneficiado. A hesitação do Presidente em exonerá-lo, conforme noticiário à época, revela – enfatize-se – o quanto o aparelho de Estado está, desde veias oclusas até a boca tentativa do vulcão, eivada de neofascismo.]
As falas, o palavreado, os gestos, as modulações faciais, as práticas e atitudes, os símbolos e marcadores calculados, as mentiras e invenções, os arroubos ameaçadores e as chantagens etc., em imagens, vídeos, áudios, textose excertos digitais, com repercussão em media de massa conservadores – tudo em espiral arrastadora, tão imponente e espalhada quanto contagiosa, em clichês e preconceitos (belicosos ou ensurdecidos) –, alterdirecionam-se a alvos seletivamente pré-estipulados (ideologias, práticas políticas e culturais, grupos sociais, perfis individuais, empresariais e de ONGs etc.), visando antropomorfizar processos social-históricos complexos em “bodes expiatórios” para punição pública o mais rápido possível, no arco casuístico de mediações do Estado, sob torneamento legal e procedimental idiossincrático.
As tendências esquemáticas desse ódio – vigiar, culpar e criminalizar, numa palavra, potencialmente eliminar, não somente neutralizar – deixaram de ser exclusividade de determinadas classes privilegiadas de consumo e/ou prerrogativa de uma pessoa, por mais que uma liderança populista e carismática some importância para infundi-lo, catalisá-lo e/ou irradiá-lo socialmente.
O processo eleitoral de 2018 e o resultado do pleito contribuíram, com fôlego renovado, para a racionalização socialmente ampliada desse sentimento odiento e antigo como narrativa organizada e convincente – “as esquerdas”, diz ele agora, em estigma aqui sistematizado tout court, “são socialmente perigosas e criminosas, de tão corruptas, moralmente decadentes, exclusivamente culpadas por tudo e merecem castigo severo, com prisão ou morte”. Extensa parcela da sociedade, entre população (inclusive mais pobre), media de massa e mercado, assumiu como moralmente verdadeiro ou politicamente útil esse discurso. Em certos momentos social-históricos, ele encontra condições favoráveis para se manifestar em gradações de virulência, de acordo com o pertencimento a determinadas categorias sociais, o perfil geral dos indivíduos ou grupos sociais protagonistas, os alvos escolhidos para vitimação, a atmosfera política, as razões circunstanciais, os objetivos em jogo, as disputas pressupostas e assim por diante.
Há tempos, o repertório rústico da necropolítica neofascista foi avocado, com orgulho e primeiramente (conforme continua sendo, oficialmente ou não, em artigos de jornal, livros, posts no YouTube etc.), pela extrema direita bolsonarista, a partir de dentro do próprio edifício da democracia. A hostilidade começou com os propositores dessa necropolítica. A truculência (física e/ou simbólica) faz parte da linguagem deles. O desejo de “guerra cultural”, com suas justificativas anímicas delirantes e não raro biliosas, radica entre os ingredientes molares desse imaginário necropolítico e hiperestético. A veemência da expressão – “guerra cultural” –, seu substantivo isolado e seus usos sociais pertencem ao léxico desse tipo de autoritarismo. Essas opções de vida demarcam um rosto, estipula um lado, e isso precisa ser socialmente configurado como exclusivo deles, não de outrem (em terreno político seja vizinho e contemporizador, seja de oposição não-condescendente ou confronto inegociável). Esse é um ponto fundamental, a ser submetido a amplo holofote: o Brasil está em guerra – guerra endógena, guerra de autoflagelo –, e isto por volição exclusiva deles.
Inexistindo alternativa mais venturosa –, convém, pois, deixar a endogenia do ódio com e para os odientos voluntários e a quem o deseje; e aceder que sua produção hiperestética necropolítica cedo acabe abrindo guerra entre eles mesmos, até a percepção do grande infortúnio um dia ressacar essa nociva posição política sobre o Brasil, em reverberação para a América Latina e para o mundo, com fuligem espalhada sobre seus próprios atos individuais e grupais.
IIIe
Essa confusão babilônica das palavras
Vem de que são a língua
De decadentes.
Bertold Brecht (2000, p. 31)
[…] revenge will be slow,
though my mind is eager.
BJALFASON, Kveld-Ulf
(apud JELSCH, 2013, p. 43),
líder [chieftain] de clã viking do século X
A propensão narrativa e pragmática da necropolítica e da hiperestética neofascistas integra o rol de incitações à violência, passível de tratamento legal restritivo, na forma da jurisprudência assentada a partir de 1940 (cf. Artigo 286 do Código Penal), e não de leniência institucional, policial e/ou judiciária. Tal fleuma impune, de manipulação visivelmente agressiva e oportunista da vigas democráticas formais dos contextos em que os neofascistas atuam e em favor do que ideologicamente as sabota, demonstra, na totalidade – desde os pressupostos do caráter autoritário em jogo até as intenções inconfessas – o que é o neofascismo e o que ele pretende.
Esse húmus criminoso de incitação à violência implicado na expressão “guerra cultural” e derivados talvez seja suficiente para desautorizar, como algo precipitado e fácil, o enquadramento de uma argumentação como a presente num estigma linguístico-classificatório comum, a saber, como “esquerda política light”, supostamente típica de classe média instruída e claudicantemente alinhada à trajetória das causas populares… Por certo, a prudência como valor permanente, decantada em experimentação comprovada, sem patamar fixo e exclusivo na pirâmide social, é a primeira sedução irresistível e legítima da estratégia. Nenhuma resistência política digna desse nome, entretanto, deve ser regada a platitudes ou néctar de amêndoas, sob pena de traição ao percurso prévio dos que restaram na longa estrada. Poças de sangue jamais titubeiam.
A recomendação segue caminho diverso e sem sutileza: a resposta à “guerra cultural” deve ser, por natureza, dura, porém antibelicista, convicta, mas não militarista, destemida e intrépida, jamais beligerante, arrojada e criativa, nunca armífera, incansável e irreversível sem ser marcial. O devido revide deve atuar valores republicano-democráticos e educadores. De sua medula e firmeza, ele precisa ser politicamente emblemático: o exemplo deve partir das esquerdas. Se se fizer em nome ou à luz de alguma guerra, enquadrar-se-á na nomenclatura pragmática do rival – a tal “guerra cultural” – e, portanto, no repertório linguístico-hiperestético que tanto interessa à necropolítica neofascista. Ao perder, dessa forma, identidade distintiva de oposição qualificada, acaba por abdicar de sua razão de ser, contribuindo para destinar seus fundamentos ao aterro sanitário.
Vale evocar evidências: não há necessidade de haver completado sequer disciplina elementar em estratégia militar para deduzir que nem toda declaração de guerra merece resposta na forma de contraguerra, imediata ou diferida. Brados de guerra egresso de verborragia (hoje mediática e porventura via Twitter…) de líderes bufões e iracundos, quando não em condição etílica, sequer mereceram – e merecem –, por exemplo, mais que consideração oficial piedosa.
A noção de devido revide, que virtudes civilizadas prescrevem seja mediado por órgãos competentes do Estado, não integra, compulsoriamente, o imaginário vocabular e/ou semântico do campo bélico. Nem por isso agressões físicas e/ou verbais, sofridas por seja qual for o pretexto, uma vez inaceitáveis, deixam de merecer contrarreação imediata e tanto mais prolongada quanto necessária. Revide, que pode fidedignamente equivaler, conforme o caso, até mesmo a ato responsivo de silêncio proposital, é prova de dignidade, inadmissível se, de outra forma, faltosa ou falha.
Esse procedimento equivale, a rigor, a tréplica política, que deve ser compreendida na escala histórica dos fatos políticos recentes no Brasil, anteriores e posteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, de perfil democrático avançado em matéria de proteção a direitos humanos, civis, políticos, sociais, trabalhistas e previdenciários. Forças de direita e centro-direita, nacionalistas e populistas, dominaram a cena federal do poder até o início de 2003, quando então três sufrágios – um já no ano anterior e os demais em 2006, 2010 e 2014 – garantiram os governos de coalizão de centro-esquerda de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff até o afastamento desta última, em 2016, por ocasião de um golpe executivo-parlamentar-judicial perpetrado com base em argumentos arranjados e provas discutíveis. As inúmeras políticas públicas dos governos Lula e Dilma foram uma resposta qualificada ao establishment econômico-financeiro e cultural de então. A extrema direita vitoriosa no pleito de 2018 representa uma réplica neoliberal historicamente regressiva e socialmente irresponsável – vingativa, não erra que o diz – aos avanços dos governos anteriores em inúmeros setores da vida nacional. Cabe, portanto, tréplica contrafascistaao ultraconservadorismo legalmente veemente.
No mais, na previsão dessa tréplica, o uso da palavra “guerra” e derivados, por mais compreensível e legítimo que seja, não deixa de revelar fleuma figadal semelhante à da rusticidade voluntária do adversário. A lucidez estratégica cataloga esse procedimento como protocerebrino. “Guerra cultural” não é um conjunto de “batalhas de rua”, por mais que a hiperestética neofascista de várias gangues urbanas assim a desejem e a façam soar em suas manifestações digitais. A inteligência mais mediana, exceto se por conspiração insana e suicida de efeito coletivo lesivo, recomenda sensatez ante a vontade de atear fogo à própria casa – nela, estão desde crianças a grávidas e idosos –, para depois resistir a ele. O desejo do pior cedo jorra contra os próprios incendiários; e o diapasão do estrago vê-se maior – com não pouca autotraição – quando as chamas espirram na direção da população mais pobre e vulnerável.
Tais cuidados são elencados independentemente de o desaviso, em titubeio velado, sempre autoentregar-se diante da crueza da verdade: em geral, de um extremo a outro do espectro político convencional, quem fala em “guerra” mal sabe do que está tratando, o que ela realmente significa histórica e socialmente em matéria de drama familiar e individual, e ao que ela, ao fim e ao cabo – no transcurso de anos ou décadas –, conduz. Essa objeção banal e veraz revolve a sensibilidade literária e universal de milênios pungentes, castigados pelo viscoso fantasma do horror. Zuhayr (2006, p. 149, 151-152), poeta beduíno pré-islâmico, parece, por exemplo, falar ainda ao presente, com impressionante atualidade e prudente franqueza, do fundo da sabedoria árabe de vertente pacifista (do século V a VIII d. C.):
O que é a guerra senão o que conhecestes e experimentastes? E o que ela vem a ser nessas histórias suspeitas?
E mais adiante, com metáforas aparentes, anuladas pela contundência expressa:
Eles apascentaram a sede até matá-la, mas depois a levaram para beber em imensos poços, repletos de arma e sangue. E lançaram-se aos próprios destinos, retornando a um pasto insalubre e insosso.
Tendo em vista a totalidade da explanação anterior e até prova consistente em contrário, a lealdade à luta em favor da consolidação da democracia real no país – isto é, tendente a enraizá-la no âmbito das interações indivíduo a indivíduo, grupo a grupo, a partir das filigranas de gênero, étnicas e raciais na vida cotidiana – recomenda que, em relação ao tipo múltiplo de violência implicada na forma da necropolítica neofascista, a escultura do devido revide não faça, ao menos, por ora e até justificativa reversa, uso programático da palavra “guerra” e derivados, mesmo em metáfora, para efeito da resistência prevista. Como contrapolítica de distribuição social de significantes e significados, vale, na longa reconstrução republicana à frente, reservar ao rival inveterado os mencionados termos, até para que, inalterada a sua obsessão, definhem em suas mãos.
Esses cuidados com a origem e o lugar das falas contendoras, bem como com a ordenação e destino sociais do léxico cobrem necessidades desdobradas: enquanto a “guerra cultural” dos odientos os faz considerar como inimigos todos os membros alinhados à esquerda, os preceitos republicanos do revide contrafascista, em respeito pedagógico às regras do jogo democrático e em nome da preservação controlada e reconstrutora da democracia, faz com que eles sejam tratados como adversários perigosos, prioritários na conta a dedo, quanto mais costuram avanços na moldagem do Estado conforme a imagem de soslaio em seu espelho ideológico. “Palavras! Concessão demasiada!” / “Melhor assim! Senão as coisas vão piorar!”, vindicam, já em altercação, os fígados encaniçados na vingança, cada polo por seu quinhão, hemoglobina nas íris. Deste ponto de vista, que o imediatismo, jubiloso, premia com lisonjas sedutoras, está realmente certo quem o assevera. A contrapelo, a dimensão impassível da história e a perspectiva da educação política, de par com ações em nome delas, sempre prenunciam, no cálculo cerebrino, a sina ruinosa a que, nas interações políticas e sociais, conduz toda e qualquer espumarada hepática.
Esses apontamentos, aliás, não deixam de filiar-se à famosa recomendação do general chinês Sun Tzu (1993), que, desde o século 6 a.C., equacionou essência e prioridade da arte da guerra à estratégia especial de vencer sem a necessidade de batalhas campais. Conflito (explícito ou não) já é modo de guerra, ensina o sábio do antigo Reino de Wu (por isso, antes, Sun Wu, celebrizado Sun Tzu ou “Master Sun”).[8] Peca contra a inteligência fustigar o infortúnio. O que vale taticamente para os significantes deve valer eticamente para a pragmática: o repertório vocabular e procedimental de não-violência ativa lança, justa e fatalmente – conforme sinalizado –, o ônus do perfil agressivo para a incivilidade do adversário, que assim se configura, por responsabilidade intransferível, como único protagonista do estado de exceção que, sob conformação sutil – “vida normal”, por assim dizer, com cores mediáticas e publicitárias de massa –, ele deseja eternizar no Brasil. (Um interregno espirituoso lembra que a necessidade política do revide também já configura posição de “pé de guerra”, como indicativo de desconfiança a priori e justificada, preparada para o contra-ataque. A hipérbole lúdica, porém, na nuance “aguerrida”, cessa neste ponto…)
IV
Se viesses em um coche
E eu vestisse um traje de camponês
E nos encontrássemos um dia na rua
Descerias e farias reverência.
E se vendesses água
E eu viesse montado em um cavalo
E nos encontrássemos um dia na rua
Desceria eu a te cumprimentar.
Poeta chinês desconhecido
(apud Brecht, 2000, p. 146)
Polindo diferenças internas marcantes e construindo a robustez da agenda comum em linha de frente, o pensamento democrático de esquerda, os movimentos sociais progressistas e, no anel esperado, os segmentos políticos, acadêmicos, culturais e jornalísticos afins, dispõem de todos os recursos para cumprir, mesmo no fio da navalha, a sua vocação histórica e missão política, em nome de um equilíbrio social mínimo, capaz de garantir subsistência consistente ao ideal republicano, tanto agora quanto para a posteridade.
Em âmbito geral, sobretudo nas filigranas do campo das esquerda, a qualificação da resposta antifascista pressupõe, em seu complexo mosaico pragmático, combate micropolítico e não-violento norteado por um ethos a priori avesso a dicotomias absolutas e irreconciliáveis – vale dizer, uma ética procedimental e de reconhecimento interpares compatível com o menor dano endógeno possível em função de disputas programáticas (que o momento torna pequenas, sem jamais serem desimportantes) provocadas por visões polarizadas e até estigmas dispensáveis. A própria sobrevivência histórica do pensamento de oposição depende, em bloco, de um ethos compatível com cada vez mais philia, para evocar a pulsão de amizade por afinidade de princípios entre os antigos gregos – philia aqui nutrida e norteada por um pathos glocal neguentrópico, de eficácia reconstrutora, antirruína, a saber, um sentimento forte e solidário de responsabilidade sociopoliticamente direcionada, atuada e compartilhada de maneira híbrida e expandida, a partir de redutos locais ou regionais em tempo real eletrônico-comunicacional, em contextos propriamente digitais os mais diversos, visando, ambos – philia e pathos glocalizados, isto é, nem global, nem local, antes a mistura das duas dimensões, glocal, no hic et nunc (aqui e agora)] –, a formação de blocos multilaterais para cumprimento histórico de objetivos peculiares. A qualificação da tréplica contrafascista pressupõe condecoração política de solidariedade vigorosa, elástica em espiral aqui e alhures, com evidenciação em potência estendida.
Expresso por outro ângulo, essa tréplica requer instaurar, incentivar, fomentar e perpetuar um feixe multitudinal de forças contíguas, mutualizadas no afeto e na cooperação programática, de âmbito no mínimo nacional, capaz de funcionar flexivelmente como ampla malha descentralizada de resistência, numa frente uníssona de barricada simbólica espalhada, com potência desdobrada de contágio construtivo, tanto no tecido glocal quanto fora dele (off-line) – uma resposta que se conforme, ela mesma, como macroambiente cultural, atópico e assíncrono (isto é, sem a necessidade de que cada membro esteja presente simultaneamente no mesmo reduto, sob mesmo fuso), ao ponto de cada qual, participando desse lugarplurieufônico, saber, onde e a partir de onde estiver, o que fazer para envolver o adversário e (com sorte, convencer ou “ganhar”) seus simpatizantes. Em tese e em parte, essa consonância pragmática já está acontecendo desde o período eleitoral de 2018, senão antes, a partir do golpe executivo-parlamentar-judicial de 2016. A realidade necropolítica do neofascismo e a pretendida escala civilizatória da “guerra cultural”, entretanto, exigem dinâmica estrutural e ações mais organizadas, vis-a-vis menos espontaneístas e aleatórias, e, portanto, cada vez mais cofortalecidas e arraigadas na vida cotidiana.
Em termos programáticos, o polimento hospitaleiro, reconhecedor e celebrante das diferenças, malgrado sempre difícil e arriscado, precisa encontrar, nesse contexto, o caminho seguro de uma aliança estratégica em torno de propósitos comuns e por determinado tempo – no caso, enquanto durar a “guerra cultural”, até o êxito formalem, pelo menos, três ou quatro ciclos eleitorais majoritários. A meta a médio e longo prazos é a dissolução crescente e profunda, por sufrágio universal, de todas as expressões imediatas de neofascismo dentro do aparelho de Estado e, no quanto possível, o seu enfraquecimento progressivo em todos os corredores multicapilares e mediáticos que afluem dos poderes republicanos (especialmente, o Executivo e o Legislativo) para o senso comum das ruas e residências, e vice-versa.
Estes últimos arredores testemunham, no fundo, a escala macrotemporal do processo da guerra, a exigir, para além da métrica de décadas, a eficácia “atlética” prolongada de um projeto educacional para a construção da democracia real (não apenas jurídica e ritual-eleitoral) e de caráter social, bem como para a produção de subjetividades compatíveis, desde tenros estratos etários. A urgência política, institucional e jurídica maior, no entanto, consiste em impedir a falência programada do frágil Estado de Direito brasileiro e em blindar conquistas em matéria de direitos humanos, sociais, civis e trabalhistas protagonizadas pela longa pressão histórica das tendências de esquerda, em meio à selvageria nepotista e fisiologista do capital graúdo no país. Simultaneamente, essa urgência implica consolidar e ampliar o leque político, institucional e jurídico de proteção a todos os corpos de luta ameaçados – de índios, afrodescendentes, mulheres, homossexuais, “periféricos”, militantes etc.: “vidas de oposição”, no estigma cultural corrente –, impedindo o descalabro de óbitos a fio levados a cabo pelas forças conservantistas da ordem e sua mentalidade assecla cegamente funcionalizada em prol do statu quo, ambas nutridas por formas aberrantes de preconceito normalizado. Em conjunto, urge consolidar modos e instrumentos jurídicos de punição e prevenção em relação às diferentes manifestações de ódio de extrema direita.
Obviamente, o horizonte da aliança estratégica neguentrópica afasta, desde sempre, qualquer tentativa ou forma idealista de aglutinação pragmática calcada em imperativos identitários, com efeitos prejudicialmente homogeneizantes para as agremiações e tendências políticas de esquerda, capazes de lhes adulterar os perfis tradicionais de discurso e luta, obliterar trajetórias ideológicas singulares e ofuscar feitos históricos. Não se trata de fusão de bandeiras partidárias (algo, aliás, impossível), mas, antes, da justaposição de subjetividades políticas, institucionais, grupais e/ou individuais genuinamente afins – numa palavra, de antifascistas incontestes, afastadas todas as forças arrivistas, ambíguas e/ou inseguras –, em idêntica linha de frente, com tônus sincronizado e foco e direção coadunados. A título similar, interessantes iniciativas de catalisação, seja mais à esquerda, seja mais próxima do centro do espectro político convencional, já foram organizadas em algumas cidades do país. Para não malograrem tão celeremente quanto surgiram (e o amanhã venha a reconhecê-las como soluços políticos isolados, representativos de intenções estrategicamente corretas de início), a batalha contra a necropolítica neofascista, a ser caucionada necessariamente pelas principais lideranças de oposição (em relação tanto às tendências do governo federal, quanto à dinâmica corrosiva estrutural do “novo” statu quo econômico-financeiro), exige superação, suspensão ou, ao menos, relativização de todas as formas de personalismo centralizador, de tipo “caudilhista latino” ou não (principalmente se desprovidos de carisma ou poder de amálgama eleitoral de partida), mutatis mutandis decalques matizados e reescalonados do coronelato brasileiro de Casa Grande, interessados no exercício democratista do paternalismo de massas. A periculosidade do adversário, ainda que obliterada na aparente normalidade alienada da vida cotidiana em geral, justifica importantes renúncias simbólicas e concessões mútuas.
Para afastar qualquer dúvida, mal-entendido ou lacuna semântica, convém enfatizar que, em função da natureza do revide em jogo, essa condescendência estratégica e integradora guarda relevante significação até mesmo em relação a membros arrependidos e/ou ressentidos, desde que ideologicamente decididos, provenientes das classes abastadas e instituições privadas consortes. A história das esquerdas demonstra per se a validade e a utilidade políticas, por exemplo, de narrativas autodenunciadoras, testemunhais e/ou “técnicas” de YouTube influencers, lideranças econômicas e profissionais de destaque identificados como não pertencentes ao campo tradicional das esquerdas. A mobilidade vertical das convicções e propensões políticas (tanto mais quanto forem autênticas e contínuas), além de constituir fato social inegável, tem consequências (de formação ou robustecimento de tendência de opinião, de expansão ou desidratação de votos etc.) que não podem ser descuradas. Milhões de pessoas egressas das categorias mais pobres ou desfavorecidas passam para o outro lado sem culpa, sem consciência e sem dar satisfações a ninguém, sufragando – não raro, com alegria inquestionada – neofascistas e imbecis de direita, tecnocratas e asseclas neoliberais, todos socialmente insensíveis. Inversamente, as esquerdas no Brasil somaram, ao longo das décadas, um sem-número de aliados permanentes e irreversíveis, especialmente das categorias intelectuais e culturais de estratos afluentes.
Até que as regras mudem, na pragmática (pouco) republicana dos dias, política é, em contagem última, convencimento e conquista de subjetividades e afetos, via entrecombate constante de discursos e narrativas. Conforme sinalizado acima, é necessário fomentar, consolidar e expandir, em todos os quadrantes, no Brasil e, mais extensamente, na América Latina, a mais ampla rede antifascista, antineoliberal e antitecnoburocrática, como princípio axiomático crucial e a priori, a fim de evitar o sinistro de direitos anunciado. Quem joga, continuamente, se não no campo das esquerdas, ao menos ao lado delas e a favor delas, merece gesto de acolhida e estágio de confiança (sob acompanhamento político estrito) em função de causas e pautas definidas. (A rigor, a sanidade política, a bem da sobrevivência coletiva no arco da liberdade, advoga que a batalha republicana contra o neofascismo deveria constituir compromisso de todos – como se diz, de “toda a sociedade” interessada. Sendo, em síntese e a um só tempo, institucional e impessoal, deveria, em particular, subsistir incansavelmente como a grande bandeira do pensamento de oposição, em amplo radar de ethos, philia e pathos em prol dos valores democráticos. Os complicadores imanentes desse pressuposto acabam fazendo a contabilidade moral da resposta antifascista ter de dar boas-vindas sob necessários cuidados, de forma seleta.) Constitui prerrogativa do porvir a concessão da prova de estabilidade, perdurabilidade e consistência das convicções de oposição então assumidas (por quem não tem tradição política, acadêmica, jurídica e/ou jornalística nesse sentido e deseja alinhar-se à causa).
V
Nightcloud with the moon behind her
Paul Violi (2014, p. 28)
Mas não se dirá: Os tempos eram negros
E sim: Por que os seus poetas silenciaram?
Bertold Brecht (2000, p. 136)
Evidentemente, toda grande peste – em expressão aqui tomada como metáfora, sem intento de profilaxia social – costuma ter cauda longa. A que vigora oficialmente no Brasil a partir do início de 2019, com raízes jurídico-políticas em, pelo menos, meados de 2016 – velha peste em estirpe tropicalmente readaptada –, continuará a exigir, entre outras virtudes e recursos estratégicos, paciência histórica, preparo cognitivo (inclusive legal e técnico), tirocínio político, aprumo emocional (isto é, ódio zero), alta tolerância para o enfrentamento dialógico diário (sem rancor ou ressentimento), fôlego militante acurado, firmeza no revide judicioso contra todas e quaisquer formas de intolerância ideológica, hostilidade pessoal e coação física, e, se possível, bom humor e espírito de piedade (jamais pena) para com o nível bastante defasado dos interlocutores.
A qualificação da tréplica contrafascista – de pendor, em tese, pacifista, como dito, mas jamais leniente –, pressupõe a adoção (educativa, em última análise) de instrumentos e respostas republicano-democráticas inegociáveis, capazes de constranger, de forma permanente – sem recuos –, as forças reacionárias sufragadas a se enquadrarem necessariamente nos marcos, regras e/ou mecanismos das instituições consolidadas com base na e a partir da Carta Constitucional de 1988, enquanto a sociedade brasileira não alcançar instrumento magno mais aperfeiçoado.
A história política de países capitalistas afluentes ou subdesenvolvidos a partir do final da Segunda Guerra Mundial é suficientemente explícita ao expor-se a pouca ou nenhuma dúvida no que se refere à demonstração do quanto a defesa perseverante dos direitos humanos, civis e políticos, sociais e trabalhistas contribuiu para conter anseios e delírios desviantes de balizas civilizatórias aceitáveis, calcadas no paradigma democrático de sociedade, Estado e indivíduo. O admirável espírito de combate das esquerdas e forças afins, tão genuinamente insubstituível em caráter e verdade de expressão, participou e sempre participará vivamente desse processo. A rigor, são os segmentos de esquerda – das ruas e agora das redes glocais às casas parlamentares em todos os escalões, e vice-versa –, que, exercendo a única linguagem que as elites econômicas e políticas nacionalista-conservadoras entendem, a saber, a linguagem assertiva da pressão insistente (sobretudo quando movida a indignação ou revolta), conseguem extrair, na prática, o máximo das instituições vigentes no sentido de serem institucionalmente fixadas macrolinhas limítrofes e antepostos aparos corretivos aos voleios necropolíticos indiscriminados que, de outro modo, tendem a reavivar formas conhecidas de selvageria e/ou incitar novas, porventura piores. [Investigações psicanalíticas de várias vertentes freudianas cansaram-se de atestar que uma das principais funções da cultura, para ela sobreviver como tal, é educar (no sentido de moldar para regras e propósitos e/ou de aplacar mediante recanalização sublimatória de energias) a pulsão de morte desde a fase inaugural da socialização infantil…]
Conforme se depreende livremente da reflexão de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018) sobre os modos de arruinamento dos regimes democráticos, regressões social-históricas necropolíticas no âmbito de Estados nacionais ao longo do século XX assumiram corpo maior que o terrivelmente imaginado à época não tanto porque se especulava pouco sobre o ponto derradeiro de suas últimas consequências ou porque as forças de oposição se encontravam fragmentadas, mas, antes, porque não havia, desde as entranhas institucionais, políticas e jurídicas historicamente estabelecidas, barreiras pétreas, intransponíveis por quaisquer procedimentos de flexibilização – ou isso ou deposição e exílio! – e capazes de assegurar, em nome da diversidade social, política e cultural, a devida contenção antientrópica. Mais ainda, a ocorrência dessas regressões neofascistas mostra, com legado de lição igualmente fecunda, não somente o quanto tais formas de contenção, atufadas no autoengano, falharam, mas também em quais pontos situava-se a respectiva fraqueza de percepção ante os signos de horror então presentes nas tendências concretas que acorriam para as décadas seguintes. As sociedades marcadas por forte tronco de preceitos políticos, jurídicos e éticos republicano-democráticos, ao contrário, conseguiram neutralizar ou ejetar grupos nepotistas e fisiologistas de inclinação autoritária (vale situar, representativos até de mentalidades de classe privilegiada com perfil histórico ainda feudal ou escravocrata) para fora do aparelho executivo do Estado, isolando-os igualmente em câmaras parlamentares majoritárias.
Na circunscrição de imponderabilidades do enfrentamento democrático, convém, certamente, ressaltar, por ênfase reangulada, a mutação e a ampliação do tablado dos conflitos. Todas as ditaduras da segunda metade do século XX foram, de modo geral, sobejamente beneficiárias dos mecanismos estatais e sociocomunicacionais facilitadores de interdições (por censura ou autocensura forçada) à produção de conteúdos, dentro e fora dos media de massa. O advento da Web na década de 1990, com efeito, condicionou, na sequência, a explosão mundial relativamente incontrolável da diferença, dada na e pela conurbação de infinitas vozes a partir de distintos lugares políticos e culturais de fala, mediante alastramento das chamadas redes sociais. Essa vultuosa expansão glocal do exercício opinativo permanece independentemente de a algoritmização atual dos espaços de atuação online filtrarem todos os fluxos comunicacionais e sistematizarem os resultados da liberdade expressiva em tendências majoritárias padronizadas, que, em retorno, terminam por exercer influência significativa sobre a própria espiral simbólica inteira.
Se a natureza social-histórica e tecnológica do enfrentamento político progressista mudou profundamente, o mesmo ocorreu, em inúmeros solos nacionais, para qualquer tentativa de consolidação de anseios autoritários. A reconfiguração da engenharia dos processos censores remexeu simultaneamente as placas tectônicas do gozo pela liberdade. As extremidades da linha de manifestação das vozes de contradito consistente experimentaram horizontes jamais vividos antes. O baralhamento dos modos de incubação e manutenção dos dutos de silêncio foi simultaneamente acompanhado pelo redimensionamento digital do exercício (irreversível) de gritos denunciadores e contestações irredutíveis. Doravante, a multidão de vozes glocalizadas, mesmo quando predominantemente tingida por vieses ultraconservadores e medrados – hoje escudados em instrumentação robótica online –, jamais deixa de fazer com que, entre pesos e contrapressões, a espiral simbólica da instância digital e interativa do social seja necessariamente computada pela contabilidade do poder tecnocrático de grupos que se arvoram proprietários do statu quo (mediático ou não), com supostos direitos a torná-lo objeto monopolista de suas prerrogativas de aproximação com os reis de plantão, para imposição oclusa de controles sutis e/ou efeitos ostensivos de polícia. A potência social e política dessa espiral sociotécnica inviabilizou o exercício do desprezo contínuo tanto por parte dos serviços de inteligência estratégica quanto das instâncias corporativo-financeiras, mediáticas e de mercado responsáveis pela preservação da ordem vigente. Embora esse macrodeslocamento geopolítico e renascimento inaudito da potência do popular conceda alento relevante à luta democrática, não contribuem, como nada o faz, obviamente, para garantir certezas sobre o rumo do próprio legado democrático e/ou sobre os modos de reconstrução social a partir de seus escombros.
A qualificação do revide contrafascista mediante aliança organizada e estratégica entre todas as vertentes de esquerda, juntamente com importantes forças simpatizantes da causa progressista (incluindo, neste caso, vários oórgãos do jornalismo de massa), não visa senão robustecer a tendência de imposição de aparos sólidos, com exigibilidade inexorável de retraimento, em favor da consolidação de uma malha sociopolítica de bloqueios neguentrópicos. O adulador fantasma da barbárie é hoje tão espesso que drásticas restrições republicanas jogam paradoxalmente em favor de garantias mínimas de liberdade, a fim de que descalabros de extrema direita (partidária, corporativa e/ou militar) em matéria de administração pública sejam ínfimos enquanto a loucura sancionada por sufrágio detém a última caneta oficial de poder político. A mensagem do movimento antifascista nacionalmente articulado deve ser vigorosa, tonificando, de dois, um destes itinerários: ou o desatino se amolda à forja das instituições republicano-democráticas sem traição endógena e sub-reptícia (dentro do aparelho de Estado) e/ou sabotagem por forças externas alinhadas (internacionais inclusive), e recuam por bem, em paráfrase plácida e antecipada ao espelho de 1945; ou serão convidados a deixar os cargos por desonra às regras de ouro pelas quais ascenderam a eles. O devido revide precisa ser realizado de modo a tornar límpido a todo aquele que tentar destruir a democracia que igualmente terá de se haver com os institutos de travagem, a começar por dispositivos protetivos da Constituição Federal; e, a depender da gravidade do desserviço aos valores democráticos, também [terá de se haver] com o sistema penitenciário, sob congregação de pressões da sociedade civil organizada, nas ruas, no parlamento e nas redes.
Em adição a esses horizontes pragmáticos, convém lembrar a necessidade de disputar, um por um – com propostas e projetos alternativos e socializantes –, espaços onde o neofascismo (e não somente o bolsonarista) deseja se alojar (e, pelas fímbrias múltiplas da “guerra cultural”, serão até rincões escarpados); impor divisões no campo adversário, impedir a sua (aparente) coesão e, nesse processo, conquistar o maior número anual de correligionários para a causa incondicional dos direitos humanos e das políticas públicas de reparação de danos sociais, incessantemente provocados por um modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado na desigualdade como vetor “natural” de hierarquia e distinção. Este aspecto merece ser sublinhado: conforme apontado no início do presente texto, qualquer investida qualificada de contrarresposta – que se espera restrinja-se apenas ao plano simbólico e mais pacífico possível – é e sempre será em prol da democracia como valor universal e do mundo democrático como conquista civilizatória historicamente estabelecida.
Nas áreas da educação stricto sensu, instrucional online, artística, humorística, jurídica e jornalística – em paralelidade solidária aos tradicionais muros das Universidades, dos partidos políticos, dos sindicatos etc., e obviamente somando todas essas instâncias –, vale intensificar e diversificar as ações de esclarecimento público descentralizado e contínuo acerca da situação política nacional, para além da mera reação pontual e a posteriori a atos e ocorrências protagonizados pelo neofascismo, seja de fonte governamental, seja proveniente das vísceras da própria sociedade civil. A ultrapassagem desse estado de dependência sociofuncional, perigosa em tudo – uma atuação política senão à mercê da fatalidade da empiria do mundo – pode ser facilmente realizada se cerzida por multiplicação de iniciativas voltadas para a contextualização previamente confrontativa com a iminência de horizontes já evidentes. Especificamente, vale, nesse aspecto – apenas como reforço evocativo –, robustecer a promoção de minicursos de formação política, de ciclos de conferências e palestras, de mesas de debate e rodas de conversa; a previsão pluriautoral de notas de repúdio, cartas abertas e manifestos, petições públicas e abaixo-assinados; a tematização (online e off-line) das várias facetas do problema em eventos (seriais ou esporádicos) de associações científicas, políticas e/ou culturais, bem como em reportagens, artigos de imprensa e entrevistas com especialistas; a abordagem direta ou menção em shows, peças de teatro, canções, exposições e happenings artísticos, intervenções satíricas e stand-up comedy, saraus poéticos, produções imagéticas, videográficas, radiofônicas, de podcast etc.para fixação em endereços digitais e irradiação via redes sociais, e assim por diante: ocupy all glocal streets – a esfera pública híbrida – pela inteligência irmanada de forma assíncrona no imaginário de oposição à banalidade do mal (para não esquecer as preocupações de Kant e de Arendt).
Pelos motivos expostos mais acima, merece atenção em separata a necessidade de multiplicação ad infinitum de práticas glocais antifascistas nos contextos digitais e interativos, mediante ações políticas qualificadas (isto é, com enquadramento nas linguagens respectivas, em forma e conteúdo estratégicos tanto mais inovadores quanto seja possível) em todos os espaços virtuais, com utilização de meios imagéticos, audiovisuais, sonoros e/ou escritos, que possam funcionar como mídia tática, ultraflexível e articulatória. Esse é – e será por futuro a fio – um aspecto crucial: o uso politicamente eficaz, do ponto de vista do combate cognitivo e educativo, de tecnologias e redes digitais para influir concreta, diária e decisivamente nas filigranas sociais das relações pessoais e cotidianas.
Tendências correntes concedem razões objetivas e convincentes para esses cuidados. A inserção social da variável digital e interativa no espaço das disputas políticas em torno do Estado constitui fato histórico irreversível. Desde a experiência eleitoral norte-americana no biênio 2007-2008, em que o democrata Barack Obama foi sufragado primeiro Presidente afrodescendente daquele país, a política partidária em âmbito internacional estabeleceu guinada vultuosa para a circunscrição (até então desconhecida nesse sentido) das iniciativas digitais. A campanha com ações pioneiras e o resultado das eleições chamaram de tal forma a atenção dos atores políticos no mundo inteiro que converteu a fronteira virtual das redes rizomáticas no novo tablado de batalhas e esgrimas. Essa frenética e devastadora cordilheira glocal ajudou a eleger, nos Estados Unidos, o Presidente subsequente, o bilionário populista Donald Trump. No Brasil, o pendor odiento da extrema direita tem feito, desde os primeiros anos da década passada, com que essa aguerrida vertente política (de natureza predominantemente ágrafa) inunde, em espiral diuturna assustadora, todas as redes sociais, especialmente as dotadas de recursos audiovisuais, com o auxílio reescalonador de robótica online. Antes, o vendaval anticomunista de 2018, fortemente repercutido nas redes sociais (como soe projetar-se para um indefinido amanhã), elegeu o ocupante atual do Palácio do Planalto, que avaliza, com pólvora de milícia, todo o caldeirão digital em favor da privatização neoliberal, da militarização legítima e da reescritura necrofascista do Estado brasileiro.
Esses sucintos alinhavos, na curvatura da avalanche de eventos abrangidos, são suficientes para demonstrar que, há mais de uma década, as redes digitais não são mais a extensão das ruas: entre um protesto de massa (presencial) e outro, as redes é que se tornaram o (novo) “espaço urbano”. Há muito também, o processo se inverteu: a tecnofacilitação mobile, ligada à ultraportabilidade miniaturizada, transformou as ruas numa extensão das redes, revelando que, do ponto de vista da comunicação em tempo real (da instantaneidade interativa), em particular via celulares, a tensão política entre centro (do furacão) e periferia (cotidiana) teve placas tectônicas profundamente remexidas: como lembra Paul Virilio (1984, 2002), saudoso pensador francês, o centro se tornou as redes – e o centro chama-se tempo real. Há várias iniciativas, veteranas e em andamento, de povoamento contínuo e expansivo dessas redes por vertentes de esquerda. Precisam ser multiplicadas ao infinito e politicamente orientadas numa perspectiva uníssona antifascista, mais determinada e com atuação – conforme sugerido – necessariamente descentralizada.
Evidentemente, em razão da importância social e cultural da visibilidade mediática de massa nesse processo, o empreendimento sociopolítico e ético-cultural antifascistanecessita, por dever de inteligência estratégica, somar, sem restrição preconceituosa ou prurido injustificado, a adesão voluntária ou osmótica de todos os canais e programas audiovisuais e radiofônicos terminantemente avessos a ranços autoritários e aventureiros, em particular via estratos jornalísticos, humorísticos, de debates e/ou entrevistas, em tempo real ou não. Esse ponto, apesar de sobremaneira sensível, por problemático que essencialmente seja, é, ao mesmo tempo, de suma importância para a mesa de discussão.
Feliz ou infelizmente, a macrorrede antifascista, tendo em vista o seu mister social-histórico, jamais poderá dar-se ao luxo de descartar a priori – sem o necessário beneplácito do melhor juízo de sequência – esse influente cinturão simbólico de industrialização da cultura (onde chegamos, por necessidade política!), fincado em ramificações socialmente entrelaçadas (e com atuação não-centralizadas) de jornais diários impressos, revistas semanais de informação e emissoras de rádios e televisão, com repercussão diuturna na visibilidade digital de terminais fixos ou móveis. Quer dizer, para além do acolhimento mais sereno dos media alternativos (de partidos políticos ou outras organizações civis), alocados na Internet e/ou projetados via cabo, o movimento antifascista multitudinal não pode entregar-se à modestíssima postura, de tão antiestratégica, de desacompanhar-se, como forças simpatizantes e extensivas, de todos os espaços e poros das instâncias sociomediáticas conservadoras e com nítida função vigilante em relação ao que, explicitamente ou nos pressupostos, ataca preceitos constitucionais, fere a liberdade de expressão e opinião, a relação formal entre os poderes republicanos e a destes com a sociedade civil, e colabora para a destruição de direitos civis. Em tese, nesses âmbitos mediáticos, o conservadorismo, quando politicamente sério, culturalmente comprometido e historicamente consciente de seu programa, é, essencialmente, antifascista, pelo temor de, de repente ou em futuro mediato, derreterem-se prerrogativas legais referentes a iniciativas empresariais sem tutela por parte do Estado e/ou de governos e à circulação de opinião sem controle prévio por parte de quaisquer instâncias externas. A quem não escapam filigranas discursivas e narrativas dos media de massa, a agenda de procedimentos nesse âmbito corporativo, visando rechaçar totalmente agouro desastroso, chega ao ponto de, em algum trecho de sua produção simbólica, romper até mesmo com o cinismo eufêmico e protopolítico da “objetividade” e “neutralidade” jornalísticas.
Em especial, o arco do revide contrafascista deve incorporar, como companhias independentes e consonantes – em operação paralela quase militante, ora discreta, ora superexposta, com audiência numerosamente merecida –, as vozes assalariadas e instâncias progressistas dessa circunferência mediática conservadora, detentoras de relativa margem de atuação opinativa convicta, sempre sensivelmente içadas e prontas para a denúncia corajosa e direta, seja em textos de articulação, seja (quando possível) em editoriais, seja ainda em vídeos e/ou áudios de comentários analíticos.
Igualmente, a macrorrede contrafascista precisa contar com o apoio tácito de grandes contingentes da população (nas classes de consumo populares, média-baixas e médias) preocupados com a superação das circunstâncias históricas atuais do país, em especial e justificadamente, a gigantesca parcela mais pobre afetada em sua renda mensal e em seus direitos trabalhistas e previdenciários.
A meta, que – lembre-se – essas circunstâncias autodemonstram transgeracional, deve ser, em conjunto com ações mais organizadas e fecundas nas redes digitais e interativas, a de condicionar a formação, sem instância monopolizadora e condutora, de uma ampla visibilidade mediática de contrapressão, na arquitetura política de um ecossistema republicano-democrático internamente diferenciado e coeso na causa programática, e que funcione como barreira social de proteção antifascista, de todos os tipos e provenientes de todos os setores. E, após ter convertido o território nacional numa contestatária semiosfera amplamente trespassada por fluxos verbais, audiovisuais e sonoros de resguardo da democracia, possa baixar a guarda, em estado de prudência e atenção, com êxito político a ser referenciado aos pósteros e consciência multilateral do dever cumprido.
VI
¿Y donde has visto tú o leído jamás
que caballero andante haya sido puesto ante la justicia,
por más homicídios que hubiese cometido?
Cervantes (2004, p. 91)
O cenário social-histórico desse macrocombate antifascista – não se pode olvidá-lo – se confunde com outra rebarba do estado de exceção pós-2016 relativamente “normalizado” em que doravante se encontra formalmente a jovem democracia brasileira. O pensamento de oposição às tendências majoritárias da realidade federal atual é firme ao reconhecer que, cumulativamente à atmosfera sociomediática autoritária da lawfare, a defesa dos valores democráticos depende, paradoxal e igualmente, do terminante rechaço e da urgente solução ao ostensivo messianismo jurídico da magistratura togada, que, aclimatado em recentes condições políticas anômicas e convenientes, consolidou-se no país ao longo da segunda década deste século.[9]
Da primeira instância jurisdicional (em promiscuidade de princípios e funções com a agenda da promotoria pública) até os escalões mais condecorados do sistema judiciário, certo segmento hermenêutico-procedimental relativamente concatenado assumiu protagonismo hegemônico-mediático além da linha vermelha constitucionalmente admissível, para, na transição da década, desempenhar duas ações institucionais juridicamente atípicas: (1) a barganha de atribuições do Poder Legislativo em nome do combate à corrupção entre Estado e grande capital, sob amparo legal em liberdade quase incondicional de investigação e julgamento, bem como lastro inédito em produtivismo lawfare [vale especificar, de negociação sistemática de factoides mediático-jornalísticos amplamente corrosivos à reputação de nomes seletivamente citados em oitivas oficiais, a partir de acordos delatórios obtidos via escambo judiciário de comutação de pena (regrado em Vara de primeiro grau, com chancela posterior pelo Supremo Tribunal Federal]; e, fazendo isso, (2) a subordinação de princípios constitucionais a interpretações jurídico-políticas ocasionais e tão absolutistas quanto duvidosas, acima das quais não repousam senão as mesmas hermenêuticas, de par com instâncias superiores que as gestam e as aplicam.
Interpretações jurídicas e políticas em contrário não têm sido suficientes, em matéria de consistência e propósitos, para costurar bom consenso capaz de impedir a constatação de que esse autoproclamado (e não-unanimemente automalquisto) monarquismo judiciário – com cariz jurídica e socialmente um tanto “sanitarista”, alguém poderia alegar – não deixa de sovar o regime democrático, a pretexto de ser sua salvaguarda “técnica”, aparentemente isenta de ideologias partidárias, atirando-o tão violenta quanto silenciosamente à defecção estrutural (longe do tronco-chave ideal de equilíbrio salutar entre os três Poderes republicanos) ao aprofundar o próprio estado de exceção que, a rigor, lhe competia combater, por dever constitucional.
VII
O tocador de tambor soltará disparates sobre liberdade
Bertold Brecht (2000, p. 143)
Em recapitulação desdobrada, os sintomas e expressões sociopolíticos do neofascismo no Brasil são, como visto, facilmente integráveis num fio de meada coerente. Dilapidando progressivamente a competência do Estado como agente empreendedor, para moldá-lo a um esqueleto dinâmico mínimo com prejudicado poder de interferência econômica, a necropolítica neofascista justapõe o rápido e ruidoso distrato de políticas públicas socialmente reparadoras ao desmantelamento legal e sistemático de direitos sociais constituídos, em especial os trabalhistas e previdenciários, canhoneando toda regulação bem-sucedida a favor dos assalariados e mais pobres. Mescla atentados verbais degradantes contra a Constituição Federal de 1988 e falas de promoção pública a facínoras e verdugos de ditaduras latino-americanas das décadas de 1960 a 1980, para vilipendiar, com truculência baldia, todos os defensores de legislações alinhadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sustenta, com transparência voluntariosa, cantilenas de cifra autoritária, como o discurso copioso, com variações sazonais, de que as injunções formais e as regras de equanimidade do Estado de Direito estorvam a governabilidade do país. Por razões conexas, bombardeia media, programas noticiosos, reportagens e artigos de imprensa, bem como produções culturais (filmes, vídeos, peças de teatro etc.) de defesa de valores democráticos e/ou com posição crítica em relação ao Governo Federal. Cumpre esse script de ruína com o mesmo aferro acintoso com que asfixia órgãos oficiais de pesquisa e produção de indicadores estatísticos sobre o estado da arte em vários setores sociais.
Além disso, a necropolítica neofascista concede apoio enfático, em praça aberta, a milícias paraestatais e grupos de extermínio, enquanto, em comissões especiais no Congresso Nacional, força, com assédio obtuso, o assentamento normativo do “excludente de ilicitude”, pomposo “juridiquês” macabro destinado a colocar o país de joelhos ante duas façanhas incivis perpetradas: (1) surrupiar, não sem eufemismo tartufo, a legislação federal que lastreia o projeto (ainda não inteiramente consumado no Brasil) de Estado de Direito; e (2) chancelar oficialmente autorização para que agentes da repressão estatal, convertidos em caçadores neobandeirantes com mãos nervosas no gatilho, matem de maneira seletiva, isto é, tonicamente racista, com pleito adicional de legitimação de fuga a qualquer tribunal penal. Condiciona, assim, invariavelmente, campo fértil para a rediviva agressiva do integralismo brasileiro (readaptado do nazifascismo europeu das décadas de 1930 e 1940), na esteira do recente robustecimento do movimento intervencionista-militar sob álibi constitucional, ao mesmo tempo que forças fundamentalistas repressoras e obscuras (de Estado e informais, mano a mano) veem-se indiscriminadamente liberadas, orgulhosas de si, com ações sem remorsos.
Como não poderia deixar de ser, a necropolítica neofascista exerce e estimula dolosamente a estigmatização sectarista e desonesta das esquerdas, com fundamentação histórica e social colegialmente adulterada: apresentando-as como “perversas”, “sanguinárias” e “perigosas ameaças” ao regime democrático, esparge clima político e mediático inóspito, à base de desinformação repetitiva, para gerar insegurança cognitiva e desconfiança estrutural, ambas com efeito incondicional. Transfere, com isso – não sem dissuasão primária –, seus próprios atributos para o colo do inimigo, no afã de escamotear, sob a cortina de fumaça das imputações, o que os neofascistas genuinamente são, dificultando ao senso comum e à opinião pública não especializada o acesso à percepção de que os odientos e simpatizantes é que de fato constituem ameaça à democracia, a mesma que os neofascistas, vez por outra, se mostram obscenamente vergados a “zelar” para, como grande bomba de ação rarefeita e progressiva, implodi-la aos poucos. Integram esse procedimento tático, na linha de subestimação da ONU, as práticas de corrosão injuriosa e infamante da reputação de personalidades consagradas da história democrática, no Brasil e no exterior, sabidamente alinhadas a projetos progressistas, socialistas e/ou populares de Estado e de ação política. E assim por diante.
Para otimizar os feitos – não é demais explicitar –, a necropolítica neofascista, ardilosamente competente na exploração de brechas jurídicas convenientes, adorna-se de leis vigentes tão somente para esgarçá-las, trocando roupas normativas conforme a ocasião. Confundindo regime democrático e ordenamento legal vigorante, concede a todos, por perfeitamente enquadrada, a aparência de ser inofensiva, pelo que inexistem motivos sensatos para temores, por exemplo, em relação às políticas neoliberais, supostamente necessárias em si. Tais políticas obedecem, no entanto, a fundamentos marcantemente antissociais na medida em que se colocam em ruptura absoluta com o princípio de reaquecimento consistente da economia através de participação produtiva, regulatória e intensa do Estado, norteado por projeto de sociedade sob compromisso de combate sistêmico às desigualdades socioeconômicas e de geração progressiva de empregabilidade formal.
A grande peste – vale notar – reemerge mais arrebatada e autoconfiante (como sob a justificativa de um ressentimento represado em humilhações de décadas) não somente através da legitimidade de um ciclo eleitoral e/ou das engrenagens titubeantes do Estado de Direito brasileiro, mas principalmente sob a simulação populista de permanecer enquadrado dentro delas. A memória ombreia a justiça contra ciladas e engodos: o neofascismo – frise-se –, embrionário nas relações sociais cotidianas, como movimento sorrateiro e com potência de disputa pelo controle do Estado, serpenteia, quando vitorioso, ascensão por dentro dele apenas para realizar o mesmo sinistro de forma velada e lenta, a saber, eliminar mais gente pelo crivo de uma contabilidade tecnoburocrática assustadoramente indiferente. Por razões estratégicas, essa necropolítica pode até valer-se de cinismo institucional e discursivo para “promover” o modelo de democracia formal em várias vitrines mediáticas, tão somente para, na surdina, realizar exatamente o contrário.
Estruturalmente, a produção simbólica dos meios de comunicação de massa, em especial no que concerne ao jornalismo das grandes corporações (televisão e rádio à frente), acaba por participar, infelizmente, por voluntariedade ou osmose, dessa dissuasão sub-reptícia e frívola ao “aplaudir” diariamente o desmonte neoliberal centrípeto do edifício da democracia com pacotes de “serviço noticioso” a respeito, de “alta qualidade técnica”, “objetividade” e “imparcialidade”, como se a dizer – como concessões do Estado que são –, a contragosto de suas próprias vistas grossas, que aceitam ou toleram a destruição antirrepublicana desde que tudo promane da ordem jurídica vigente.
Sublinhe-se, aliás, que a grande peste, glocalmente esparramada, reaparece por todos os poros da sociedade: nas ruas, câmeras à mão; nos grupos familiares e vicinais, com comida farta à mesa ou não; nos e pelos media de massa (jornais e revistas impressos, além de TV e rádio), pelos media e nichos interativos (sites, blogs, plataformas, perfis, canais etc.), por multitecnologias (desktops, laptops, netbooks, tablets, cell phones), entre outros recursos. A grande peste é tecnologicamente íntima de corpos adesistas: grassa tanto mais por meio de próteses comunicacionais, as mesmas que, pela miríade circulante de comments e posts, obsidia também corpos que lhe rechaçam por princípio. Uma vez que não existe autoritarismo (seja de que tipo for) sem o concurso da comunicação (vinculada a uma forma específica de estética), doravante o neofascismo provém da e pela realidade glocalizada em tempo real, da e pela visibilidade multimediática, a elas serve, enquanto, nelas cravado (via gadgets e devices), deseja piamente avolumar-se, garantindo sua duração. Fake news diuturna e sistematicamente preparadas por hordas digitais (oficiais ou não), com media táticos, em práticas de guerrilha virtual, incluindo atuação no e a partir do pantanal da deep Web; delegação robótica online potencializando socialmente abalos desinformativos premeditados; propaganda acintosa e reiterada da cartilha neoliberal; coletivas relâmpago de imprensa com claque planejada; omissões oficiais deliberadas e características consortes – todos esses fatores de comunicação pertencem a uma mesma lógica política de época.
Malgrado a série de bufonarias mediáticas só aparentemente espontâneas ou acidentais, que de fato não fazem senão despersuadir quanto aos intentos funestos mais profundos, a necropolítica neofascista egressa do pleito de 2018 é uma “máquina de guerra” em autoaprendizado veloz (especialmente sobre como retrodesconfigurar in totum o social pós-1988), em reajustamento interno permanente e cada vez mais preparada para o cerco organizado (sempre negado, mas efetivo) às tendências discursivas divergentes que – chovam canivetes – tendem a quadruplicar influência política, cultural e/ou mediática nas próximas décadas. Mais oleada nas engrenagens, ela totaliza, assim, pretensiosamente, a sua projeção securitária tanto sobre os magmas da história, quanto sobre suas fachadas narrativas, pregressas e vindouras.
Não constitui inverdade conjeturar que, em reação virulenta e populista aos avanços sociais dos governos progressistas de esquerda do início do século, a necropolítica fascista, desejando deflagração da “guerra cultural” na América Latina, tornou a escolher o Brasil (depois de mais de sete décadas) como cobaia geopolítica, na esteira atualmente protegida pelo espelho mais próximo, a extrema direita norte-americana, para cujas listras e estrelas corporativas apenas sabujos e saiões (sem consciência de vexame) batem continência em público.
VIII
A escuridão estende-se mas não elimina
o sucedâneo da estrela nas mãos.
Carlos Drummond de Andrade (2000, p. 31)
o enterro espera na porta:
o morto ainda está com vida
João Cabral de Melo Neto (1997, p. 169)
A subtração discursiva, como política de Estado, de conquistas civilizatórias e/ou valores civis ao panteão da evidência constitui fato histórico-cultural de monta. Quando se torna necessário defender com unhas e dentes a diversidade cromática de alguma obviedade em vigor, o procedimento, por sua própria existência, sem o concurso de qualquer argumento ou conteúdo, revela o tamanho do retrocesso histórico em matéria política. Por mais perplexidade que hoje cause a cidadão instruído de qualquer país economicamente afluente a partir da segunda metade do século XX, a coibição política e jurídica de ideias, discursos e práticas de arruinamento do valor da liberdade de pensamento e expressão, por exemplo, passa, no Brasil pós-2018, pela necessidade de defesa incondicional da experiência democrática em versão ainda démodé, formal, isto é, estatal e abstrata, ancorada em interações institucionais de Poderes modelares e rituais eleitorais. Trata-se, por evidente, de democracia mínima, totalmente insuficiente, longe do horizonte da democracia real nas relações sociais em âmbito cotidiano, para onde, a solavancos e sabotagens periódicos, parecia rumar, até recentemente, a sociedade brasileira.
O que, entretanto, compareceu por décadas como conquista indiscutível, assentada, com prosperidade, para próximos passos de desenvolvimento econômico e cultural (a exemplo da trajetória histórica de vários países da Europa), voltou a ser urgente em território nacional, como forma soluçante de resolução de uma grave regressão histórica. Quer dizer, com todos os danos e prejuízos já existentes, de profundas desigualdades, muito em função do modelo limitado de democracia vigente – na verdade, o que sobrou dela no país –, as circunstâncias social-históricas e políticas compelem a defendê-la a priori, na qualidade de bem maior, como única forma de evitar situação pior, engastada em exceção mais tônica. Esse mister corrobora o justo coro internacional em curso, debruçado sobre a recente trajetória política do mundo: por mais quimérico que o absurdo já seja, tornou-se crucial resguardar a sete chaves o frágil legado de avanços institucionais e multilaterais pungentemente extraídos de impérios e totalitarismos, ditaduras e golpes, a fim de conceder-lhe prazo histórico indefinido, para respiro livre, aperfeiçoamento conforme culturas locais e frutificação estendida, mais consequente e cotidiana que a atualmente obtida, rumo a uma civilização democrática – se possível, reinventada – envolvendo o maior número de países.
Ainda que projetadas por fonte ideológica passível de crítica radical e/ou de revisão social e axiológica legítima – quer dizer, a modernidade política do iluminismo francês –, as democracias aí presumidas, que retomam experiência sistêmica greco-clássica, são muito jovens para fenecer de desventuras necropolíticas resilientes, como o neoliberalismo e/ou o neofascismo. A validade teórico-prática per se dessa proposição independe do fato de que, desde a primeira emergência social-histórica da experiência democrática, os seus modelos atuais protagonizaram guerras em série (de autodefesa, de contra-ataque e/ou de belicismo unilateral) ao longo do século XX e até o momento (duas guerras mundiais campais; longa “guerra fria”, de espionagem e chantagem, que perduram; e guerra contra o terror de movimentos fundamentalistas fragmentários, financiados por Estados contraocidentais). No Brasil e na América Latina, essa experiência não tem mais que 50 anos.
IX
Pisa com força o chão da noite.
Deixa na travessia
Estrelas armadas marcando a rota.
Não tarda a hora:
afeita a dura jornada,
a multidão se erguerá inumerável.
Pedro Tierra (2000, p. 69)
Evidentemente, o sucesso numérico em sufrágio universal dentro do edifício democrático jamais chancelará direito a quem quer que seja e/ou qual movimento social for de bombardear os pilares do edifício inteiro. Nenhum desempenho eleitoral exitoso avaliza o triunfalismo ufano de conduzir a coletividade à boca do precipício.
Contra o descalabro anunciado por essa regressão social-histórica, o ethos não-dicotômico,a philia estratégica ampliada e o pathos neguentrópico anteriormente assinalados requerem, como terreno fértil de combate, o desenvolvimento de práticas glocais politizadas, multimediáticas e norteadas por princípios democráticos, sobretudo em contextos digitais e interativos, visando a produção discursiva de transparência republicana e antifascista. Por outro ângulo, o embate entre visões de mundo, ideias sobre a organização da sociedade e projetos políticos para o futuro do Brasil deve ser alçado ao nível de uma visibilidade dissecadora de embustes e mistificações e em prol do esclarecimento público sobre e contra os delírios ideológicos da hiperestética neofascista, com foco prioritário nas fake news e interpretações que, da história à ciência, da filosofia à política, da educação às artes, deturpam, com intentos reacionários e estapafúrdios, a lógica de fatos pacíficos (malgrado a sua relatividade histórica) e engendram desinformação estrutural. (Nos últimos anos, as adulterações da extrema direita ousaram vã ascendência sobre paradigmas científicos especializados, com repercussões enraizadas na mentalidade de senso comum. O discurso ultraconservador atacou, por exemplo, as teses da circunferência da Terra e do sistema heliocêntrico; amanhã poderá ser a vez da lei da gravidade e de outros consensos serenos… No campo da arte, ouviu-se, em vídeo no YouTube, postado pelo brasileiro ressentido de Richmund, nos Estados Unidos, que o filósofo alemão Theodor Adorno teria composto as músicas dos Beatles… Permanecendo em idêntica rota, essa infelicidade extemporânea não estará longe de propor que os aparelhos eletrônicos desenvolvidos pela modernidade política podem ser mantidos ou carregados com tomadas assestadas em narinas humanas. Garante bom alento a certeza de que o próprio avanço científico, avassalador em seu rápido desdobramento internacional, acaba cuidando de expurgar tais efemérides do caminho aleatório da história, fazendo-lhe remissão em simples nota de rodapé, com tratamento hilário.)
A produção discursiva glocalizada de visibilidade neguentrópica constitui trabalho sociocultural e político coletivo de colocação cabal da catástrofe neofascista à luz, de produção incansável de transparência desmanteladora de todas as suas excrescências (das invisíveis às grosseiras), em ritmo cada vez mais concatenado e alargado, em e a partir de todos os campos do saber e de atuação (com urgência para aqueles sob ataque ou ameaça), mediante ações dentro e fora do sistema escolar e universitário, na linha que se estende da esfera do trabalho à do tempo livre, pelos movimentos ou segmentos políticos, jurídicos, culturais, acadêmicos, jornalísticos e afins, num esforço do pensamento republicano-democrático radical voltado para influir na qualidade da cidadania socialmente produzida e na formação crítica das gentes, tanto as atuais quanto as vindouras, em todas as faixas etárias, desde tenra idade. A construção institucional e social de uma couraça política e cultural de princípios antifascistas, aterrada na vida cotidiana e em expansão contínua, é e sempre será a melhor prevenção, com protestos em massa glocalizados e/ou diretamente nas ruas, sempre que necessário.
Assim como ocorreu ao longo dos 21 anos de ditadura civil-militar-empresarial, a produção artística norteada por intencionalidade politizadora de contradito, em todos os ramos (na música, no cinema, no vídeo, no teatro, na literatura, na fotografia, na stand-up comedy etc.) e em todos os ambientes mediáticos, tende a jogar – em conjunto com as categorias jurisprudente e advocatícia democráticas, com a comunidade (hoje ameaçada) de educadores e com os movimentos sociais de esquerda – papel exponencial no processo de fortalecimento do campo estrutural e dinâmico progressista, internamente diverso e, ao mesmo tempo, programaticamente uníssono em prol da reorganização da sociedade brasileira. Essa função cultural fundamental se coloca igualmente em compatibilidade com o trabalho coletivo, dentro e fora dos partidos políticos, dos parlamentos e dos próprios movimentos sociais, nas ruas e/ou nas redes, de acompanhamento acurado do processo histórico de enraizamento da democracia no país, com efeitos transformadores (lentos, mas aguardados) nas filigranas das relações sociais cotidianas.
A exemplo da ideologia “nacional-socialista” alemã da segunda década do século XX, precursora do III Reich e de sua polícia secreta, a SS, e que muito utilizou a tecnologia do rádio comercial emergente à época, o neofascismo brasileiro, acometido de exacerbação sígnico-mediática e descomedimento verbal politicamente borderline, há, em tese, de vitimar-se também pela própria boca voraz. O plano simbólico da cultura, cheio de contradições históricas internas, em cujo submundo o neofascismo se constituiu e “plantou” a tal “guerra cultural”, deve ser, pela total abertura à diversidade plurivocal e, por que não, à saturação política pró-democrática, o próprio antídoto desse movimento necropolítico.
Epílogo
[…] ainda
há canções a cantar além dos
homens.
Paul Celan (1977, p. 64)
A rua infinita
vai além do mar.
Carlos Drummond de Andrade (2000, p. 20)
Ou as forças progressistas e mais preparadas do espectro de esquerda, catalisando diferenças simpatizantes e não-oportunistas – com olhos atentos à natureza e ao rumo das alianças – colaboram vivamente para vencer a “guerra cultural”, na escala social-histórica e política em que ela se projeta no Brasil, ou a necropolítica neofascista engolirá maciamente todos os diferentes e mais pobres (inclusive os correligionários e/ou úteis), fazendo-os fenecer aos poucos, com custosas consequências para a miríade de alinhados que restar – até, quem sabe, o futuro próximo seduzir os enlevos mais bárbaros e cínicos para instalar o vitupério da civilização na sala de estar da história, justamente por meio das leis, normas e regras que as forças progressistas construíram, na extensão do próprio mundo civilizado, para impedir a rediviva da grande peste.
Reação teórica (de fundo político) ao estado de exceção vigente e ao seu caldeirão de inclinações nefandas, o presente texto – conforme assinalado na primeira nota de rodapé – abdicou certamente de qualquer novidade ao ser redigido para corroborar os esforços de salvaguarda e a necessidade de reinvenção dos valores republicano-democráticos, bem como robustecer os fundamentos da união programática e permanente das forças sociais sobre cujos ombros a realização dessa tarefa histórica deposita hoje as suas esperanças. Em diapasão ampliado, o momento clama, no fundo, o concurso alerta da sociedade civil organizada e comprometida com esses valores. Não foi outra a exortação do poeta, expressa de forma tão seca quanto luminar, “quando o fascismo se tornava cada vez mais forte”, na transição da segunda para a terceira década do século passado:
Lutem conosco numa união antifascista[10]!
(BRECHT, 2000, p. 95).
A infelicidade política e institucional da regressão social-histórica atual no Brasil talvez faça a arcada temporal da presente reflexão, com ares como visto pesados – à altura da responsabilidade e da convocatória do momento –, cobrir, a contragosto espalhado, as próximas duas ou três décadas. A profunda indignação de parcela significativa da população com a necropolítica neofascista oxalá tenda a fazer a mensagem principal da reflexão, junto a tantas similares já divulgadas – aqui apenas um pouco mais sistematizada e extensa e, talvez por isso, no verso extra, um graveto de brasa mais convincente –, alocar-se politicamente além da cena descrita certa vez por Lacan, a préstimos de testemunho pessoal, em surpreendente metáfora, desdobrada ao longo de quase duas dezenas de páginas:
Sempre falei com as paredes.
[…] é que, ao falar com as paredes, isso interessa a algumas pessoas.
A parede [le mur] sempre pode servir de espelho [muroir][11].
Jacques Lacan (2011, p. 80, 99)
Na precariedade das certezas, vige apenas o fato de que se sai sempre menos forte do trabalho de revide quando, no transcurso das estratégias e procedimentos e, ainda mais, depois dele, se sob vitória efetiva, o conforto conquistado desanimar para as lições políticas mais urgentes e continuadas.
A defesa, hoje como ontem, dramática, da democracia no Brasil apenas espera não viver o desprazer de ter de ouvir – quantas vezes? – que as diferenças históricas e identitárias no âmbito político das esquerdas são tantas que o combate à necropolítica neofascista terá de ser feito conforme o padrão de ação majoritário até agora, isto é, segmentado e/ou fragmentário, quando não aleatório. O adversário faz apostas de carniça; e, como se sabe, inclui tal padrão em uma delas. Que a expectativa democrática contrária tenha como companheira a recusa do olvido, com força capaz de converter a memória da história recente num monumento coletivo e representativo de honra à voz da poesia que prometeu jamais se render ao “verso fácil”, na pessoa de Hamilton Pereira da Silva, heterônimo único Pedro Tierra ([1975], 2009)[12], poeta brasileiro de alma inteira, preso político de 1972 a 1977, que geopolitizou o poema na finesse de origem – “minha terra” – e que, ombreando o Brecht da tenebrosa fase de entreguerras (conforme epígrafe ao bloco temático V), recusou “o lírio / das feiras semanais de flores mortas”, entrava no poema “amordaçado” e de “mãos atadas”, oferecia-o “sangrando (…) [seus] dedos / no cimento da cela” e, lembrando que “a poesia… / contra todas as formas de morte / floresce”, versejou, também a seco:
Nenhuma investida dos cavaleiros da morte
será silenciada.
E, sob a crueldade de “luas acorrentadas” que lhe feriam “o pulso / num riso de ferros / comprometidos” (ibid., p. 175), testemunhou:
Este poema não é murmúrio,
é vidro quebrado na garganta,
grito mastigado
na hora do suplício.
A arte como decantação mais requintada da liberdade de expressão é uma das primeiras a sofrer na pele o áspero breu da lâmina. No manancial das entrelinhas como de cada verso penoso, de cada pincelada moída, de cada escultura inacabada, somente a arte, antes, durante e depois da brutalidade dos fatos, consegue, na sensibilidade mais profunda do signo, reunir todos os gritos suplicantes, toda revolta retida, de convicção marchante, contra a tirania. Monumento à dor irredimível do mundo espinhada nos jardins frontais de todos os palácios blindados, a arte – “pisada, cuspida, torturada” (ibid., p. 173) – se matura no plúmbeo inferno dos dias, sempre vulcânica em primavera exemplar, a pele nua e soberana, sangue ainda úmido.
A iminência de adversidades faz as oitavas graves fundamentarem o necessário: jamais esqueçamos os poetas (aqui representando todos os trabalhadores da arte) que se negaram a ceder à sedução do silêncio, muito menos ao sorriso obtuso do adversário que, graúdo e vil, camufla a covardia no brasão armado do verdugo diante do indefeso. Há épocas em que só o feixe permanente de ombros, braços e futuros pode, vívido na memória, alcançar o honroso estágio de uma evocação justa. Os poetas, fieis ao sofrimento humano mesmo onde o corpo e a alma morrem um pouco a cada manhã, lapidam horizontes na pedra – “liberto a palavra da sombra e escrevo na pedra o contorno provisório dos meus sonhos”, que “revivo, cinza recomposta, nos sonhos de cada um” –; esses poetas, recordando os verdadeiros heróis, redimem a alma e a trajetória dos desvalidos, dos desgraçados, dos inocentes e de “todos que partiram sem dizer adeus”[13]. Somente uma rudeza universal de espírito, compatível, aliás, com a grosseria dos tempos em curso (não somente no Brasil), pode cometer a indelicadeza de olvidar, sem se irmanar, sem se fortalecer, sem levantar barricadas, quem viveu “o chão dos mortos”, “uma terra onde se costura / a boca dos homens” e, ainda assim, ofereceu sua poesia, na totalidade de seu ser – “pulso rompido, / veias abertas” –, como “o barro de um país em luta”, com olhos voltados para a reconstrução da vida:
Cultivarei o chão da manhã.
Com estas mãos
ainda algemadas.
Como que do fundo mais inesperado da silente justiça da história da cultura, não deixa de conceder inenarrável orgulho esta evidência: torturadores não têm poetas; e, se os tivessem, fariam insulto a toda a literatura. Animais de porões de suplício, inebriados por sangue (para invocar Dostoiéviski) muito menos serão poetas. O ethos da poesia recorta a história identitário a si: expurgou-se, desde sempre, das mãos carmins dos facínoras. Algo diverso ocorre em relação a seus mandantes: fascistas “superiores”, engravatados ou não, têm artistas prediletos. Basta o gosto: não há necessidade de ser o próprio artífice para macular a arte. Eis porque, num caso como noutro, só existem razões, na contramão e à luz do inigualável, para reelaborar a escuridão através da voz dos poetas: ditadura, tortura e fascismo nunca mais. O lema antitotalitário, universal em caráter, encerra igualmente uma antítese idiossincrática e humanitária no anseio. Os poetas costumam assentar morada onde a desolação, a desilusão e o desatino germinam terreno próspero para que alguma armadilha de engenho um dia as anule. Sua mensagem, inserida a um só tempo no seixo de agora e no mármore vindouro, aguarda, em protesto ora discreto, ora abrasado, a justiça sem máscaras que a dissolverá, extirpando a aflição (explícita ou inespecífica) que a fundou. Essa justiça, que se mira sem vergonha de si, leal à reparação de danos – os mesmos que, para serem combatidos e minimamente superados, requerem o passado –, vê-se exclusivamente atraída, em grande afeto, por quem não esquece.
São Paulo, verão de 2020.
* Eugênio Trivinho é Professor do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Referências
BOURDIEU, Pierre. Contrafogos 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
BRECHT, Bertold. Essa confusão babilônica; Quem se defende; Em tempos negros; Começo da guerra; Amigos; Cartilha de guerra alemã. In: ——. Poemas 1913-1956. Tradução de Paulo César de Souza. 6. ed. São Paulo: Ed. 34, 2000. p. 31-32, 73, 136, 143, 146, 157-160.
CELAN, Paul. Fiapossóis. In: ——. Poemas. Tradução: Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977.
CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Real Academia Española; Alfaguara, 2004 (Edición del IV centenário / Associación de Academias de la Lengua Española).
CHENG, François. Duplo canto e outros poemas. Tradução: Bruno Palma. Cotia, SP: Ateliê, 2011.
DOSTOÏEFFSKY, Fedor. The house of the dead: or Prision life in Siberia. London; New York: J. M. DenT & Sons; E. P. Dutton, 1911.
DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Carrego comigo; Nosso tempo.In: ——. A rosa do povo. 21. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2000. p. 18-22, 29-37.
GIANNOTTI, José Arthur. Trabalho e reflexão. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.
HEANEY, Seamus. Digging; Summer home; From whatever you say say nothing. In: ——. Selected poems: 1966-1987. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014. p. 1-2, 34-36, 78-80.
IM, Yun Jung. Olho de corvo: e outras obras de Yi Sáng. São Paulo: Perspectiva, 1999. (Coleção Signos, 26).
JELSCH, Judith. The British Museum viking poetry of love and war. London: British Museum, 2013.
LACAN, Jacques. Estou falando com as paredes: conversas na Capela de Sainte-Anne. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018).
MARTINS, Cristiano Zanin; MARTINS, Valeska Teixeira Zanin; VALIM, Rafael. Lawfare: uma introdução. São Paulo: Contracorrente, 2019.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.
_______. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução de Renata Santini. Rio de Janeiro: n-1 edições, 2018.
MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. In: ——. Serial e antes. 4. imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. p. 143-180.
MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. São Paulo: Ed. 34, 2016.
MÜLLER, Luiz. O triunfo de Tânatos: o fascismo bolsonarista como encarnação da necropolítica. A casa de vidro, 09 nov. 2018. Disponível em: https://acasadevidro.com/2018/11/09/o-triunfo-de-tanatos-o-fascismo-bolsonarista-como-encarnacao-da-necropolitica/. Acesso em: 21 jan. 2020.
NOGUERA, Renato. A democracia é possível?.Revista Cult,n. 240, 05 nov. 2018. (Disponível parcialmente em https://revistacult.uol.com.br/home/democracia-e-possivel/. Acesso em: 21 jan. 2020.)
PASCAL, Blaise. Pensées. Édition de Michel Le Guern. Paris: Gallimard, 2004.
PELBART, Peter Pál. O devir-negro do mundo. Revista Cult, n. 240, 05 nov. 2018. (Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/o-devir-negro-do-mundo/. Acesso em: 21 jan. 2020.)
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. (Edição especial).
SOUZA, Jessé de. Elite do atraso. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2019. (Edição revista e ampliada.)
TIERRA, Pedro. Com estas mãos; Não olhes para trás…; Persiste a sombra; A razão do poema; Regresso à terra; Golpe. In: ——. Poemas do povo da noite. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo; Publisher Brasil, 2009. p. 67, 69, 90, 173-174, 175-176, 178.
TZU, Sun. The art of the warfare. Translation by Roger Ames. New York; Toronto: Ballantine; Random House of Canada, 1993. (The first English translation incorporating the recently discovered Yin-ch’üch-shan texts.)
VIOLI, Paul. Tyrannosaurus Bronx; Four poems. In: ——. Selected poems: 1970-2007. Edited by Charles North and Tony Towle. Berkeley, CA: Rebel Arts, 2014. p. 27, 28.
VIRILIO, Paul. L’espace critique. Paris: Christian Bourgois, 1984.
_______. L’inertie polaire: essai. Paris: Christian Bourgois, 2002.
ZUHAYR. ZUHAYR, filho do pai de Sulma. In: Poemas suspensos: Al-Muallaqat. Tradução de Alberto Mussa. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 139-154.
Notas
[1] [Advertência:] Ensaio exclusivamente de divulgação, os subsídios teórico-estratégicos e pragmáticos nele reunidos cumprem, a rigor, lealdade ao subtítulo originariamente previsto (e depois substituído por trecho menos específico), a saber: ethos não-dicotômico, philia estratégica ampliada e pathos glocal neguentrópico em tempos de reescalonamento micropolítico da cultura. Essas expressões conceituais são esclarecidas e articuladas ao longo da argumentação.
A natureza e o propósito do texto, redigido e intitulado antes do primeiro caso de contaminação pelo COVID-19 na China, inspiraram a autoria a suspender a observância a procedimentos acadêmicos regulares em prol do esclarecimento ampliado, voltado para públicos variados. Por esse motivo, a argumentação foi estabelecida de modo a prescindir, no quanto possível, dos adornos técnicos normalmente baseados na metodologia de citação em série. Esse recurso gravitou majoritariamente em tornou da fixação de epígrafes e manchas de texto inspiradoras. Da mesma forma, as notas de rodapé foram reduzidas ao número necessário.
A apresentação cerrada e sistemática do ensaio faculta-se a hábitos linguísticos indesatáveis da autoria. Os leitores perceberão muitos trechos selados a tintas calcadas: visam tão somente equivaler, como simbolismo óbvio, mas com adequada intenção sinalizadora, à gravidade social-histórica do statu quo brasileiro atual; e, no mais, servem, avessas a panfletarismo, para demarcar a qualidade de um lado: mais que propositivo, o texto é engajado – de combate, por assim dizer –, concebido e redigido com regozijo de alma, convicta pelos valores professados e pela meta delineada. Por circunstâncias que a história se encarrega de simetrizar, o ensaio evoca e cumpre o que Pierre Bourdieu, rompendo com o paradigma weberiano de divórcio analítico entre ciência e política, assentou, em 2000, no Prefácio a Contrafogos (p. 7), um de seus escritos mais comprometidos politicamente e com impressionante atualidade: “[…] aqueles que têm a oportunidade de dedicar sua vida ao estudo do mundo social não podem ficar neutros e indiferentes, distanciados das lutas das quais o resultado será o futuro desse mundo”.
Embora não estritamente acadêmico, o texto mobiliza, por evidente, conhecimento científico e literário a serviço da divulgação em linguagem livre, porque é praticamente impossível tratar da temática, no chão da própria terra, sem mãos sóbrias na contraespada de resguardo, os olhos na resistência ativa e um pé nas ruas. Mais que todos, e antes deles, os poetas conhecem o desígnio. Com variações de forma e cor, seus versos, porque no sangue, o exalam, independentemente do casulo de pertença:
Between my finger and my thumb
The squat pen rests; snug as a gun.
Seamus Heaney (2014, p. 1)
E para quem a dúvida ainda visite sobre se, na história da cultura, a poesia, tida sempre como branda, luta, ouçamos o testemunho dramático de quem padeceu, a céu aberto, seus próprios versos:
A poesia não marca hora.
[…]
Eu a encontrei num dia de chuva,
durante o combate.
Trazia um vento de Liberdade na boca
e a metralhadora nas mãos.
Pedro Tierra (2000, p. 173)
Que, do ponto de vista estritamente metodológico, o texto pareça menos científico se autoexplica (e assim também se justifica) na e pela convicção de que a melhor resposta a todas as formas de brutalidade (do) social dever advir não somente da e pela rua (e, hoje, na e pela rede), mas também pela arte de todos os gêneros, em todos os suportes, em especial sob o alento assíduo das estratégias linguísticas e préstimos éticos da razão de contradito. A estrutura formal do texto, evocativa da composição de uma peça de teatro, repercute – quer-se crer – esse princípio, tanto mais quando na companhia fundamental e pontilhada dos poetas.
No mais, o ensaio foi concebido, exclusivamente, para defender o que sobrou da democracia no Brasil, engrossar as fileiras da reinvenção dos valores democráticos e adensar fundamentos para amalgamar as forças de esquerda e progressistas em torno dessas tarefas, como contribuição ao combate ao neofascismo no Brasil.
[2] A questão é abordada nos blocos temáticos IIIb e VI, adiante.
[3] Vejam-se os blocos temáticos III, IV e VIII.
[4] As relações entre necropolítica, fascismo e bolsonarismo foram, pela primeira vez, articuladas, de forma relativamente sistemática (embora não definitiva), por Peter Pál Pelbart, Renato Noguera e Luiz Müller, em artigos de filosofia e sociologia engajadas, publicados em novembro de 2018, ainda sob o impacto das eleições de então. Os textos de Palbert e de Noguera, “O devir-negro do mundo” e “A democracia é possível?”, respectivamente, apareceram na Revista Cult, n. 240 (nov. 2018); e o de Müller, “O triunfo de Tânatos”, foi divulgado online (no mesmo mês). (Vejam-se as referências bibliográficas.) No que tange à necropolítica, os autores se baseiam na argumentação pioneira de Joseph-Achille Mbembe, em Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte e/ou Crítica da razão negra, obras fundamentais para a compreensão do conceito e de sua abrangência empírica, especialmente vinculada à dimensão racial e pós-colonial da política e da cultura, com repercussões econômicas profundas nas condições de vida cotidiana, de trabalho e de lazer dos negros e dos grupos sociais economicamente desfavorecidos e estigmatizados.
A presente reflexão, inspirada nas relações entre neoliberalismo, necropolítica neofascista e bolsonarismo, constitui livre desdobramento do horizonte entrevisto pelos quatro autores, como contribuição teórica ao reconhecimento das múltiplas facetas da temática, igualmente para além da racialização colonialista da pele, na direção de uma necropolitização socioestrutural do sistema político sob condições neoliberais. A tarefa é cumprida com o e sob o espírito de complementaridade – ombro a ombro – subsumido na meta aqui proposta, de conjugação programática e progressista das esquerdas, conforme adiante.
[5] A complexidade da lógica social lawfare, apreendida no presente estudo como macroacontecimento sociomediático acossador, arrasta vasta bibliografia interdisciplinar, ainda pouco conhecida no Brasil. Nela, o conceito, ligado originalmente à mobilização da legislação vigente como instrumento bélico, comparece também relacionado à aplicação de técnicas psicológicas e comunicacionais sobre a opinião pública e populações inteiras, para cumprimento de objetivos diversos (políticos, geopolíticos, religiosos, comerciais etc.), em escala nacional e mundial. Tout court – para privilegiar um importante recorte brasileiro dessa bibliografia, compatível com exposição abrangente sob o prisma crítico do Direito –, veja-se Martins, Martins e Valim (2019).
[6] O trecho evoca a obra sociológica fundamental de Jessé de Souza – para a compreensão renovada do Brasil –, especialmente Elite do atraso (2019).
[7] Frase colhida por Pascal em Essais, de Montaigne (Livro I, Capítulo XIV).
Versão em francês, nos Pensées (p. 518), fixada por Michel Le Guern: Nation farouche, qui ne pensait pas que la vie sans les armes fût la vie. Tradução de Sergio Milliet para o português: nação feroz que não acreditava se pudesse viver sem combater” (apud Montaigne, 2016, p. 98). Versão alternativa, próxima do francês: “nação feroz, que não acreditava que a vida sem armas era vida”.
[8] A referência é de Roger Ames, tradutor da primeira edição norte-americana de The art of the warfare (op. cit., p. 10) com base na nova versão do texto de Sun Tzu descoberta em escavações arqueológicas em Yin-ch’üeh-shan, na província de Shantung, em 1972. O achado apresentou exposições expandidas dos tradicionais treze capítulos da obra e ainda outros cinco, até então perdidos.
[9] Sob o conceito de “populismo penal”, Luis Nassif reconheceu, de forma sucinta, brilhante e completa, esse traço ameaçador (já nem tanto sutil) do Poder Judiciário brasileiro (incluindo o Ministério Público Federal). Em vídeo no YouTube, intitulado “O século do Judiciário, a maior ameaça à democracia”, o analista político arrola exemplos recentes, no Brasil e no mundo (encontráveis no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e no Peru), em que o Poder Judiciário, caudatário do Estado de Direito sob presunção necessária da defesa de valores e garantias civilizatórias, protagoniza política copiosa de compliance sob série de conveniências megaempresariais e delatórias, no cumprimento de cujo expediente acaba por ferir Cartas Magnas ao se conceder funções investigatórias e ao tolher o instituto do devido processo legal norteado pelo preceito do contraditório pleno, dado no amplo direito à defesa; e, nesse caminho, fecha o ciclo inteiro do serviço executivo com perseguições políticas chanceladas por decisões superiores próprias, lastreia prisões arbitrárias e espetaculosas como se fosse a instância corretiva suprema da sociedade e, por fim, prevalece como o locus de referência para o julgamento de eventuais recursos de apelação. O vídeo está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0grwaf6x7Go.
[10] Havia hífen nesta palavra (aqui elidido), em razão de a tradução do poema ter sido fixada em 2000, antes de o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrar em vigor.
[11] Muroir: paranomásia do psicanalista francês por aglutinação dos vocábulos nativos mur e mirror (espelho), segundo a tradutora da obra, Vera Ribeiro.
[12] Os trechos aspeados na sequência (exceto o da nota 13, abaixo) articulam sentidos de cinco poemas do autor, citados na bibliografia.
[13] Trecho da dedicatória de José Arthur Giannotti em Trabalho e reflexão (São Paulo: Brasiliense, 2. ed., 1984).