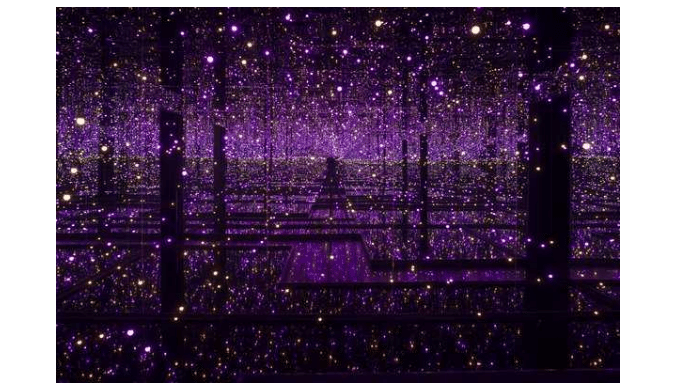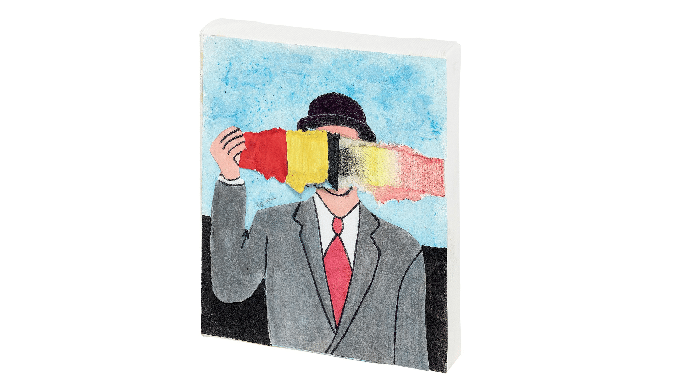Por BENJAMIN MITCHELL*
Comentário sobre a alegoria, a relação entre a ficção e o documentário, e o encontro colonial no cinema do país
Primeira questão: a alegoria
A questão da natureza necessariamente alegórica de todo texto “terceiro mundista” traz uma ressonância especial no desenvolvimento do Cinema Brasileiro no decorrer deste século. É uma questão que me parece de modernização: a constatação de que textos marcadamente nacionais, mesmo quando figuram uma narrativa completamente internalizada, são capazes de refletir o posicionamento global de noções do que, erradamente, chama-se de “terceiro mundo”.
Esta ideia carrega aplicações imediatas na literatura, mas sua utilização na área das imagens em movimento é outra história. O desenvolvimento do cinema como arte e mercadoria acontece de forma paralela ao processo de modernização da América Latina, e, consequentemente, reflete como uma nação como o Brasil reagiu à modernização e ascensão da tecnologia. O cinema ocupa lugar de destaque no pensamento de Jameson por esta razão. No Cinema Brasileiro, textos nacionais são agora mediados pela tecnologia; são moldados por seus meios de produção e definem-se através de rotas mecanizadas. O objetivo então é investigar como os filmes brasileiros forneceram alegorias para a complicada situação do Brasil.
Nas seguintes análises, nosso objetivo é explorar as formas pelas quais a crença da modernização neste século, com todas as implicações inerentes aos distorcidos mercados globais e aparatos de hegemonia cultural, transformaram e mistificaram a dinâmica nas narrativas privadas e particulares. O cinema fornece uma estrutura para essas novas mitologias, e é isso que é essencial aqui.
No filme Boca do lixo de Eduardo Coutinho (1994), os espectadores são apresentados a uma vasta gama de destinos individuais e privados. Tais destinos são revelados sob a forma do que poderia ser chamado de sequências-retratos: fragmentados a partir de segmentos titulados, cada bloco cria um espaço no qual as vidas de muitas pessoas diferentes são exploradas. Em suma, tais retratos formam a substância do filme de Coutinho. Na sua essência, são inseparáveis do que constitui o resto do vídeo, que busca mais do que um simples registro do fenômeno do empobrecimento dos brasileiros que lutam pela sobrevivência num enorme depósito de lixo da periferia do Rio. De formas variadas, este documentário ilumina exatamente a fala de Jameson.
Através do filme, certo tipo de tensão está sempre presente, o que não nos surpreende, dada a natureza bastante ambígua da comunidade que povoa o lixão. A gente quase chega a sentir essa ambiguidade por parte do realizador, pois ele também se debate com um fenômeno cultural cujo significado não fica ostensivamente evidente nem chega a ser apreensível de imediato. Coutinho inicia seu filme, então, a partir do próprio lixão. Entretanto, o que se torna evidente para o espectador é a impossibilidade de isolar o lixão das pessoas que ali catam. A comunidade e o lixão existem in tandem, em cooperação, a despeito de cada um. Estas imagens iniciais às vezes chegam a ser um pouco inadequadas ao processo: a própria repulsa do lixão é paralela com as técnicas pacientes do catar desempenhadas pelos habitantes. Nossa reação imediata diante de tais imagens polêmicas é tentar dissociar o lixo dos habitantes.
Coutinho resiste a essa dissociação. Pelo contrário, ele se detém nestas imagens, e logo inicia suas entrevistas no próprio espaço do lixão. Seus habitantes são os primeiros a eventualmente disseminar a ambiguidade que circunda o lixão: para eles não existe nenhuma ambiguidade. O lixão é o suporte da comunidade, fornece alimentos e ganhos, possibilita a oportunidade deles ganharem dinheiro no trabalho com o lixo. É o fundamento de uma economia informal, o que agrega todas aquelas pessoas. Pensando em Jameson, aprendemos que os destinos daquelas pessoas, as narrativas de suas vidas, são completamente dependentes do lixão. Quando Coutinho muda o foco do ambiente do lixão para as sequências-retratos individuais, começamos a ver como as histórias dos catadores de lixo partem de narrativas pessoais para narrativas coletivas. E aí que o vídeo começa a revelar a sua própria natureza alegórica.
Nos blocos titulados, Coutinho provoca muitas conversas íntimas e francas com os catadores. Há momentos fascinantes nestas sequências: uma mulher adverte o realizador para deixá-la em paz, uma jovem canta motivada por uma música popular tocada num gravador cassete, um senhor inacreditavelmente mais velho reconta sua trajetória por quase todo o país. Vendo-se este senhor, não dá para não deixar de perceber elementos de alegoria em jogo na tela. Ele próprio é uma alegoria viva de toda a situação socioeconômica do país.
O que vemos no velho personagem é, de fato, história. Como espectadores, sabemos que ele passou toda a sua vida trabalhando em diversas regiões do país. Supomos, inclusive, que uma boa parte de seu trabalho pode ter sido efetuada em outros depósitos de lixo. Na verdade, temos ali um homem que criou sua família e viveu toda uma vida como um trabalhador itinerante. Como sua própria barba indica, ele é um homem sábio e viajado. Ampliando sua história, chegamos a uma ideia de Jameson: o papel desempenhado pelo velho catador naquela comunidade traz ricas implicações como uma alegoria nacional.
Tal alegoria nacional, não de forma surpreendente, é sobre a dependência. Na comunidade dos catadores de lixo, temos um grupo de pessoas que construíram uma sociedade virtual em torno dos dejetos da sociedade brasileira moderna. Tornaram-se dependentes do lixo, trazendo implicações potenciais para uma alegoria nacional. O Brasil é um país de longa tradição voltado para a exportação, país de enormes recursos naturais, extrativos. Um país onde estas mesmas matérias primas percorrem duas economias distintas: depois que os legumes são retirados do lixo, eles ganham um novo valor, coincidente com o que o mercado informal dos catadores lhes atribuirá. A história desse velho personagem testemunha a durabilidade da comunidade de catadores; ele permanece, sobrevive, como o Brasil, dependente da extração de recursos, sejam eles recursos reordenados ou não.
O filme Pagador de promessas gira em torno do destino privado de um homem que tenta, simplesmente, cumprir uma promessa que ele havia feito. Os obstáculos que o homem encontra podem ser relacionados às fronteiras implícitas, mas ainda não evidentes, entre cultura e sociedade no Brasil moderno. Neste filme, algumas das ideias de Jameson me parecem bastante apropriadas. Como veremos, o que acontece quando um camponês resolve cumprir sua promessa a Santa Bárbara traz implicações bem maiores que a enorme escadaria que emoldura o conflito.
A viagem empreendida pelo camponês e sua mulher traz à tona, de imediato, dois conflitos. Em primeiro lugar, ele sabe que deve o maior respeito a Iansã , a santa que curou o seu burro doente, motivação principal para que cumpra até o final um contrato divino. Assim, carregando o peso de uma cruz, ele parte para a cidade onde se localiza a igreja objetivo de sua devoção. À medida que a narrativa avança, percebemos que o penitente, apesar dos conflitos que surgem, defende com força os termos de seu contrato divino. O conflito central se estabelece aqui: como o camponês sustentará sua promessa diante da resistência oficial?
O outro conflito central se relaciona com a sua própria trajetória, que parte do interior para a capital. É uma passagem que vai de um ambiente rural para um grande centro urbano. Não apenas esta passagem carrega uma transição entre diferentes estilos de vida, mas também salta de uma paisagem predominantemente agrária para outro ambiente que representa um Brasil mais modernizado. Trata-se de uma passagem de um tempo a outro; a peregrinação carrega o homem e sua mulher do Brasil tradicional para o Brasil moderno.
Esse é o peso que o homem carrega para os degraus da igreja, na esperança de cumprir sua promessa, até o padre descobrir a natureza sincrética da promessa. A primeira resistência aos esforços do camponês constitui a tensão entre as práticas católicas sincréticas e a ideologia dominante. Enquanto um Brasil rural parece aceitar mais facilmente o sincretismo, a igreja urbana se identifica mais profundamente com a tradição europeia do Catolicismo.
Uma vez confrontado com a resistência do padre em relação a suas crenças, uma espécie de martírio começa a dominar o camponês. Ele começa a parecer um Cristo, mesmo longe do ubíquo crucifixo. Baixada a poeira inicial, ele se torna verdadeiramente um mártir e a construção alegórica deste destino privado fica mais clara. A dimensão política projetada por esta narrativa é fortemente amarrada a questões nacionais envolvendo religião, classe e modernização.
A parcela enorme da população brasileira que pratica essa forma sincrética de catolicismo encontra uma voz nesse protagonista. Ele representa a constituição de uma crença sincrética, razão primordial do bloqueio de seu acesso à igreja. Trazendo a história para o domínio das alegorias nacionais, o filme mostra o que acontece quando alguém resolve desafiar publicamente as práticas dominantes e ordenadas dos católicos. Como a reação oficial da igreja nos informa, a síntese de tendências europeias e africanas não será tolerada pela Igreja. Pode atéser praticada fora do apoio da Igreja, mas não será reconhecida como prática católica legítima. A Igreja torna-se o símbolo potente no controle absoluto de assuntos individuais nas práticas religiosas Este homem personifica uma população enorme de crentes no Brasil: oprimidos principalmente pela herança da escravidão e a rigidez hierárquica das distinções sociais no Brasil, as religiões afro-brasileiras são excluídas do discurso dominante da igreja moderna. E, como atesta a imagem final do filme, quando práticas sincréticas forçam a entrada no interior da igreja, esse interior não é um lugar de luz. O interior da igreja é um espaço inexoravelmente escuro, um abismo.
Ilha das Flores, de Jorge Furtado, exibe uma narrativa informada pela dinâmica alegórica do cotidiano brasileiro. Ostensivamente o curta narra a trajetória de um tomate à medida em que ele atravessa o mercado doméstico e global, dos campos e plantações até o supermercado, eventualmente terminando na economia do lixo, o confim irônico da Ilha das Flores. Pelo caminho, Furtado mostra algumas narrativas pessoais dos brasileiros que entram em contato com o tomate. Em cada uma dessas narrativas, podemos perceber uma alegoria nacional coincidente. O que faz deste curta um filme excepcionalmente reflexivo é o fato de que o espectador é forçado a costurar o significado de todas essas narrativas a partir de uma teia bem amarrada de sentido. Furtado construiu um sistema entrópico de significados: expansão de energia, desorganização crescente e dissociação, um emaranhado cada vez mais multiplicador.
O tomate segue uma trajetória bem definida no filme. Ele é colhido, encaixotado na fazenda de um japonês, levado para o mercado, vendido para uma dona de casa, rejeitado e jogado no lixo. Ao desembarcar na Ilha das Flores ele será consumido ou por um porco, ou por um brasileiro miserável. O tomate ganha uma qualidade abstrata ao final do filme, uma abstração talvez engendrada pelos caminhos divergentes e rotas comerciais pelas quais ele deve viajar. E a estrutura narrativa de Furtado o permite justapor uma variedade de narrativas pessoais, todas relacionadas ao itinerário do tomate. Neste sentido, o tomate parece se aproximar de algo como um centro deslocado. Na narrativa, ele é o agente organizador, aquilo que fornece coerência aos diversos destinos pessoais das donas-de-casa, catadores e fazendeiros. Ao mesmo tempo, o tomate está constantemente em fluxo, mudando de economia em economia, valor em valor. O tomate é o elo inaugural entre esses destinos que se rivalizam, ainda assim desancorado, sujeito a flutuações como qualquer indivíduo. Furtado coloca o tomate na narrativa como uma espécie de recurso ordenador da teia caótica de destinos.
O caráter desses diferentes destinos privados é marcado por uma dimensão política e econômica. São todos sócios obedientes a um contrato social que não só os une e posiciona a nível nacional, mas também os liga à cultura e à economia globais. No começo da narrativa existe um fazendeiro japonês. Concretamente, a própria história desse homem epitomiza a situação ameada da dependência brasileira em recursos agrícolas. Mesmo imigrante, ele pode ser o farol do investimento estrangeiro, da integração estrangeira na economia brasileira, da integração crescente do Brasil na economia global das nações industrializadas. Quando o tomate chega às mãos da dona-de-casa e é rejeitado, termina ali uma parte de sua viagem e ele embarca numa outra rota. Agora, o tomate não segue a rota convencional que atravessava antes. Ele é lançado num outro tipo de economia baseada na coleta de bens em depósitos de lixo.
Na economia dos catadores, os destinos privados ajudam a iluminar o significado dessa economia problemática. Como já discutimos anteriormente, a comunidade dos catadores parece funcionar numa estrutura econômica inversa, um sistema perverso no qual os animais criados para o consumo têm privilégios sobre os catadores na trajetória do tomate. Ao mesmo tempo, estes catadores parecem não ter outra saída senão o próprio lixo. Se é verdade que não há outra opção possível, o fato é que os catadores acabaram criando uma economia e uma comunidade no lixo. Por essa razão, ocupam definitivamente a periferia da economia global. Como alegoria nacional, o que vemos na luta dos catadores para se adaptarem e sobreviver num mercado global cada vez mais em expansão, é uma luta nacional compartilhada. A economia global, assim como o tomate, cria uma ordem que se origina de um centro deslocado. De forma interessante, parece funcionar bem como um cauteloso conto para o Brasil: as prioridades perversas e sem direcionamento do mercado global exigem uma habilidade para se adaptar e sobreviver aos caprichos desequilibrados da economia. Exige dessa habilidade, a sobrevivência e a criação de economias que sirvam para preencher os vazios deixados pela economia global. Exige, enfim, do catador, mais inovação.
Segunda questão: a ficção e o documentário
Em Pixote e Bananas is my Business, testemunhamos um conjunto de estilos híbridos que, de uma forma ou de outra, giram em torno dos conflitos da representação. Em alguns filmes, vemos um sistema que depende primordialmente de material de arquivo. Em outros, a representação ficcional é utilizada para mistificar um conflito social volátil. Cada filme apresenta uma síntese diferente desses modos de representação, alguns, inclusive internalizando esses modos distintos numa linguagem concisa. Representar a realidade, sugerem estes filmes, é permitir a expressão simultânea das vozes da ficção e da não-ficção.
Em Pixote, Hector Babenco emprega um modo narrativo ficcional de forma a representar a vida de meninos de rua no Brasil. Apesar do estilo e da narrativa serem estruturados a partir de linhas expositivas ficcionais, o filme consegue manter um visual e uma abordagem que parecem se aproximar mais do documentário do que da ficção. O tema de Pixote parece mais apropriado ao formato documental do que à ficção, pois a essência do filme é a exposição das condições dramáticas da vida de jovens habitantes abandonados nas metrópoles brasileiras.
Poderíamos ser levados a pensar que através do documentário, um certo e necessário sentido de imediatismo seria conseguido de forma mais direta do que através da ficção. A situação, sempre infelizmente atual, é a tensão existente entre essas vítimas e a brutalidade assassina dos chamados “esquadrões da morte” e das instituições penais e mesmo de suposto auxílio aos jovens de rua. Tais conflitos produzem, sem cessar, histórias e mais histórias que enchem a sociedade brasileira de vergonha, choque e indignação. Parece que qualquer ficção teria muito pouco o que acrescentar a esse infeliz panorama.
Mas, como aconteceu, Babenco acabou empregando um modo ficcional de representação aqui. Não é, por outro lado, uma forma convencional de ficção, nem tampouco um estilo radical de filmar. É sim uma síntese dos dois projetos, onde o diretor lançou mão de crianças de rua de verdade, imprimindo ao filme um tom de legitimidade de inegável impacto. Ao mesmo tempo, Babenco lança mão da ficção para retratar os conflitos interiores desses personagens miseráveis, construindo sequências e cenas que seguem o estilo convencional de narração do cinema clássico, apoiado no desenvolvimento psicológico e na ação. Ele não ficcionaliza necessariamente essas histórias, mas há, naturalmente, um grau elevado de manipulação narrativa que descarta qualquer tentativa de aproximação com o documental. Em verdade, essa narrativa híbrida, síntese de ficção e documentário, mostra a extensão pela qual Babenco manipulou as próprias histórias de personagens reais.
No desenvolvimento real da narrativa, não há nada de muito especial com relação a esse estilo híbrido de Babenco. O poder deste estilo reside, primordialmente, na maneira em que Babenco equilibra o destino privado do menino Pixote com o contexto social tenso do Brasil. Há uma premissa básica aqui: a decisão de retratar Pixote através do emprego da ficção sugere que Babenco está implicitamente comentando sobre a natureza do problema dos meninos de rua. E tal problema não necessita do documentário tanto quanto precisa da ficção. De acordo com Jameson, o problema necessita de alegorização. E é o que Babenco parece fazer, em última instância. Ao usar as próprias crianças numa autorrepresentação, o diretor força a reflexividade dentro do filme, um efeito que ajuda os espectadores a perceber a própria realidade que está sendo contada. O filme, dessa maneira, torna-se um veículo para o próprio conflito.
Pixote obriga os espectadores a levantar questões sobre o que é real e o que é ficção. Através de combinação desses dois modos, o diretor confunde os limites entre eles. O produto dessa síntese é um filme que não só chama atenção para os conflitos das crianças de rua no Brasil, mas que, instintivamente chama atenção para o próprio filme, para o problema delicado de representação das vidas desgraçadas dessa população marginal. O uso das próprias crianças, como o verdadeiro Pixote, cria uma aura única ao filme. Aura que depende, para a sua própria legitimidade, da sinceridade desses “atores” iniciantes. Os conflitos representados no filme existem fora dele, com a mesma força, igualmente tensos e dramáticos. E a estratégia de hibridização empregada por Babenco, acaba universalizando o problema das crianças de rua, rompendo com os limites da representação convencional e trazendo algo de novo, original, talvez um modo mais eficaz de expor e denunciar essa triste realidade brasileira.
Bananas is my Business traz uma narrativa que também contém traços de ficção e documentário, características filtradas na ênfase dada pela diretora Helena Solberg à sua própria identificação com o trabalho de Carmen Miranda. Semelhante ao documentário Gringo in Mañanaland, de De De Halleck, Solberg utiliza fragmentos de filmes e vídeos para construir uma espécie de confissão radical. Como ela mesmo fala em sua voz off, suas próprias memórias estão ligadas profundamente à história de seu ídolo. Assim, a forma narrativa empregada por ela, carrega um distinto sabor pós-moderno. O filme é ostensivamente sobre Carmen e a natureza complexa de sua ascensão à popularidade, através de técnicas convencionais do documentário. Só que, também de forma mais pessoal e original, a realizadora in corpora sua própria experiência na discussão e celebração de seu ídolo. No centro dessas intenções, percebe-se um esforço para resolver algumas das questões mais delicadas que emolduram a relação entre estrela e fã.
O grosso das imagens é composto de um vasto repertório de imagens a sons que registram a experiência de Carmen Miranda. Solberg é capaz de resolver um problema quase sempre difícil, que é o de criar uma narrativa que, de forma seletiva, possa construir a biografia cinematográfica de Carmen. Todo esse material de arquivo é precedido, de forma bastante interessante, de sequências ficcionais que encenam Carmen Miranda morrendo em seu quarto de Beverly Hills. Solberg nos informa de sua forte identificação com Carmen – forte o suficiente para induzi-la a reencenar uma morte ficcionalizada para a atriz. A sequência aponta para questões temáticas no filme: uma obra consciente de sua própria função na representação da vida de Carmen Miranda, que nos chama atenção para aspectos privados e íntimos da atriz e também para os diferentes significados de sua persona.
Pelo meio, a narrativa mantém o foco voltado para a ascensão de Carmem ao estrelato. Para o espectador pouco familiarizado com Carmen como um ícone da Fruit Lady latina, tal material é bastante revelador. Solberg merece elogios tanto pela pesquisa e revelação de materiais inéditos ou pouco vistos quanto pela maneira elegante pela qual nos mostra o posicionamento de Carmen no ambiente econômico e político em transformação nas Américas pela metade do século. O que vemos é uma trajetória emblemática: ela ascende sobre todo o Brasil e carrega, com ela, toda uma construção de Brasil. Nas viagens e no sucesso nos Estados Unidos, seu papel vai ficando cada vez mais ambíguo. Há uma espécie de entropia que Carmen começa a corporificar, na medida em que aumenta sua popularidade e ela se transforma em ícone, encobrindo exatamente quem ela é e o que ela significa.
Solberg não investiga os novos sentidos engendrados inadvertidamente pela figura de Carmen para a América Latina. Pelo contrário, ela se concentra na própria Carmen. Ironicamente, esta questão da narrativa coincide com a própria vida de Carmen. Enquanto o aparato hegemônico vai definindo uma ideia de América Latina como espaço dominado por agricultura e paixão, Carmen extenua-se na própria indústria que, tão recentemente, havia celebrado e promovido a força de seu encanto. As cenas de sua morte parcialmente “televisionadas” marcam esse clímax. Conforme vemos diante de nossos olhos, Carmen tem um colapso no meio de uma apresentação ao vivo na televisão. Ela se recupera, e o show continua, sustentado por sua infatigável firmeza.
O que tal cena revela, de forma bastante sucinta, me parece, é exatamente as consequências daquela firmeza. Não é surpresa que Carmen internalizou seus problemas e Solberg mostra muito bem diversas situações difíceis com as quais a atriz se deparou. Ao mesmo tempo em que ela ocupava uma posição de autoridade, era vulnerável. Cidadã do orgulho brasileiro, farol da vitalidade de seu povo, Carmen era também, uma espécie de refém da indústria cinematográfica, forçada a desempenhar o papel de “brasileira” ou “latina” nos filmes de Hollywood, cujo entendimento da América Latina seria apenas risível, não fosse tão traiçoeiro e duplo. Neste sentido, e certamente no contexto da narrativa, seu colapso na televisão parece encapsular tudo isso ao mesmo tempo.
Solberg nos conta que o colapso foi o fator indicador da morte de Carmen e que todo aquele período passado na televisão só fez piorar suas condições físicas. O que vemos, então, de verdade, é a morte televisionada de Carmen Miranda. É irônico, mas não surpreendente, que sua morte esteja intimamente ligada à força de seu talento. Ela morre e o espetáculo continua. Mais profundamente, ela morre a serviço da indústria do entretenimento, literalmente e figurativamente enjaulada num papel amarrado por um contrato.
Naturalmente estas ideias surgem depois do show ser televisionado e depois de espalhada a notícia de sua morte. Entretanto, naquele pequeno espaço de tempo em que o programa estava sendo televisionado ao vivo para todo o país, o espectador não tinha noção de que estava assistindo ali a morte de uma mulher. É um momento incrível, cortante na narrativa. Solberg não destaca a cena nela mesma, mas é a sequência que fecha o filme, onde a realizadora capitaliza as implicações da morte televisionada de Carmen Miranda.
Como testemunhas da cena, somos os espectadores da morte da atriz, morte que Solberg deliberadamente encenou. Com isso, a diretora nos mostra o quão complicada Carmen foi e continua a ser. Solberg está, num sentido, fetichizando a morte de Carmen. Ela quer uma morte que não desonre nem desacredite Carmen. Implícito, fica o desejo da fã em assegurar algum elemento de controle no relacionamento entre ídolo e fã. Mas não se trata de uma questão de aproximação ou não com estrelas de cinema, e sim um problema de identidade individual e nacional. A história da realizadora e de seu assunto testemunha a necessidade absoluta e impossibilidade absoluta de assegurar este ele mento de controle. Este é um filme que fala tanto de hegemonia quanto da primazia complexa do apelo de Carmen Miranda para a realizadora e para o público brasileiro em geral.
Terceira questão: o encontro colonial
Como era gostoso o meu francês e Aguirre, a cólera dos deuses (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972) lançados no início dos anos 70, foram realizados, o primeiro, por um dos líderes do Cinema Novo e o outro por um expoente do Novo Cinema Alemão. Livremente inspirados por diários de exploradores do Novo Mundo, tais filmes compartilham um eixo comum: representam o contato explosivo e dinâmico que ocorreu quando a Europa penetrou no espaço dos povos autóctones da América. Em sua essência, os dois filmes irradiam o conflito do contato entre essas duas culturas. Como esperado, há diferenças notáveis na encenação do encontro colonial entre estes filmes. Mas há também um terreno comum, uma fronteira que compreende questões que existem fora das próprias narrativas dos filmes. Em ação aqui, encontram-se correntes poderosas da revisão da história, além de grandes furos temporais. Imitando a velha escola de montagem, tentarei justapor essas duas representações.
Como era gostoso o meu francês é um marco da fase tropicalista do cinema brasileiro, período de surgimento de estilos e formas radicais de direção. Tal como seu predecessor, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, o filme de Nélson Pereira dos Santos aborda o canibalismo como componente integral do contato entre europeus e americanos nativos. Nestes filmes, vemos uma tentativa deliberada de revisar a complexidade desse contato, da perspectiva dos povos indígenas. Existe um método radical de trabalho: os filmes são informados pelo poder do revisionismo histórico, pelo método simples e elegante de redefinir a história do contato a partir da possibilidade de um ponto-de-vista indígena. A estória convencional, naturalmente é conhecida como história e assim, ao tentar redefinir a história, Nélson Pereira dos Santos acaba fornecendo um comentário para o presente. Esta tendência se afina com o potencial de crítica social existente no texto artístico, neste caso, mais radical ainda tendo em vista o clima político altamente repressivo do Brasil no início da década de 70.
Mesmo antes das primeiras imagens do filme baterem na tela, Como era gostoso o meu francês transborda de gestos radicais. Sua narrativa baseia-se nos diários de um explorador alemão que escapou da morte, por pouco não tendo se transformado no prato principal de um banquete antropofágico. Nélson se apropria desses textos. Semelhante às vezes ao estilo de Kurosawa em Rashomon, este filme privilegia diferentes perspectivas, cooptando os textos originais do explorador ao integrá-los numa nova narrativa. Como bem salientou Richard Peña, o uso de uma “testemunha prisioneira” tem o potencial de revelar conhecimentos da cultura dos captores. “O relato oferecido pela testemunha refém é imune a defesas estranhas”. Tais revelações culturais, conforme mostradas por testemunhas prisioneiras, são apropriadas pelo realizador. Por isso, na própria origem do filme, Nélson conseguiu um feito admirável: o uso da história convencional a serviço de uma narrativa que, eventualmente, questionará aquela própria história.
O relato é mais ou menos simples. Um francês é forçado a abandonar sua cultura, acorrentado a uma bala de canhão. Está prestes a morrer afogado quando é capturado pelos índios tupinambás, tribo que, por sua vez, se encontra no meio de alianças espúrias entre os portugueses, os franceses e os tupiniquins. O francês é condenado a morte, mas não imediatamente. Ele será devorado só depois de ter vivenciado e assimilado o cotidiano da tribo, o que acaba fazendo. Ganha uma esposa, Seboipep e, depois de tentativas frustradas de negociar sua liberdade, vai para o panelão e é consumido pela tribo. Nélson Pereira interpõe títulos ao longo da narrativa, usando efetivamente esses fragmentos históricos como disfarce para o que acontece na tela. Enquanto, por exemplo, um letreiro afirma textualmente que aquilo tudo faz parte da “história oficial”, as imagens refutam completamente tal informação. O efeito é surpreendente e coloca a narrativa da testemunha aprisionada numa estrutura que constantemente alterna as perspectivas europeias e nativo-americanas, o passado e o presente, a história escrita e a história visualizada. No centro, ou fora da dinâmica narrativa, encontra-se a ideia igualmente dinâmica do contato.
No início o contato é representado como um momento de ferocidade. O francês é capturado pelos tupinambás numa sequência que enfatiza a força e a surpresa do ataque desta tribo. Existe um sentido natural de selvageria orientando a encenação, mas que em seguida se torna cômica, assim que os guerreiros obrigam-no a falar, comparando-o com os portugueses e revelando melhor sua identidade. Enquanto tal sequência ajuda a iluminar as alianças políticas em mudança na narrativa, também funciona como reveladora na representação do francês.
Desde o primeiro momento que vemos o francês, ele já surge aprisionado. É jogado de um penhasco, acorrentado a uma bala de canhão, transformado num pária de sua cultura e sociedade. É um tipo de exílio breve, pois em seguida será transformado num outro pária definido pela sobrevivência no Novo Mundo como um prisioneiro dotado de um papel cultural e social bem definido. Quando ele muda de mãos tupiniquins para mãos tupinambás, fica mais claro que ele se transformou numa mercadoria. Não é tão importante aqui se o francês consegue ou não convencer que é português. O que importa é que ele é um europeu, definição facilmente produzida pela pele clara. Europeu que é, ele é investido de certo poder, que lhe caracteriza como mercadoria.
Para os tupinambás ele possui um poder que só pode ser absorvido através de sua própria ingestão, de acordo com costumes tradicionais. De forma bastante interessante, o francês, enquanto mercadoria, pode ser visto como matéria prima, um recurso não tão diferente quanto os minerais, petróleo ou prata. E como tal, ele deve ser processado da mesma maneira. Seu valor enquanto matéria prima depende da forma em que será processado. Esta é uma potencial inversão do papel tradicional que os europeus desempenharam no desenvolvimento do Brasil e da América Lati na. O fabricante, o mercador e o consumidor são emblematizados no francês. Ele é o agente da Europa colonizadora das Américas. Nesta narrativa ele se torna parte do meio econômico e político que inverteu noções de matérias primas e setores manufaturados. À proporção que o filme avança, aprendemos como o francês vai sendo manufaturado.
A prática tupinambá de integrar o prisioneiro na vida cotidiana da tribo define o núcleo desse processo de refinamento. É uma prática fascinante que o diretor habilmente explora. É nessa assimilação que podemos entender como a dinâmica do contato é revelada. Em sua fase inicial de integração, o francês é claramente identificado pela sua natural característica europeia. Ele se destaca no grupo dos indígenas, e, num certo sentido, sempre ocupará essa posição em relação à tribo. Ele tem que manter seu papel como o Outro, quase que somente pela cor de sua pele. Mas a dinâmica dos costumes tribais logo floresce e o francês vai pouco a pouco se integrando. A condutora dessa assimilação é sua mulher temporária, Seboipep.
De início o francês não é imediatamente atraído por ela, levando-se em consideração a natureza decididamente carnívora dos gestos afetivos da índia para com ele. Mas ele a ajuda nas tarefas diárias e começa a desempenhar o papel que lhe é destinado. Os dois se relacionam afetivamente e, como qualquer bom marido, corta seu cabelo. Sua aparência vai tomando a forma de um tupinambá, mas ele ainda fica a um passo atrás, ainda identificado pelo seu papel e função. Começa a participar da economia da tribo, o que só reforça sua representação como mercadoria. Para todo o mundo ele prova o seu valor. Apesar de toda a vontade e dos planos de fugir dali, sua assimilação contínua na cultura tribal só serve para medir seu processo de refinamento e energizar o poder que seu corpo assado poderá liberar. O francês é parte da economia tribal, por sua vez parte da economia colonial real das Américas. Os espectadores aqui são compelidos a investigar como o diretor configura essa economia colonial e posiciona o francês dentro dela.
O crítico Richard Peña ilumina o papel especial ocupado pelo francês na economia colonial: “O francês, física e economicamente, é projetado num estado de suspensão, entre ser um americano de verdade e um europeu”. Ele poderia ter sido considerado um pária na história oficial, da mesma maneira que a história oficial é infeliz quando nos informa sobre a economia informal existente nas Américas. Na verdade, da forma em que Nélson Pereira representa a economia colonial tradicional, baseada no mercantilismo, operava em espaços de comércio oficiais e marginais. Essa economia informal é corporificada no personagem do velho mercador francês, ele mesmo participante da economia mercantilista mais ampla. Ele negocia como qualquer europeu faria. Em troca de matérias primas, como madeira e temperos, o velho europeu traz bens manufaturados de valor questionável para a tribo. O francês está apto a entrar nessa economia negociando uma mercadoria única nas Américas, a pólvora.
Este é um momento importante de tensão e conflito narrativos. O francês não abandona sua função na tribo, mas ao mesmo tempo continua exibindo traços caracteristicamente europeus. Ele imagina sua fuga com base na influência que pode conseguir como intermediário entre o velho mercador e a tribo. Enquanto adia o seu inevitável desfecho, o francês se prepara para uma possível fuga através das rotas informais da economia colonial. O que acaba num confronto entre os dois por causa de um tesouro enterrado.
Os dois estrangeiros se engalfinham por causa do ouro, mas é o mais velho que acaba substituindo com seu corpo o tesouro enterrado. A resolução encerra a conexão do francês com a economia de troca, num momento decisivo no filme. Daqui em diante, o francês dirige-se para sua morte. Peña ressalta a ironia no fato de que a verdadeira assimilação na tribo acontece imediatamente antes de sua morte. Pode haver ironia aqui, mas é uma ideia central a forma com a qual Nélson Pereira representa o francês como mercadoria e derivado do contato.
Ao final, quando as imagens em movimento se transformam em gravuras coloniais do canibalismo, o filme faz um balanço das falhas existentes na história oficial do contato europeu-americano. Ao usar textos oficiais, o realizador solapou a autoridade real desses textos e revelou espaços indefinidos da história oficial. Em vez das certezas rígidas dos muitos relatos europeus existentes, Nélson Pereira nos confrontou com uma história bem mais complicada. Todas estas revelações podem ser traçadas na forma em que o filme constrói o francês como mercadoria, seu papel na teia dinâmica das economias oficiais e informais fornece a inversão e a manutenção das economias tradicionais das terras colonizadas.
O filme de Werner Herzog, Aguirre, a cólera dos deuses, traz uma agenda mais diferente, embora sua narrativa também tenha como ponto de partida o diário de um viajante europeu. No caso, o diário de um religioso viajando na expedição comandada por Francisco Pizarro. A narrativa básica de Herzog é tão complexa quanto a de Nélson Pereira dos Santos. Conta a história de uma expedição condenada ao fracasso, amotinada por Aguirre, um ambicioso soldado da coroa espanhola sedento de glória e ouro. Aguirre lidera o motim num território virgem, em busca do Eldorado, forçando a entrada da expedição de forma violenta pelos rios da Amazônia, até que a armada fica reduzida a ele apenas. E uma embarcação, cheia de macacos, flutuando lentamente na água, com a figura de Aguirre, cabisbaixo e enlouquecido pelos sonhos de riqueza.
Aguirre não é um trabalho radical, nem meticuloso quanto o filme brasileiro, mas fornece uma representação do contato europeu-americano que contrasta, de forma interessante, com o filme de Nélson Pereira, principalmente porque Aguirre é o trabalho de um realizador europeu.
Werner Herzog fez parte do Novo Cinema Alemão que se desenvolveu como reação à hiper-saturação de filmes americanos nas telas alemãs. Portanto é um realizador sensível ao poder das instituições hegemônicas sobre os outros cinemas. Em sua própria prática cinematográfica, entretanto, Herzog tem sido criticado pela lentidão exasperante e às vezes destrutiva com que realiza seus projetos. Fora isso, desenvolveu um estilo fascinante que depende, quase sempre, de uma tensão entre passado e presente, o real e sua representação.
Desde o início, a perspectiva do colonizador europeu é privilegiada, à medida que a expedição vai descendo um pico andino e, pouco a pouco, embrenhando-se na densa floresta. O grupo é composto, em sua maioria, de índios escravizados e acorrentados, alguns carregando pertences da filha de Aguirre e de D. Úrsula, a esposa do comandante da expedição. Os ameríndios são o objeto do controle europeu desde a primeira imagem do filme.
Deve-se entender esta estória de uma perspectiva única, radicalmente diferente da ênfase empregada por Nelson Pereira dos Santos. Apesar disso, ainda podemos perceber alguns traços da influência de uma perspectiva nativa. De fato, a narrativa de Herzog é consideravelmente informada pelas diferenças extremas entre colonizador e colonizado. Assim como no filme de Nelson Pereira, a dinâmica do contato é corporificada na personagem central, Aguirre. Ao longo do filme ele é uma figura colérica, mas no início, é representado como uma figura marginal e sinistra, relacionado a sombras e sussurros.
Ao ocupar o centro da cena, assume uma postura defeituosa, movendo-se de maneira meio retorcida e curvada, como se fosse uma força abstrata bem no meio da expedição. Essa postura oblíqua sugere uma espécie de deformação física, mas numa observação mais detalhada, temos a impressão de que esse modo de andar contorcido é o resultado de sua incapacidade corpórea em canalizar apropriadamente a enorme ambição por tesouro que o motiva. Aguirre é movido a ganância, e o mito do Eldorado é seu alimento.
Esse mito desempenha um papel narrativo sutil e importante. Num sentido, é ele que orienta nossa discussão da representação do contato, precisamente porque serve para definir tanto europeus quanto os americanos.
O mito do Eldorado exercia forte apelo nos espanhóis e fica fácil entender o porquê do fascínio que enormes jazidas de ouro na superfície da terra prometiam a esse imaginário. Enquanto esse mesmo mito era útil a algumas tribos, na medida em que desviava a atenção dos espanhóis para outras terras fora dos territórios tribais, isso não acontece no filme. Vemos que o mito simplesmente recrutou os índios para a expedição, alimentados pela sedução que a grandeza e majestade dos espanhóis exerciam sobre os índios. Nesse sentido, o mito do Eldorado não foi uma arma para índios escravizados. Os ameríndios aqui são representados como agentes sem poder, prisioneiros do mito e da conquista desvairada dos espanhóis.
Na medida em que a loucura da expedição se espalha, Aguirre impinge uma nova rota rio abaixo. Pouco a pouco, entretanto, a pequena expedição vai penetrando em território tribal. Aí acontece um momento chave no contato quando dois membros da tribo remam pelo rio ao encontro do grupo. Conforme esperado, a cena termina em uso de violência por parte de Aguirre, que, dessa forma, tenta acalmar os ânimos da expedição. Mas o declínio é inexorável até o dramático final. Na emboscada, Aguirre é o único sobrevivente. Daí por diante, ele é um homem e condenado. Seu desejo louco fez com que fosse relegado a uma embarcação esfarrapada, disputada por macacos.
É uma imagem forte, com Aguirre tentando manter a cabeça em pé enquanto a embarcação rodopia rio abaixo. A cena termina sendo o comentário mais contundente de Herzog sobre o resultado do contato euro-americano. Contato que criou um desejo louco que, para ser satisfeito ou consome ou destrói. Contato que construiu a loucura. Desta forma, se Herzog não privilegia a perspectiva americana, desenvolve uma narrativa que denuncia o desejo que motivou os interesses europeus na América Latina, como um soco no estômago.
*Benjamin Mitchell é pós-graduando em “Media Arts” na Universidade do Novo México.
Tradução: João Luiz Vieira.