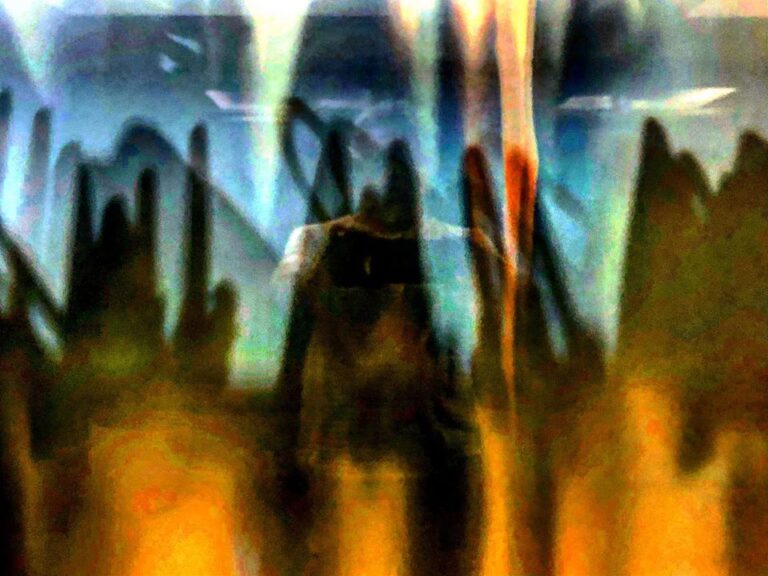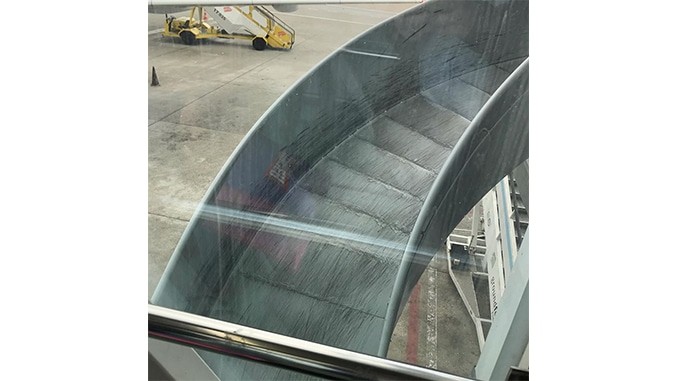Por CELSO FAVARETTO*
Comentário sobre os livros “Colosso” e “O homem que vive”
1.
Como ocorre em outros livros do autor, aparece em Colosso a exigência de atualidade que preside às suas singulares tentativas de configuração de relação com o tempo, a indeterminação dos estados de espírito e a imprecisão dos sentimentos: o insuportável da experiência contemporânea. Neste horizonte, este país, o Brasil, é um motivo sempre privilegiado. Instância, contudo, denegada, com horror, este país é continuamente referido – desbastado porém das características emblemáticas dos discursos oficiais e das imagens turísticas: belo, forte, impávido colosso.
Na forma de um relato, por entre fatos e nomes, livros, quadros e filmes, rastros e vestígios da história deste país são reiterados, rememorados, falsificados e projetados numa superfície em que o curso dos acontecimentos indica um movimento em direção a alguma coisa indeterminada, que não inscreve nada de substancial. Sob o riso sarcástico da história, a narrativa se perfaz por digressões na perseguição de uma moldura que conteria os sinais dessa história toda feita de sintomas, em que a angústia passeia sob o ritmo da repetição dos mesmos tristes périplos.
Na escrita, marcas arbitrárias indiciam um tempo que baixa sobre os personagens sem qualquer fixação, indicando a ausência de qualquer profundidade: referências contextuais e de vidas são caldeadas em fingidas lembranças de peripécias e enganos – pois o narrador se nega a contar a história de uma pessoa e a refletir sobre ela. Blocos descontínuos de supostas experiências, fingindo uma rememoração, cuja eficácia estivesse na busca de uma pupila que as refletisse, figuram uma vida que foge a qualquer identidade, a qualquer retrato de estados de consciência.
Operação de distanciamento, a narrativa não produz efeitos de personificação e nem uma unidade da experiência que pudesse justificar, que desse consistência, que, enfim, representasse a atualidade como um campo de experiências possíveis em que um eu em devir se inscrevesse numa imagem da história.
Mas o livro pode também valer por outra coisa: a persistência da beleza, não como uma espécie de sucedâneo ao fim da possibilidade de representar, de narrar a incomensurabilidade da experiência contemporânea: problematiza especificamente a possibilidade de uma outra ordem de beleza, daquela que infecta a realidade; a beleza que é insolente, às vezes abusiva e cruel; sempre desejável. Parece dizer que a arte não salva nada nem ninguém, mas a beleza surgindo do indeterminado manifesta o impossível.
Pensamento da opacidade, irredutibilidade do não-conceitual, esta arte desce sobre as pessoas como uma nuvem – disse o autor em outro lugar – nomeando o que não se deixa ver. Assim: colossal é a afirmação da beleza, convulsiva ou indiferente, cintilando na obscuridade do presente. Citando e deformando, faz ranger as molduras que circunscrevem as representações de alguns lances, aleatórios, de uma vida: imaginando a plausibilidade de passadas experiências, históricas, amorosas, sexuais.
Na perspectiva do impensável, do imprevisível, do imprescritível, instala-se o engano como vulto da ficção, com que é corroída toda imaginada possibilidade de plenitude ou de pacificação que um dia teria sido possível em existências até gloriosas. Assim, a narrativa vai intensificando a beleza, que, luz do mundo, atesta aquilo de que não se pode nunca escapar.
Ainda: colocando-se sob a perspectiva do presente, o livro indaga se toda esta arte que é referida repetitivamente nos relatos não figura apenas a pulsão que teria conduzido as ações dos personagens. Porque tudo é depois, tudo o que é narrado torna-se interessante: isto é, superficial, curioso, às vezes picante, nada contemplativo, excitando a imaginação, até gerando a impaciência das narrativas policiais: afinal quer-se satisfazer, embalde, a expectativa que se vai montando no enredo, na história dos personagens, o entrelaçamento das paixões e do sentimento de morte, com as narrativas da história desse país.
E tudo isto, e muito o mais que aparece no acúmulo de referências artísticas – que incitam a imaginação ao preenchimento dos relatos inconclusos armados, sempre se abrindo para uma outra hipótese de desenlace dos acontecimentos, que não cabem na narrativa –, afinal se constitui em reflexão sobre ao fracasso da narrativa em contar uma vida: depois de tudo.
2.
Como nos três romances anteriores – Niemeyer, As fúrias da mente, História natural da ditadura –, um certo desconforto vai surgindo na leitura de O homem que vive; uma certa irritação, que, talvez, provenha do ritmo obsessivo da narrativa, melhor dizendo, da repetição de gestos, da tergiversação que adia a conclusão de um movimento, a segurança de um sentimento, a percepção clara de uma sensação e de um pensamento. Entre o talvez e o apesar de, a difícil coincidência: o narrador, na tentativa de ser contemporâneo de si mesmo, titubeia, como se não fosse possível afirmar nada de definitivo, pois o que acontece só existe como narrativa.
Neste evolver da narrativa, o que se apresenta é uma aposta, um jogo, melhor ainda, uma tentativa de pensar certas experiências modernas projetadas no horizonte de um depois do que em alguns casos virou projeto, a posteriori da emergência das obras, e que hoje, na nossa atualidade, perderam a virulência crítica que os viu nascer como necessidade. E isto é que é fundamental: só se cria por necessidade – e, atualmente, que necessidade há de escrever? Depois das grandes obras que escalavravam a intimidade, a tensão com o social e o político, que funcionavam à imagem de uma totalidade existente ou possível, o que sobrou?
Daí que, conforme a lição moderna, se não são as tiranias da intimidade ou as relações entre subjetividade e contexto sócio-político que ainda podem ser tensionados com interesse, pois dessubstancializados – ainda que permaneçam referências irredutíveis, uma espécie de fundo que rosna: o mundo de hoje, um país como este, o emperramento da história, o negócio da cultura, a mania de arte e outras coisas mais.
Como memória de atos ou de sensações, o interesse está todo nas maneiras de ver e nos modos da enunciação (“Tudo está no como, tudo está no modo, o segredo está na maneira, o truque está na maneira”), no olhar e suas deformações, compondo uma literatura da “objetividade”, centrada na materialidade da palavra. A dificuldade de escrever, que é matéria central também deste livro, está nos talvez, na acentuação das palavras destacadas graficamente, enfim no titubeio, na hesitação – o que talvez tenha muito a ver com a cisão entre o que se observa e o que se sente, entre o pensamento e o ato, como sempre. A cisão moderna do eu é evidente.
Frente a isto tudo, o que aparece na leitura é a tentativa de, pelo atrito da linguagem na experiência, tomar a estética como ética. Uma ética da linguagem e da escrita é o que sobressai, daí a provocada decepção dos desenrolar dos acontecimentos narrados. Decepcionado, o leitor é compelido a reconsiderar a sua busca do assunto narrado, que, entretanto, escapa, é continuamente deslocado e dessubstancializado, o que evidentemente causa irritação, desconforto. Talvez, porque ao invés o que resta e se impõe como assunto não são os acontecimentos, mas a análise prismática dos sentimentos e das sensações.
Importa também notar neste livro, como nos anteriores, o processo de repetição e a angústia que secreta, que vai se difundindo como um dispositivo corrosivo das identidades, escolhas, decisões e objetivos. O leitor está diante de uma sequência de sintomas, que se repetem, indicativos do verdadeiro processo, como vida, que se constrói como linguagem, – uma clara materialização da elaboração freudiana – Durcharbeitung –, patente inclusive na atitude de “recoleta”, de recoletar, que aparece logo no início do livro. Daí a comoção: uma escrita comovida que comove, atirando o leitor numa singular sensação, que pensa o insuportável da experiência contemporânea.
*Celso Favaretto é crítico de arte, professor aposentado da Faculdade de Educação da USP e autor, entre outros livros, de A invenção de Helio Oiticica (Edusp).
Referências
Teixeira Coelho. Colosso. São Paulo, Iluminuras, 2015, 216 págs.
Teixeira Coelho. O homem que vive. São Paulo, Iluminuras, 2010, 256 págs.