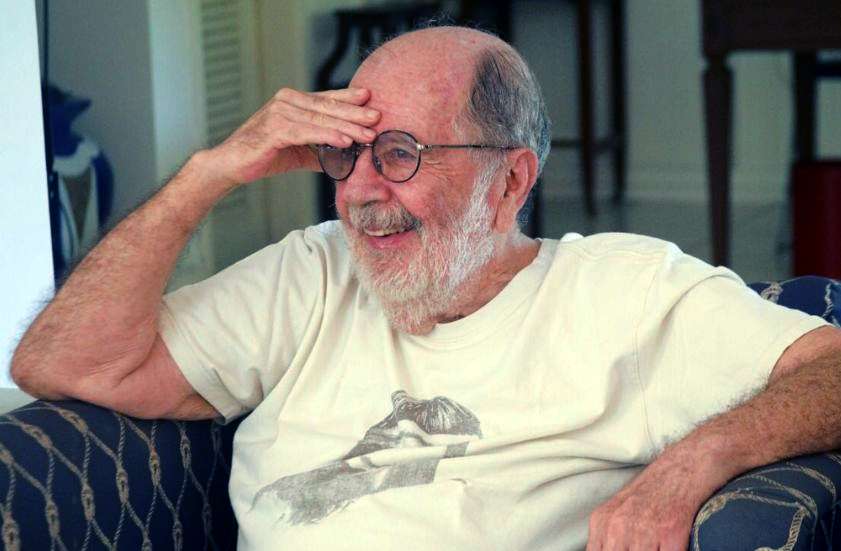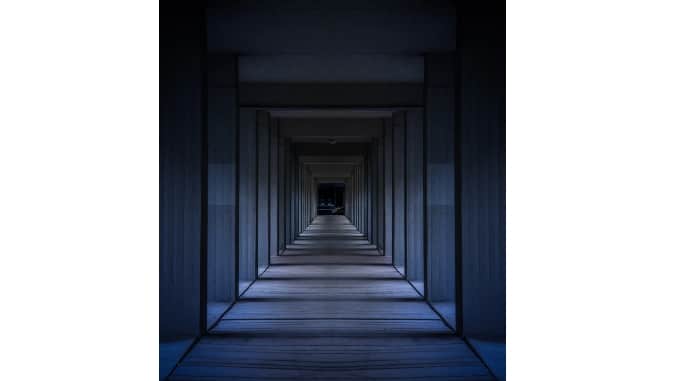Por FRANCIS WOLFF*
Introdução do autor ao livro recém-editado
O universal
Este livro[i] é a última parte de uma trilogia dedicada à ideia de humanidade. Como os dois precedentes, ele é inteiramente autônomo.
Em 2010, publiquei Nossa humanidade: de Aristóteles às neurociências.[ii][iii] Nele propus uma história crítica das definições filosóficas do homem em quatro grandes etapas, todas as quatro com um anverso científico e um reverso moral. Primeiro momento dessa história, o homem de Aristóteles, o “animal dotado de razão”, está ligado à invenção das ciências naturais. Mas esse mesmo homem foi capaz de justificar a escravidão e a sujeição das mulheres: porque, se todos os seres humanos possuem a mesma essência, eles não são todos igualmente adequados a essa essência.
Esse era o reverso prático do homem aristotélico. Segundo momento desse percurso, o homem de Descartes reúne em sua essência o sujeito e o objeto da revolução científica da idade clássica: a física matemática. Mas esse mesmo homem foi capaz de justificar a redução de todos os seres vivos à matéria bruta. Esse era o reverso prático do homem cartesiano. Terceiro momento: no século XX o homem das ciências humanas era um ser dilacerado e sua consciência era necessariamente iludida.
Reverso prático: todas as críticas do direito, das liberdades individuais e da democracia representativa eram justificadas. A revolução científica cassou a revolução precedente. Sob o olhar das novas ciências da vida, desde a virada do século XXI – quarto momento, o atual – o homem torna-se novamente um ser natural. As neurociências prometem reunificá-lo por seu cérebro e por seus genes. Mas a condição para cumprir essa promessa é dissolver o homem e transformá-lo numa máquina pensante ou num animal sensível. O pós-humanismo e o animalismo são, portanto, o reverso inevitável desse “homem neuronal”.
Três utopias contemporâneas[iv] retoma a reflexão nesse ponto e examina essas duas últimas ideologias e as imagens do homem associadas a elas. Não é possível compreendê-las a não ser em sua vontade simétrica de superar o humanismo das Luzes. Os pós-humanistas não se contentam com o desenvolvimento humanista da medicina: eles querem uma medicina melhorativa que triunfe sobre a velhice e a morte. Os antiespecistas não se contentam com a luta humanista para melhorar as condições de vida dos animais de criação: eles querem abolir a criação e “libertar os animais”. Enquanto a sabedoria antiga afirmava que não éramos nem deuses nem animais, a representação contemporânea sonha em fazer do ser humano um deus imortal cuja inteligência domine a natureza graças à técnica, ou, ao contrário, um ser sensível igual aos outros, mas culpado pela subjugação dos outros.
Nos dois casos, o que se quer é ultrapassar os limites da humanidade. À utopia pós-humanista, contrapus a necessidade de vencermos as doenças em escala planetária e visarmos à imortalidade da própria humanidade. À utopia antiespecista, contrapus os deveres diferenciados que nos incumbem em relação aos animais. E a todos os delírios que nos convidam a transpor as fronteiras naturais – as que separam o natural do artificial, o homem do animal, ou uma espécie de outra –, contrapus uma utopia humanista que nos libertaria das fronteiras artificiais que separam os seres humanos dos seres humanos: um cosmopolitismo que desconhece nações ou gerações e visa a uma justiça global.
Este Em defesa do universal examina o pressuposto implícito nos dois livros precedentes: a defesa do humanismo. Ela se apresenta em três teses: a humanidade é uma comunidade ética; a humanidade possui valor intrínseco e é fonte de todo valor; todos os seres humanos têm valor idêntico. Deduzem-se daí o caráter inviolável do corpo humano e da pessoa, bem como o respeito devido às obras humanas: a história, os saberes, as técnicas e as artes.
Essa ideia de humanidade e de humanismo está ligada a outras que se nomeiam “razão”, “ciência”, “igualdade”, “moralidade”, “filosofia” (tal como a concebo), assim como àquela que as engloba: o universal. São as ideias das “Luzes”. Elas estão em crise. Este livro tem um objeto modesto, portanto, pois não há nada mais banal do que o universal. Mas tem um objetivo ambicioso, porque o universal vai mal – tanto na realidade como nas ideias, que ora a refletem, ora a determinam.
Estamos hoje diante de um paradoxo. Nunca tivemos tanta consciência de formar uma humanidade única. O progresso extraordinário dos meios de transporte e comunicação, especialmente depois do surgimento da Internet e do desenvolvimento das redes sociais, fortalece dia a dia essa consciência horizontal de humanidade global. Nunca um tsunami ou um massacre do outro lado do mundo nos pareceram tão próximos de nós. Nunca a humanidade que sofre pareceu tão próxima da humanidade poupada do sofrimento. Nunca os indivíduos do mundo inteiro se perceberam tão semelhantes emocionalmente e intelectualmente.
Acrescenta-se a essa proximidade afetiva dos seres humanos uma preocupação comum que une toda a humanidade. Sabemos que estamos expostos aos mesmos riscos planetários: epidemias, aquecimento global, desastres nucleares, esgotamento dos recursos naturais, extinção das espécies, crises econômicas mundiais etc. E, no entanto, ao mesmo tempo que parece se impor em nossa consciência, a unidade da humanidade caminha para trás nas representações coletivas. Em todo o mundo vemos os mesmos recuos identitários: novos nacionalismos, novas xenofobias, novos radicalismos religiosos, novas reivindicações comunitaristas etc.
A União Europeia parecia em dado momento prestes a realizar o sonho dos filósofos do século XVIII, de Leibniz e do abade de Saint-Pierre a Condorcet e Kant, mas atolou na própria burocracia, sofreu os estragos da financeirização da economia e enfrentou a rejeição dos povos, que se sentem ameaçados pela comunidade formada por eles próprios. Os seres humanos se sabem semelhantes, mas querem conviver apenas com seres idênticos a eles. Ainda que tenha de inventar identidades e incessantemente reinventar diferenças.
Seria fácil relacionar os dois fenômenos. Os povos, as sociedades, as comunidades, sentindo-se esmagados pela pressão histórica de uma humanidade globalizada, tendem a se definir por pequenas diferenças. Temendo desaparecer numa totalidade uniformizadora, refugiam-se no próximo. Por trás do universal, temem o uniforme. Essa explicação negativa é pertinente em parte. Mas, embora seja válida para a globalização econômica e cultural, não se aplica à crise da moral humanista. Porque esse universal moral, longe de impor uma uniformidade, pode ser a melhor garantia da diversidade cultural, do mesmo modo que a laicidade é a condição da liberdade religiosa. A crise moral é mais profunda. Devemos ver nisso a fonte da crise das ideias?
Acontece o mesmo aqui. No campo social, político ou filosófico, todos os dias mil “novas” ideias vindas de outras eras florescem em torno da noção de identidade. À “direita”, ela substitui as noções de ordem e unidade. De um canto a outro do mundo, e nos extremos oriental e ocidental da Europa, os “direitos do homem fora do solo” são criticados em nome de identidades nacionais imaginárias que são comparadas a outras supostamente ameaçadoras. Em coro com Joseph de Maistre, o que se diz é: “Não existe homem no mundo. Conheci franceses, italianos, russos […] mas o homem, digo que esse eu nunca conheci na minha vida”.
À “esquerda”, a identidade tende a suplantar a igualdade. Contra as ilusões universalistas, não se diz mais como Sartre: “Não vejo o homem, vejo apenas os burgueses, os operários, os intelectuais”,[v] mas invocam-se novas identidades de gênero, de orientação sexual ou mesmo de raça e religião,[vi] tiradas de teorias “feministas queer” ou “descoloniais”. Inúmeros conflitos sociais ou culturais são particularizados e etnicizados dessa forma.[vii] E volta a velha crítica: no fundo o universal é apenas o “direito do mais forte”. É comparado ora ao patriarcado (todos os homens, mas não as mulheres), ora à “branquitude” (todos os homens, mas só os brancos do gênero masculino), ao eurocentrismo (todos os homens, mas apenas os europeus), ou ao antropocentrismo (todos os homens, mas não os animais) etc.
Em resumo, o universal nunca é verdadeiramente universal. Ou, quando é, é demais: apaga as particularidades, as diferenças, as “nações”, as “culturas”, as “etnias”, as “religiões dos dominados” e até mesmo as “raças” – porque hoje a noção de universal vem da lixeira da história a que os “crimes contra a humanidade” a relegaram. É verdade que a força de propagação dessas críticas deve muito à fraqueza conceitual e à impotência do universal. Ele parece ter perdido as virtudes emancipadoras das quais foi mensageiro no passado.
Esta é a ambição deste livro: devolver às ideias universalistas toda a sua potência crítica e mobilizadora. O que importa, hoje, é reapropriar-se das ideias das Luzes, fundamentar para a nossa época essas ideias depreciadas pela nossa própria época – que, no entanto, precisa mais do que nunca delas. Assentar esses conceitos desvalorizados sobre uma base sólida. O norte continua no mesmo lugar. A bússola é que falhou.
Se o universal é um conceito que perdeu força política, o que dizer do humanismo? Nenhum pensador que cultive a originalidade (obrigatória no pensamento moderno) ousa se declarar humanista: existe coisa mais piegas, mais antiquada, mais tola? Essa não é a opinião mais compartilhada por quem não tem nenhuma convicção em particular?
A filosofia francesa dominante da segunda metade do século XX transformou o humanismo em seu principal adversário. A Carta sobre o humanismo, de Heidegger, tão influente na França, teve a sua vingança: o humanismo seria o disfarce amigável de uma época do “esquecimento do ser” marcada pelo triunfo de uma visão “tecnocientífica” da natureza nascida na idade clássica que a reduz a dados computáveis e, consequentemente, a uma matéria disponível, utilizável e destrutível. O chamado marxismo autêntico, o de Althusser, fez o resto: o humanismo seria a crença em uma unidade ilusória da humanidade além das distinções fundamentais que estruturam a história e a sociedade: os pertencimentos de classe.
Hoje, com o antiespecismo, o que se diz é o contrário: o humanismo é a crença na unidade moral da humanidade aquém do pertencimento à comunidade mais ampla de todos os seres sensíveis. A crítica é a mesma de sempre: o humanismo se apresenta como uma moral universal, mas na verdade é uma moral particular. No passado era abrangente demais, no presente é restrito demais. O humanista era um “moralista choramingas” que acreditava no valor absoluto da humanidade: era tolo e bonzinho. Hoje é um antropocentrista que ignora o valor intrínseco de outros seres em sofrimento: ele é tolo e malvado.
Mas, se o humanismo é fraco, é antes de tudo porque se sustenta numa ideia fraca: a ideia de humanidade.
É uma fraqueza moral? Em certo sentido, sim. A humanidade não é a melhor medida da moral. De um lado, o humanismo defende a ideia de que temos deveres básicos em relação aos que são “iguais a nós”: mesma família, mesma nação, mesma religião, mesma “raça”, mesma luta etc. (No entanto, se reconhecêssemos que temos deveres também em relação a todos os seres humanos, essa moral restritiva não deveria afetar o ideal humanista.) De outro lado, sustenta que temos deveres em relação a todos os seres sensíveis que são “iguais a nós”, sem distinção dos seres humanos em particular. (No entanto, se reconhecêssemos que os deveres que nos vinculam aos seres humanos têm precedência sobre os demais, essa moral extensiva não deveria afetar o ideal humanista.) Portanto, a fraqueza moral do conceito de humanidade não é suficiente para colocar o humanismo fundamentalmente em questão.
É preciso ir mais longe. A humanidade parece ser um conceito fraco em seus fundamentos filosóficos e científicos.
A debilidade filosófica do conceito de humanidade deve-se, em primeiro lugar, à considerável influência de subprodutos “pós-modernos” conceitualmente frágeis de filosofias conceitualmente fortes do último século. Há as correntes inspiradas mais ou menos longinquamente na ideia heideggeriana de “destruição da metafísica” ou, segundo o eufemismo de Derrida, da “desconstrução”. Sob essa última designação, os campus norte-americanos e parte das ciências sociais mundiais se dedicaram a relativizar, isto é, a recontextualizar historicamente, a reinterpretar, a criticar todos os conceitos filosóficos que fossem herdados “da” metafísica e que fossem considerados totalizantes e, portanto, totalitários: “Deus”, o “sujeito”, a “substância”, a “razão” e, consequentemente, o “homem” – nos dois sentidos do termo: ser humano e masculino, supondo que aquele é apenas um disfarce deste.
O que resultou, hoje, na ideia militante de que todas as distinções conceituais são socialmente construídas e não há nenhuma que não possa e não deva ser desconstruída. Como é o caso, em especial, de todos os dualismos supostos “ocidentais”: natureza/cultura, homem/mulher, heterossexual/homossexual e, portanto, humano/animal ou mesmo humano/não humano: trata-se de pressupostos niveladores, uniformizadores, despóticos e, portanto, estigmatizantes para as minorias, os colonizados, as mulheres, os homossexuais, os subalternos, os animais etc. Quando se diz o “homem”, entenda-se “macho branco ocidental dominador”. Onde no passado imperavam as oposições conceituais inequívocas, normativas e normalizadoras, é preciso estabelecer um continuum saudável e emancipador.
Essa desconstrução do “homem” pareceu confirmada pelo atestado de óbito decretado por uma corrente filosófica totalmente diversa. Não foi só a metafísica que morreu nos anos 1960-1970; também morreram a filosofia em geral e o homem em particular. Pelo menos foi pelo sintagma “a morte do homem” que a “arqueologia das ciências humanas” de Michel Foucault foi resumida, porque ele escreveu em As palavras e as coisas: “O homem é uma invenção cuja data recente a arqueologia do nosso pensamento mostra com facilidade. E, talvez, o fim próximo”.[viii]
Tratava-se do homem como objeto focal das ciências ditas humanas. E Foucault acrescentava: “Não conhecemos por enquanto nem a forma nem a promessa” do “acontecimento do qual podemos no máximo pressentir a possibilidade” que presenciará o fim das ciências humanas; contudo, suspeitava que ela “estaria relacionada à crescente onipotência do objeto linguagem”, pois “o homem perece à medida que brilha cada vez mais forte no nosso horizonte o ser da linguagem”.[ix]
Sobre esse último ponto, Foucault estava enganado. Se claramente assistimos à morte da ideia de homem desde a virada do século XXI, não é em consequência do desenvolvimento de uma ciência humana prolífera, em detrimento das demais; ela não é resultado de uma fagocitose interna, mas de uma absorção externa; é o desfecho do prodigioso desenvolvimento das ciências da vida e suas diversas relações num novo paradigma, o paradigma cognitivista.
A fraqueza do conceito de humanidade é também epistemológica. A generalização dos métodos e das teorias naturalistas nas ciências humanas parece pôr em risco a definição do humano.[x] As fronteiras da humanidade, entre os robôs e os animais, são cada vez mais incertas: não dizem que há um continuum, simples diferenças de grau, onde antes se postulavam rupturas ou oposições binárias?
De um lado, o reducionismo metodológico das neurociências e o modelo cognitivista parecem impor a ideia de uma continuidade entre o homem e a máquina: esta última serve de modelo de inteligibilidade para o cérebro, que por sua vez serve de modelo de realizabilidade dos robôs “inteligentes”. Mas esses modelos, embora úteis para esclarecer a mal distinta noção de inteligência, parecem incapazes de explicar os fenômenos de consciência: o horizonte da continuidade parece se distanciar enquanto nós, de nossa parte, acreditamos nos aproximar dele.
De outro lado, a biologia da evolução, a primatologia, a etologia, a paleoantropologia, a psicologia evolucionista etc., assentam-se metodologicamente no postulado de uma continuidade, em todos os campos, entre a espécie humana e as outras espécies vivas. Mas não se poderia concluir disso que “as ciências demonstram que há uma continuidade entre o homem e o animal”.
Essa conclusão é ilegítima. O novo paradigma naturalista estuda o ser humano “enquanto ser vivo” ou “enquanto animal sujeito às leis da evolução”. Portanto, é absurdo sustentar que as teorias que se assentam sobre esse paradigma podem demonstrar uma tese que lhes serve de princípio. Para fazer neurociência, biologia da evolução ou etologia humana, temos de considerar o homem um ser vivo que pode ser explicado à semelhança dos outros – portanto, temos de adotar uma posição dita “continuísta”. (Do mesmo modo, para fazer etnologia, linguística histórica ou psicanálise, temos de adotar a posição “descontinuísta”, segundo a qual existem “peculiaridades do homem”.)
Se estudamos o ser humano enquanto animal, não é surpresa que ele apareça como um animal, posto que o marcador “enquanto” filtra os predicados pertinentes em função das diretrizes metodológicas e epistemológicas previamente adotadas. Em outros termos, o continuísmo não pode ser o resultado, ele é a hipótese inicial.
A fraqueza epistemológica do conceito de humanidade é, no fundo, mais aparente do que real. É resultado de uma mudança de paradigma dominante nas ciências do homem. Não é uma “verdade científica”. Talvez esteja relacionada à vontade sistemática de excluir do saber todo preconceito teológico e romper com a imagem de um Homem feito à semelhança de Deus, situado no centro da Criação, radicalmente distinto de todos os seres artificiais e de todos os demais seres vivos. Mas é também o pressuposto filosófico de uma época rebelde a definições e categorias. Não é uma “verdade filosófica”.
Essas fraquezas políticas, morais, filosóficas e científicas da ideia de humanidade talvez sejam apenas sintomas de um mal mais profundo. O universal e, por conseguinte, o humanismo parecem ter perdido toda justificação histórica.
A época das Luzes proclamou “os direitos do homem”. Havia nisso uma parte de ideologia individualista dos direitos subjetivos, característica da Europa e dos Estados Unidos do século XVIII, e uma parte de projeto universalista concreto de emancipação da humanidade pela conquista de liberdades individuais.[xi] Mas essas “declarações” não se apoiavam numa constatação, como se todo mundo pudesse constatar que os homens nascem e permanecem livres e iguais (mesmo “em direitos”), já que o que se observava era justamente o contrário: eles nascem e permanecem desiguais, em fato e em direito.[xii]
O sentido dessas declarações era performativo: o objetivo era instituir uma comunidade capaz de realizar essa igualdade de direitos. No entanto, ainda faltava a essa ideia de igualdade algo que servisse de fundamento: esse papel foi representado no século XVIII pelo Ser supremo, pai e criador de todos os seres humanos – secularização do universalismo do cristianismo originário que a religião cristã não podia encarnar na França porque era ligada à monarquia absoluta “de direito divino”: “A Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser supremo, os seguintes direitos do Homem e do Cidadão”.[xiii]
Esse “Ser supremo” foi substituído, sem nenhum prejuízo, por seu avatar: a ideia de natureza, como atesta a Declaração de 1789 ao definir “os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem”. Todos os homens são “por natureza” iguais, apesar de cada um de nós poder constatar o contrário.
Todavia, essas duas ideias, a de um Ser supremo equânime e a de uma natureza igualadora da qual nasceram todos os seres humanos, tornaram-se frágeis na nossa pós-modernidade. As pessoas que “abandonaram” a religião não acreditam nem em um nem em outro. E as que não a abandonaram, ou a abraçaram de volta, têm tendência a ver em seu Deus a garantia de sua particularidade, atestada pela verdade absoluta dos textos sagrados nos quais acreditam. Assim, por uma questão de universalidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, inspirada no sentimento de que a civilização havia vencido a barbárie, não se apoia nem em Deus nem na natureza.
Mas essa vontade legítima de universalidade a priva justamente de um fundamento universalizável que não é mais possível encontrar. A efetividade da proclamação não pode mais depender de seus princípios. Essa é a sua fraqueza constitutiva. E como ela não pode mais contar com a força constituinte de uma fonte que se arme do gládio da Lei, seus efeitos variam ao sabor da evolução das relações internacionais e da frágil ordem jurídica resultante.
Não há como não se render à evidência. Se é tão fácil criticar filosoficamente o universalismo humanista, ou ridicularizá-lo, é porque, apesar de sua aparente generosidade, ou talvez por causa dela, suas ideias não se sustentam mais sobre nada. Ele não pode se fundamentar numa crença teísta: porque se Deus existe, ele é a fonte de todo valor.
Talvez ele tenha feito todos os homens iguais, ou talvez não; e os homens somente têm valor se o reconhecem ou se respeitam seus mandamentos: daí os conflitos inter-religiosos. O universalismo não pode se fundamentar numa visão naturalista: comparada à natureza, a espécie humana tem tanto valor quanto qualquer outra espécie de mamífero ou inseto; ou talvez valha até menos, se é, como se prefere descrevê-la hoje, a maior predadora e a maior causadora dos desequilíbrios ecossistêmicos. E seria contraintuitivo sustentar que “a Natureza fez todos os homens iguais”. Nós todos podemos ver que não é bem assim.
As teses universalistas são inúteis, ou no mínimo sem consistência conceitual? O humanismo das Luzes se acreditava fundamentado – mas era ocidentocentrista: essa era a sua fragilidade conceitual e a contradição interna pela qual paga ainda hoje. Neste momento de humanidade globalizada, o humanismo poderia ser universalista, mas é precário, porque não tem justificação transcendente. Tentar lhe dar novamente um fundamento filosófico, puramente racional, é a ambição deste livro.
O humanismo universalista, no sentido estrito que daremos ao termo, consiste, como já dissemos, em três teses.
A humanidade é uma comunidade ética: essa é a tese universalista propriamente dita. Ela é oposta ao relativismo segundo o qual não pode haver morais válidas e reconhecidas para todas as comunidades. A Parte I mostrará a possibilidade do universalismo, refutando os relativismos.
A humanidade é a única fonte de valor. Essa é a tese humanista propriamente dita. Ela é oposta à ideia de que o valor da humanidade provém de outros seres (Deus, a Natureza), ou que nada, nem mesmo ela, tem valor (niilismo). A Parte II será dedicada aos rivais universalistas do humanismo.
Essas duas primeiras partes têm uma pegada crítica. Resta o ponto capital. Se o humanismo não é um particularismo ocidental e não se funda num Deus, numa Natureza ou noutra coisa qualquer, em que se apoia a ideia de valor da humanidade e de igualdade de todos os seres humanos? São essas duas perguntas que a Parte III tentará responder.
*Francis Wolff é professor de filosofia na École Normale Supérieure de Paris. Autor, entre outros livros, de Pensar com os antigos (Unesp).
Referência
Francis Wolff. Em defesa do universal: para fundar o humanismo. Tradução: Mariana Echalar. São Paulo, Unesp, 2021, 270 págs.
Notas
[i] Agradeço calorosamente a André Comte-Sponville e Bernard Sève, amigos fiéis, francos e confiáveis, cuja leitura rigorosa me permitiu melhorar sensivelmente este texto.
[ii] Publicado pela Editora Unesp em 2013. [N. E.]
[iii] /10/2021 15:12:41
[iv] Publicado pela Editora Unesp em 2018. [N. E.]
[v] Sartre, “Jean-Paul Sartre répond”, p.92-3.
[vi] Vemos cada vez mais nas ciências sociais (e não apenas nas universidades norte-americanas) estudos exclusivos dedicados às “minorias” subjugadas (Black Studies, African-American Studies, Gender Studies, Feminist Studies, Jewish Studies, Islamic Studies etc.), com um programa teórico e militante que veio para substituir os estudos transversais (história, antropologia, sociologia, filosofia).
[vii] Cf., por exemplo, Amselle, L’ethnicisation de la France.
[viii] Foucault, Les mots et les choses, p.398.
[ix] Ibid., p.397.
[x] Wolff, Notre humanité, p.123-5.
[xi] Cf. adiante, Parte I, cap. 2, p.43.
[xii] Fazemos distinção entre a igualdade “de direitos” concedidos a todos os homens ou a todos os cidadãos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e a igualdade “em direito” (distinta da igualdade “em fato”), isto é, aquela que é reconhecida por um sistema de normas. Em termos mais simples: “de fato” é o que é, “de direito” é o que deve ser.
[xiii] A fortiori, a Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) faz referência a “Deus”, ao “Criador” e à “Providência divina”. Sobre essas questões históricas ou genealógicas, cf. adiante, Parte II, p.69.