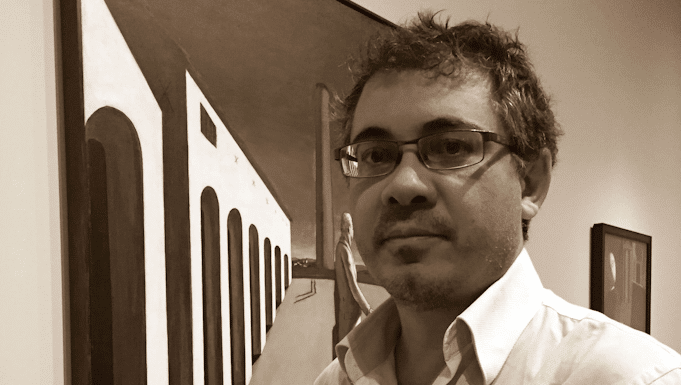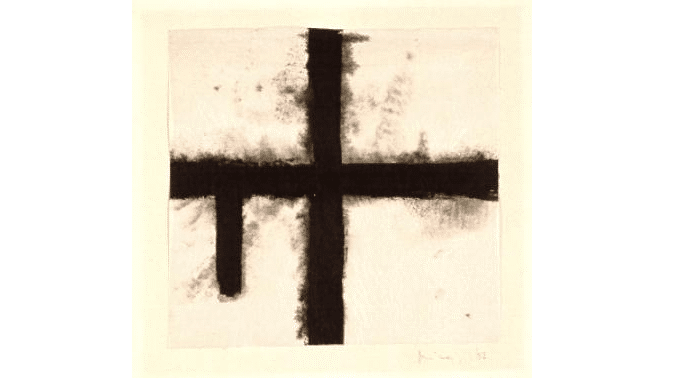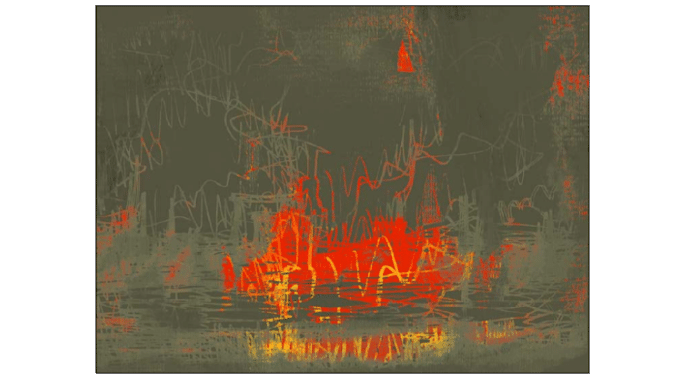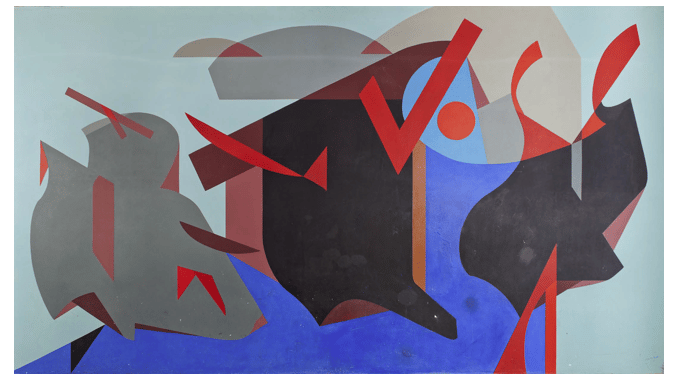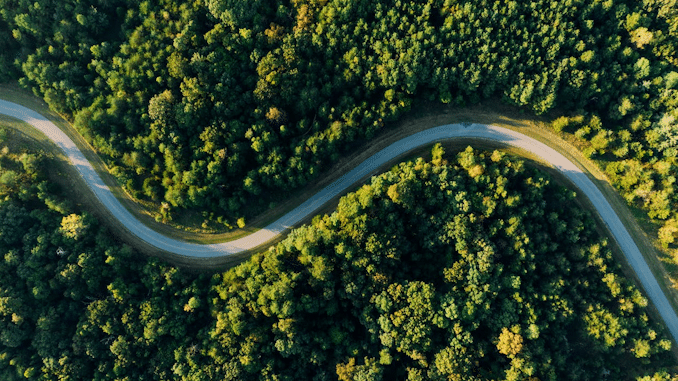Por MARIAROSARIA FABRIS*
Considerações sobre recepção da obra do cineasta italiano
O interesse pela obra de Federico Fellini foi intenso e constante no Brasil. Bastaria lembrar que o cineasta deixou marcas até em nosso idioma. De fato, assim como em italiano, também em português, o adjetivo “felliniano” está dicionarizado, sendo empregado ainda para referir-se a situações e personagens caricaturais ou grotescos, ou a atmosferas sugestivamente oníricas, que remetem a características de seus filmes, de Irene Ravache registrada por Walter Porto, e que recentemente foi o nome escolhido pelo Grupo Editorial Record para um novo selo, Amarcord, voltado para ‘‘narrativas incomuns’’, conforme a própria editora.
O substantivo “paparazzi” (mais comum do que o original “paparazzo”) – derivado do sobrenome de um fotógrafo de A doce vida (La dolce vita, 1959) – passou a designar, também entre nós, um fotorrepórter em busca de fatos sensacionalistas de celebridades, conforme registrado em “Fellinianas”. O título do filme E la nave va (E la nave va, 1983) tornou-se uma expressão bastante usada para indicar que a vida segue seu curso.
Há ainda outros tipos e momentos fellinianos que ficaram na imaginação do espectador comum: o Alberto (Alberto Sordi) de Os boas-vidas (I vitelloni, 1953), quando dá uma banana e zomba dos peões que estão recapeando uma estrada; a prostituta protagonista (Giulietta Masina) de As noites de Cabíria (Le notti di Cabiria, 1957), como veremos mais adiante; A estrada da vida (La strada, 1954), desencadeadora de uma grande comoção, que se prolongou durante todo o dia, como confessa, em Verdade tropical, Caetano Veloso; Amarcord (Amarcord, 1973), com todo seu “inventário de emoções”, segundo definição de Irene Ravache registrada por Walter Porto.
Do ponto de vista da crítica cinematográfica, embora já nos anos 1950 não tenham faltado artigos sobre a filmografia felliniana, foi nas duas décadas seguintes que o interesse se tornou mais acentuado. O ano de 1960 é emblemático, pois no festival História do Cinema Italiano, realizado pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro) e pela Cinemateca Brasileira (São Paulo), a sessão de abertura da edição carioca exibiu O abismo de um sonho (Lo sceicco bianco, 1952), enquanto a sessão de encerramento da edição paulistana projetou A doce vida. Entre 1970 e 1972, a editora Civilização Brasileira – na coleção Biblioteca Básica de Cinema, dirigida por Alex Viany – publicou seis roteiros do diretor: O sheik branco, A estrada, A doce vida, Os boas-vidas, 81/2 (81/2, 1963) e A trapaça (Il bidone, 1955).
Outra ocasião determinante foi a da edição de Fellini visionário, que, embora tenha se detido apenas em A doce vida, Oito e meio e Amarcord, pode ser considerado um bom paradigma para se estabelecer como se deu a recepção da obra do cineasta italiano no Brasil. Para elucidar os roteiros dos três filmes escolhidos, que o organizador Carlos Augusto Calil considera os melhores do diretor, o volume juntou textos do passado (de Francisco Luiz de Almeida Salles, Roberto Schwarz, Gilda de Mello e Souza e Glauber Rocha) com trabalhos mais contemporâneos (de Luiz Renato Martins e do próprio Calil), oferecendo um pequeno apanhado de como a obra do diretor foi lida por autores brasileiros.
Fellini visionário ofereceu, ainda, a tradução dos três roteiros citados e quatro blocos de declarações do diretor – extraídas de periódicos italianos e franceses, de press-release e de um programa televisivo –, contradizendo, em parte, os próprios objetivos, uma vez que alguns dos textos ensaísticos escolhidos se afastavam da corrente principal da crítica brasileira, muito pautada pelas entrevistas do autor sobre os próprios filmes. Ao colocar o leitor face a face com o diretor, antes de se defrontar com as reflexões críticas sobre ele, o livro não deixava de condicionar a compreensão da obra felliniana.
Ampliando o leque dos autores citados pelo organizador de Fellini visionário – Antônio Moniz Vianna, Alex Viany, José Lino Grünewald, Sérgio Augusto, Paulo Perdigão, Jean-Claude Bernardet, Maurício Gomes Leite e Telmo Martino, além dos já arrolados –, podem ser lembrados ainda Paulo Emílio Salles Gomes, Ronald F. Monteiro, Luiz Raul Machado, Guido Bilharino, Kátia Peixoto dos Santos, Euclides Santos Mendes, João Eduardo Hidalgo, Julia Scamparini Ferreira, Carolina Bassi de Moura, Rafaela Fernandes Narciso, Mariarosaria Fabris, Mateus Araújo Silva, Sandro Fortunato, Luiz Zanin Oricchio, Cássio Starling Carlos, Pedro Maciel Guimarães, Ismail Xavier, Renato Janine Ribeiro, Mariano Torres, muitos dos quais constituem as referências do presente artigo. Apesar dessa ampliação, os dois momentos cruciais acima citados servirão de baliza na tentativa de fazer um pequeno retrospecto da recepção da filmografia felliniana entre nós, baseado principalmente em autores paulistas e fluminenses.
Nos anos 1960-1970, a crítica acentuou a existência de um Fellini antes de sua afirmação como diretor autoral. Para Antônio Moniz Vianna, seu nome, enquanto roteirista, “está associado aos títulos mais significativos do neorrealismo rosselliniano, como ainda aos melhores ensaios de Pietro Germi e Alberto Lattuada” e, enquanto ator, mais uma vez a Roberto Rossellini, em O milagre (“Il miracolo”) – segundo segmento de O amor (L’amore, 1948), quando voltava a assomar um tema já presente no episódio romano de Paisá (Paisà, 1946), o qual, sempre segundo Moniz Vianna, em outro texto de 1960, “percorreria toda a obra felliniana como dominante: a falta de comunicação entre as pessoas”.
Dessa incapacidade comunicativa resultaria o isolamento, característica que ganharia força em A estrada da vida, A trapaça e As noites de Cabíria, “componentes de uma ‘trilogia da solidão’”, como assinalou Sérgio Augusto (1972), ou, na denominação de Ronald F. Monteiro, “filmes místicos”, pois, para o cineasta, de novo nas palavras de Sérgio Augusto (1971), “a angústia moral pesa mais do que as falhas sociais, a dialética não compensa as graças da anagogia”.
Em artigo de 1960, Paulo Emílio Sales Gomes seguia por esta mesma linha, estabelecendo ainda “um parentesco profundo” com o já citado “O milagre”. Não foi diferente a opinião de Almeida Salles (1994), o qual, ao resenhar A doce vida, na época de seu lançamento no Brasil, e referindo-se também aos três filmes anteriores, escreveu: “O sagrado laicizado é a própria dimensão do olhar de Fellini e posto sobre as coisas e os seres dá-lhes um sentido de signo que transcende o documento bruto”.
Num panorama cultural que tendia para a análise dos problemas sociais, Fellini surgiu como uma espécie de outsider, por debruçar-se sobre os tormentos existenciais, o que levou a questionar seu pertencimento ao neorrealismo que ainda dominava a cena cinematográfica italiana quando ele começou a afirmar-se como autor. Se, ao apresentar o roteiro de Os boas-vidas, Alex Viany afirmava que o diretor continuava “conscientemente filiado ao movimento neorrealista”, ao deter-se sobre O abismo de um sonho, o crítico havia escrito: “Suas relações mais profundas com o neorrealismo tiveram início com o próprio marco zero do movimento, Roma, città aperta (Roma cidade aberta), em 1945”.
Antes dele, Moniz Vianna, no catálogo Cinema italiano, já havia colocado o problema ao constatar que: “Neorrealista ou desertor, o importante em Fellini é a transfiguração do real pela poesia […]. La strada completa a transfiguração do neorrealismo pela poesia ou, como observa um crítico francês, vai para um círculo especial do movimento através de uma ‘orientação no sentido de um maravilhoso real’, a mesma tomada por Miracolo a Milano [Milagre em Milão, 1951, de Vittorio De Sica] e Il cappotto [O capote, 1952, de Lattuada], estranhos companheiros”.
Almeida Salles também, em Cinema e verdade (1965), apontava para um real que, em Fellini e outros cineastas, “não é mais o real do cinema verossímil, nem o do neorrealismo. É um real transcendentalizado. Um real, portanto, que, pela participação sutil do artista, se faz verdade do real”. Embora considerasse Fellini “saído do neorrealismo”, Viany, na apresentação do roteiro de La dolce vita, seguirá pela mesma trilha de Almeida Salles, ao salientar que, para o cineasta, “os fatos da vida só adquirem vivência e validade quando passam pelo filtro de sua fantástica imaginação, quando coloridos por sua inesgotável fantasia”.
E se José Lino Grünewald definia o diretor um “antineorrealista, não como um antagonista polêmico (ex-vi a admiração por Rossellini), mas como uma diversidade de vivência e tendência”, Monteiro lembrava que ele foi “substituindo gradativamente as influências neorrealistas pelo onírico e os delírios barrocos. Fellini nunca foi um realista: seu naturalismo temperado de humanismo sentimental jamais ultrapassou a exterioridade da crônica”. Mesmo a “atmosfera provinciana” e as paisagens das primeiras realizações não eram reais: “Eram simples projeções”.
A ênfase na associação de Fellini com o neorrealismo arrefeceu com o tempo, mas novos pesquisadores, como Euclides Santos Mendes e Julia Scamparini Ferreira, retomaram a questão em seus trabalhos acadêmicos, sem novidades em relação aos autores precedentes e sem convencer em sua defesa de um Fellini neorrealista. Entrementes, Mateus Araújo Silva apontou como, em As noites de Cabíria, o diretor talvez conseguisse superar o “horizonte neorrealista (do qual esteve próximo como roteirista)”, num percurso que, “ao longo dos anos vai acentuar cada vez mais a dimensão do imaginário e investir na deformação, pela memória ou pela imaginação, da realidade vivida ou observada”.
Conforme sublinham alguns críticos, o cineasta italiano, no entanto, dialogou também com outros diretores. Se Moniz Vianna, em 1963, destacava em 81/2 “certo intelectualismo que o autor – de certa forma o anti-Bergman, o anti-Antonioni, o anti-Resnais – utiliza aqui como se estivesse, ao mesmo tempo, satirizando e corrigindo os autores referidos”, Guido Bilharino apontou no filme “a influência do cerebral Bergman de Morangos silvestres (Smultronstället, 1957), que, dois anos antes, encanta e bouleverse o mundo” E, como não poderia deixar de ser, foi detectada ainda, na obra felliniana, a relação com Charles Chaplin. Para Grünewald: “Até As noites de Cabíria (incluindo nisso obras tão marcantes, como o Sceicco bianco, I vitelloni, La strada e Il bidone), era possível denotar a influência direta, evidente e confessada do lirismo de Chaplin”.
A presença do “vagabundo”, sempre segundo Grünewald, era evidente no “acompanhamento melódico singelo e emotivo” de A estrada da vida e na caracterização de sua protagonista – “Gelsomina, Carlitos de saias” –, na qual, porém, Pedro Maciel Guimarães encontrará “o equivalente europeu das garotas frágeis e meio palhaças dos filmes de Chaplin”. Falar de Charles Chaplin significa ainda falar do circo na filmografia do cineasta italiano, como fez em suas pesquisas de pós-graduação Kátia Peixoto dos Santos, ao analisar A estrada da vida, Os palhaços (I clowns, 1970) e Ginger e Fred (Ginger & Fred, 1986).
Rafaela Fernandes Narciso, também, em sua dissertação de Mestrado, analisou, a partir de A estrada da vida, o papel da estética clownesca na filmografia do diretor. Indo além desses aspectos mais evidentes, Monteiro destacava como a própria estrutura das obras fellinianas, desde o início, se ressentia da atração do diretor pelos espetáculos populares: “a construção fragmentada dos roteiros de Fellini se aproxima da composição em esquetes do show circense: cada episódio tem o seu coup-de-foudre; o impacto dos filmes decorre, sempre, da organização das curvas ascendentes da dramaturgia em cada episódio isolado. Consequentemente, a conclusão deve conter o clímax”.
Foi nesse sentido que Viany classificou Os boas-vidas de “filme-crônica, constituído de episódios um tanto descosidos, que têm como ligação as personagens centrais, o ambiente e o tema”. Já Cássio Starling Carlos preferiu ver, nessa “estrutura em episódios, breve, fragmentária e serial” – que, em Fellini, vinha substituir a “progressão dramática tradicional” –, certa semelhança com a estrutura “das tirinhas que ele devorava na infância”. É em nome dessa “técnica de narração” (de acordo com Monteiro) que, na sequência final dos filmes de Fellini, se adensa a dramaticidade – bastaria pensar na trilogia da solidão, com Zampanó, o qual, saudoso de Gelsomina, “se ajoelha na praia, só, à noite, com o mar e as estrelas, e as lágrimas escorrem-lhe no rosto”,
Augusto, “o bidonista que agoniza, só, à beira da estrada por onde passam, sem ouvir seu último murmúrio, os camponeses acordados pela madrugada”; Cabíria e sua “miragem, que, desfeita, a lançará ao chão, à terra que Fellini usa sempre como elemento básico de purificação” (segundo Vianna em Cinema italiano) – ou são amarrados os fios soltos da fragmentação da narrativa, como na ciranda circense que fecha Oito e meio, quando Guido, no set transformado em picadeiro, começa a dirigir o espetáculo, do qual, junto com seus personagens, ele também fará parte.
Os personagens de Oito e meio podem ser considerados uma espécie de súmula dos tipos que povoam o universo felliniano, com os quais o cineasta manteve uma relação nem sempre cordial. Sales Gomes, em 1956, assinala como Fellini, em Mulheres e luzes (Luci del varietà, 1950) e O abismo de um sonho, “brincava com seus personagens, caçoava deles, às vezes impiedosamente”; mas, aos poucos, começou a lançar sobre eles um olhar mais carregado de simpatia, isso já na segunda obra citada e ainda em Os boas-vidas e A estrada da vida, enquanto em A trapaça se aproximava de suas criaturas com uma “piedade desesperada” – sentimentos ausentes em Casanova de Fellini (Il Casanova di Federico Fellini, 1976), quando o diretor constatou, nas palavras de Bilharino, o “permanente vazio existencial” do protagonista.
Em A trapaça, segundo Sérgio Augusto, “o bestiário felliniano – farândola dos simples e loucos – encontrava um habitat familiar”, dado observado também por Glauber Rocha, em texto escrito por volta de 1977, em relação aos filmes da primeira fase, nos quais as histórias “se passam em lugares pobres povoados de semifamintos, loucos fellinianos vagam num horizonte de miséria, mas desconhecem a realidade, são o sonho, a beleza que Fellini cria”.
E é sempre Sérgio Augusto (1971) a frisar que André Bazin foi “o primeiro a definir o homo fellinianus como ‘uma maneira de ser’, o oposto do personagem no sentido saxão de character”. Seu comentário ecoa as observações feitas por Roberto Schwarz, em 1965, sobre Oito e meio: “Na realização do filme o diretor parte dos atores que tem, e não das personagens imaginárias. […] Guido parte de suas obsessões e procura nos atores a semelhança com elas; mas, entre visão e ator há um hiato insuperável”. O autor assinalava ainda que, na obra, nada autorizava a identificação entre o personagem principal e o diretor, embora as visões de Guido tivessem sido filmadas por Fellini.
Com isso Roberto Schwarz refutava o componente autobiográfico detectado, com restrições ou não, por vários autores na filmografia felliniana. Na recepção brasileira, a questão das declarações do diretor sobre a própria obra é bastante problemática, visto que, nas principais bibliotecas, mesmo nas especializadas em cinema, abundam livros como Fare un film (Fazer um filme, 1980) ou como os que recolhem, em várias línguas, a infinidade de entrevistas concedidas por Fellini, de autoria de Camilla Cederna, Charlotte Chandler, Rita Cirio, Costanzo Costantini, Goffredo Fofi & Gianni Volpi, Giovanni Grazzini, Tullio Kezich, Damien Pettigrew, Christian Strich & Anna Keel etc.
Se Luiz Raul Machado assinalava enfaticamente que a obra do diretor “se mistura com sua vida de forma única”, Calil classificava o “narrador que diz eu, travestido em alter ego de Guido ou de Marcello” de “um dos mais bem-sucedidos artifícios de Fellini”; enquanto Moniz Vianna e Mariarosaria Fabris se interrogavam sobre em que personagem ou personagens o cineasta se encarnaria, Julia Scamparini Ferreira, partindo de características que moldariam a identidade italiana, inseriu nessa questão a obra felliniana, em sua opinião autobiográfica em sentido amplo por resgatar uma memória coletiva.
Por sua vez, Luiz Renato Martins, na esteira de Roberto Schwarz, contestava o mito das memórias pessoais, seja em Conflito e interpretação em Fellini: construção da perspectiva do público, livro dedicado a Roma de Fellini (Roma, 1972), Amarcord, Ensaio de orquestra (Prova d’orchestra, 1978) e A cidade das mulheres (La città delle donne, 1980), seja em outro texto sobre Amarcord, no qual afirmava que a voz verbal em dialeto da Romanha (mè a m’acòrd = eu me lembro), da qual deriva o título do filme, “indica a transformação de vivências subjetivas em representações objetivadas e sob exame do público. Abre, assim, a interlocução e institui a exposição do passado em âmbito plural”.
Outro aspecto ligado à questão das personagens, são as mulheres fellinianas que tanto povoaram o imaginário masculino. Prova disso são a canção “Giulietta Masina”, que Caetano Veloso dedicou a Cabíria; uma foto de Luiz Teixeira Mendes, “Noites de Cabíria – uma homenagem a Fellini” (2017), em que, numa esquina do bairro boêmio da Lapa (Rio de Janeiro), o transformista Juju Pallito Azaranys reencarnava a protagonista do filme; o livro Mulheres de Fellini nos anos1950 – de Liliana a Cabíria, de Sandro Fortunato, para quem elas “não podem ser vistas apenas como simples personagens. […] São mais que estereótipos, são complexas. Cheias de detalhes, humanas e verdadeiras. Por isso são tão próximas e fascinantes”. Visão que coincide com a de Machado quando afirmava que, para Fellini, as mulheres são “um ponto de referência fundamental: alter egos tão profundamente diferentes que nascem como complemento obrigatório para o homem ser verdadeiramente humano”: das mães às prostitutas, passando pelas amantes, pelas mulheres inatingíveis, pelas jovens que “anunciam uma possível redenção”.
A opinião de Gilda de Mello e Souza, em “O salto mortal de Fellini”, escrito entre 1968 e 1979, era bem diferente, pois, salientava que o diretor não compreendia as mulheres: se tinha êxito “quando desenha personagens marginais, cantoras de café-concerto (Os boas-vidas), retardadas mentais (A estrada da vida), prostitutas (As noites de Cabíria)”, fracassava ao tentar analisar “uma psicologia feminina normal”, como em Julieta dos espíritos (Giulietta degli spiriti, 1965). Quanto às figuras femininas de Oito e meio, para a autora, elas não eram nem “personagens”, nem “tipos básicos, isto é, A Esposa (Luisa), A Amante (Carla), O Eterno Feminino (Claudia); pois o leque de possibilidades femininas […] se reduz à oposição básica das duas faces de eros, à duplicação pura e impura do amor, encarnada na mãe e na Saraghina”.
Embora tenha dedicado poucos trabalhos à obra de Fellini, Dona Gilda pode ser considerada sua melhor intérprete no Brasil, pela apurada análise fílmica, algo raro nos trabalhos sobre o diretor. Ao abordar Oito e meio, ela conseguiu demonstrar, mais do que outros autores, por que o filme “é o grande turning point” (como o definiu Machado) da trajetória felliniana. Para Gilda de Mello e Souza, esta obra podia ser inserida “na linha de vanguarda da narrativa contemporânea” – em particular do nouveau roman e das obras cinematográficas a ele associadas: Hiroshima, meu amor (Hiroshima mon amour, 1959) e O ano passado em Marienbad (L’année dernière à Marienbad, 1961), de Alain Resnais, e Morangos silvestres –, pois Fellini havia construído “uma narrativa livre, dissolvendo o entrecho linear numa certa atemporalidade”. Consequentemente, o cinema deixava de ser “a arte do presente do indicativo”, pois o que se impunha era o “tempo subjetivo de Guido”, cuja peregrinação temporal “vai do real ao imaginário”. O espaço, também dilatado, se aproximava ao da “pintura barroca, ao desprezar a prisão da moldura”. Dessa forma, a “imagem […] tem como campo a amplidão da tela”.
Os conhecimentos de artes visuais da autora a levaram a vislumbrar “um senso cenográfico, que lembrava muito Salvador Dalí” (1971) em Julieta dos espíritos, a respeito do qual Julio Augusto Xavier Galharte sugeriu outro paralelo com o Surrealismo, desta feita com René Magritte, pelo fato de personagens serem retratados de costas como em obras do pintor belga. Em sua análise de Satyricon de Fellini (Fellini-Satyricon, 1969), ela era acompanhada por Bilharino, para quem, no filme, “inúmeras tomadas e cenas destacam-se […] também pelo puro aspecto cromático e pictórico, excepcionalmente concebido e elaborado”.
Segundo Dona Gilda, por “ambientar a pesquisa da cor na pintura de Herculano e Pompeia, portanto, numa pintura contemporânea da obra” homônima de Petrônio (c. 60 d.C.), na qual havia se inspirado, Fellini, tornava “admirável a transposição que efetua do espaço pictural para o espaço fílmico, a transposição que vai fazendo do código da palavra para o código da imagem”.
Uma lição que Luiz Fernando Carvalho demonstrou ter aproveitado, ao declarar: “Minha motivação no cinema é a passagem de um estado a outro estado. […] Só ultrapassamos a mera construção técnica de um filme se formos capazes de gerar uma fabulação, um sonho” – palavras registradas por Carolina Bassi de Moura, ao pesquisar os desdobramentos das ideias fellinianas também em Tim Burton, Jean-Pierre Jeunet, Guillermo del Toro e Rob Marshall.
A esses nomes poderiam ser acrescentado os de Woody Allen, o qual, em Memórias (Stardust memories, 1980), prestou seu tributo a Oito e meio (segundo Oricchio); Pedro Almodóvar, uma vez que La Agrado de Tudo sobre minha mãe (Todo sobre mi madre, 1999) teria uma função similar à de La Gradisca em Amarcord (na visão de Hidalgo); Selton Mello com seus O palhaço (2011) e O filme da minha vida (2017),[1] que não deixariam de ter certa ligação com Os palhaços e Amarcord, respectivamente; Taron Lexton, o qual, no longa-metragem Em busca de Fellini (In search of Fellini, 2017), tentou abarcar os vários momentos da filmografia do diretor italiano, sendo que “ora o tom é mais neorrealista, ora é mais onírico – e o tempo todo surgem referências a personagens e cenas de seus filmes” (na opinião de Miranda).
A meu ver, deveriam ser citados ainda David Lynch, pela imbricação do real com o onírico; o Ingmar Bergman de Para não falar de todas essas mulheres (För att inte tala on alla dessa kvinnor, 1964), em que parodiava Oito e meio; o Martin Scorsese de Caminhos perigosos(Mean streets, 1973), que dialogava com Os boas-vidas; o Bob Fosse da peça (1966) e do filme (1969) Charity, meu amor (Sweet Charity), que remetiam a As noites de Cabíria; O fundo do coração (One from the heart, 1982), de Francis Ford Coppola. Este, em Tetro (Tetro, 2009), e Alejandro González Iñárritu, em Bardo, falsa crônica de algumas verdades (Bardo, false chronicle of a handful of truths, 2022), realizaram o próprio Oito e meio, ampliando assim o quadro de como a crítica brasileira refletiu sobre a obra de Fellini num contexto cinematográfico global.
Além de Luiz Fernando Carvalho e Selton Mello, não parece ter havido um diálogo mais profundo com outros cineastas brasileiros: a evocação felliniana em Dias melhores virão (1989) e O grande circo místico (2018), de Cacá Diegues, o exercício de releitura∕filmagem Sobre Noites de Cabíria (2007)[2] e os títulos de A estrada da vida (1980), de Nelson Pereira dos Santos, e Eu me lembro (2005), de Edgar Navarro, são antes homenagens ao diretor italiano, como a que lhe prestou também Caetano Veloso no filme O cinema falado (1986) e no álbum Omaggio a Federico e Giulietta (1979), na já citada canção “Giulietta Masina” e, especialmente, em “Trilhos Urbanos”, na qual recuperava certas atmosferas das primeiras obras do cineasta, como revelou em O mundo não é chato: “Estava certo de cantar ‘Trilhos Urbanos’ também, pois era preciso pôr tudo na perspectiva da minha meninice em Santo Amaro, onde eu vi os filmes de Fellini pela primeira vez e de onde me vem esse sentimento de recuperação metafísica do tempo perdido que é semelhante ao sentimento que percebo nestes filmes”.
No teatro e na literatura este diálogo se fez presente, embora timidamente. O álbum da história em quadrinhos felliniana Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet (com desenhos de Milo Manara) foi transformado por Marcelo Rubens Paiva na peça Il viaggio (2012), enquanto o sucesso da Broadway Nine (1982), de Maury Yeston e Arthur Kopit, ganhou os palcos brasileiros em Nine – um musical felliniano (2015). Se o poeta Manoel de Barros, em Retrato do artista quando coisa (1998), se referiu explicitamente ao cineasta – “Um dia me chamaram primitivo: / Eu tive um êxtase. / Igual a quando chamaram Fellini de palhaço: / E Fellini teve um êxtase” – conforme Galharte reportou, Cristóvão Tezza fez da obra de Fellini o exemplo de um “cinema fortemente autoral”, pois “já não distinguimos um filme de outro; a obra se transforma em linguagem”.
Por sua vez, Luiz Ruffato atribuiu à realização de 1974 o propósito de tornar-se escritor: “Quando resolvi escrever minhas primeiras narrativas, algumas das premissas fellinianas, expostas de forma mais objetiva em Amarcord, nortearam minhas escolhas. A força da memória. A importância do cotidiano banal. A fragmentação do discurso. O clima de sonho como recurso para exacerbação do real. O todo compreendido a partir de suas partes. E, principalmente, o respeito pelos personagens, retratados em sua mais profunda dignidade”.
A obra do diretor foi ainda alvo de mostras como Figurati – Retrospectiva Federico Fellini (São Paulo, 2004); Delírio Fellini (Salvador, 2015), outra retrospectiva de sua filmografia; Circo Fellini (São Paulo, 2005), quando foi exibida uma série de seus desenhos; Tutto Fellini (Rio de Janeiro-São Paulo, 2012), que mantiveram viva sua memória, assim como o filme de Ettore Scola Que estranho chamar-se Federico (Che strano chiamarsi Federico, 2013), grande sucesso de público no Brasil, que permitiu a seus apreciadores matar as saudades de seu universo fantástico.
*Mariarosaria Fabris é professora aposentada do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Autora, dentre outros livros, de O neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura (Edusp).
Versão revista do texto homônimo publicado nos Anais do 7º Seminário Nacional Cinema em Perspectiva e XI Semana Acadêmica de Cinema, Curitiba, 2018.
Referências
BILHARINO, Guido. O cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock. Uberaba: Instituto Triangulino de Cultura, 1999.
CALIL, Carlos Augusto. “T’esconjuro Federì”. In: ________ (org.). Fellini visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
CARLOS, Cássio Starling. “Personagem de prostituta gira em um circo de brutalidades”. In: ________ (org.). Federico Fellini: Noites de Cabíria. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2018.
FABRIS, Mariarosaria. “Federico Fellini: quase um auto-retrato”. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 out. 2004.
FABRIS, Mariarosaria. “Fellinianas”. Seminário Magazine, Salvador, 26-31 maio 2015.
FELLINI, Federico. Fazer um filme. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
FERREIRA, Julia Scamparini. Do simbólico ao subjacente: nuances de um discurso sobre a identidade italiana no cinema de Fellini. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
FORTUNATO, Sandro. Mulheres de Fellini nos anos 1950 – de Liliana a Cabíria. Natal: Fortunella Casa Editrice, 2013.
GALHARTE, Julio Augusto Xavier. Despalavras de efeito: os silêncios na obra de Manoel de Barros. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 2007.
GOMES, Paulo Emilio Sales. “O caminho de Fellini”; “Lo sceicco bianco”. In: Crítica de cinema no Suplemento Literário. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
GRÜNEWALD, José Lino. “Fellini – um mundo pessoal”. In: FELLINI, Federico. La strada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
GUIMARÃES, Pedro Maciel. “Mulher e musa, Giulietta Masina encarnou a ambiguidade felliniana”. In: CARLOS, Cássio Starling (org.), op. cit.
HIDALGO, João Eduardo. O cinema de Pedro Almodóvar Caballero. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 2007.
MACHADO, Luiz Raul. “A vitória da mentira”. In: FELLINI, Federico. Eu sou um grande mentiroso: entrevista a Damien Pettigrew. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
MARTINS, Luiz Renato. Conflito e interpretação em Fellini: construção da perspectiva do público. São Paulo: Edusp/Istituto Italiano di Cultura/Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, 1994.
MARTINS, Luiz Renato. “Memórias impessoais”. In: CALIL, Carlos Augusto (org.), op. cit.
MENDES. Euclides Santos. Gli anni d’apprendistato cinematografico del giovane Federico Fellini: 1939-1953. Dissertação de Mestrado. Florença: Università degli Studi di Firenze, 2004-2005.
MENDES, Euclides Santos. Cristais de tempo: o neorrealismo italiano e Fellini. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2013.
MIRANDA, André. “Em busca de Fellini”. O Globo, Rio de Janeiro, 7 dez. 2017.
MONTEIRO, Ronald F. “Fellini entre o cinema e o circo”. In: FELLINI, Federico. 81/2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.
MOURA, Carolina Bassi de. A construção plástica dos personagens cinematográficos: uma abordagem a partir da obra de Federico Fellini. Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 2010.
NARCISO, Rafaela Fernandes. La strada: uma estética clownesca. Dissertação de Mestrado, Guarulhos, UNIFESP, 2012.
ORICCHIO, Luiz Zanin. “Nine é citação pura de Fellini, pois o mestre é inimitável”. O Estado de São Paulo, 10 maio 2015.
PORTO, Walter. “Inventário de emoções”. Folha de S. Paulo, 30 set. 2018.
ROCHA, Glauber. “Glauber Fellini”. In: CALIL, Carlos Augusto (org.), op. cit.
RUFFATO, Luiz. “Eu me recordo”. Folha de S. Paulo, 18 mar. 2018.
SALLES, Francisco Luiz de Almeida. “Apocalipse de Fellini”. In: CALIL, Carlos Augusto (org.), op. cit.
SALLES, Francisco Luiz de Almeida. “Cinema e verdade”. In: Cinema e verdade: Marilyn, Buñuel, etc. por um escritor de cinema. São Paulo-Rio de Janeiro: Companhia das Letras/Cinemateca Brasileira/Fundação do Cinema Brasileiro, 1988.
SANTOS, Kátia Peixoto dos. O circo eletrônico em Fellini. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC, 2009.
SANTOS, Kátia Peixoto dos. A presença do espetáculo circense, mambembe e do teatro de variedades no contexto fílmico de Federico Fellini. Dissertação de Mestrado. São Paulo: USP, 2001.
SCHWARZ, Roberto. “O menino perdido e a indústria”. In: CALIL, Carlos Augusto (org.), op. cit.
Sérgio Augusto. “Os boas-vidas esclerosados”. In: FELLINI, Federico. A trapaça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.
Sérgio Augusto. “Os boêmios errantes de Rimini”. In: FELLINI, Federico. Os boas-vidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
SILVA, Mateus Araújo. “Noites de Cabíria”. In: FRANCO, Gisella Cardoso (org.). Olhares neo-realistas. São Paulo-Brasília: Centro Cultural Banco do Brasil, 2007.
sOUZA, Gilda de Mello e. “Fellini e a decadência”. In: Discurso, São Paulo, v. I, n. 2, 1971.
SOUZA, Gilda de Mello e. “O salto mortal de Fellini”. In: CALIL, Carlos Augusto (org.), op. cit.
TEZZA, Cristóvão. “Conversa de domingo”. Folha de S. Paulo, 26 ago. 2018.
VELOSO, Caetano. O mundo não é chato. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
VIANNA, Antonio Moniz. “A doce vida”; “81/2”. In: Um filme por dia: crítica de choque (1946-73). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
VIANNA, Antonio Muniz. “Federico Fellini”. In: Cinema italiano. São Paulo: Cinemateca Brasileira, 1960.
VIANY, Alex. “O fantástico repórter”. In: FELLINI, Federico. A doce vida. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
VIANY, Alex. “A fotonovela de Federico Fellini”. In: FELLINI, Federico. O sheik branco. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
VIANY, Alex. “As memorias de um boa-vida”. In: FELLINI, Federico. Os boas-vidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
Notas
[1] Sugestão do Prof. Luiz Carlos Sereza, no debate que se seguiu à apresentação deste trabalho no seminário de 2018.
[2] Filmado no 2º semestre do Curso Superior do Audiovisual-USP. Do trecho acessado no youtube não constava a autoria.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA