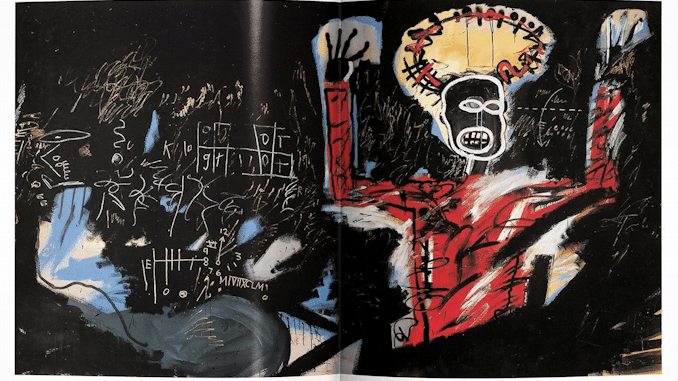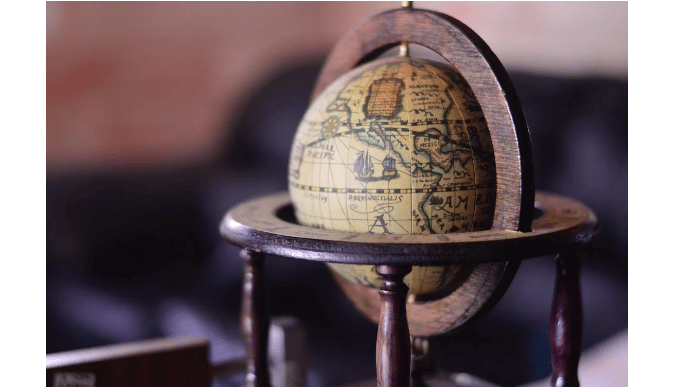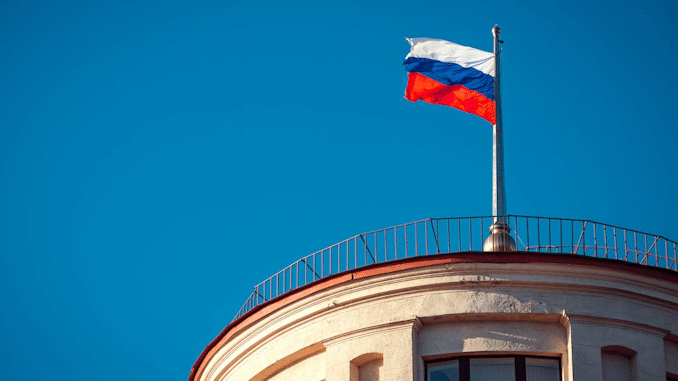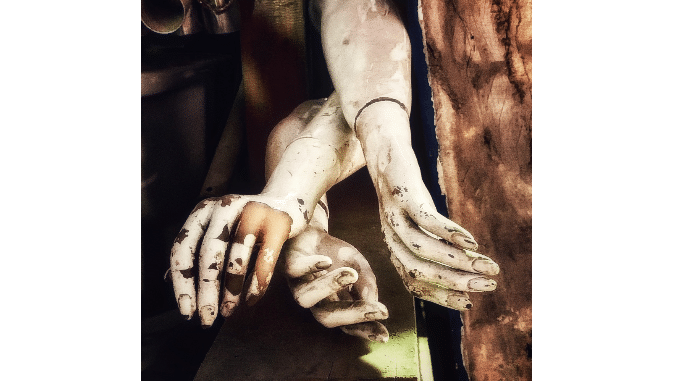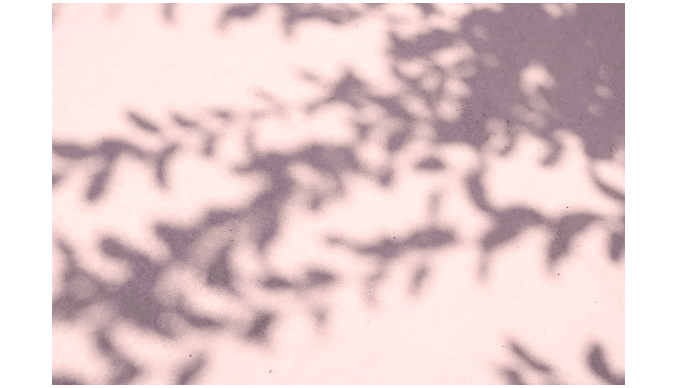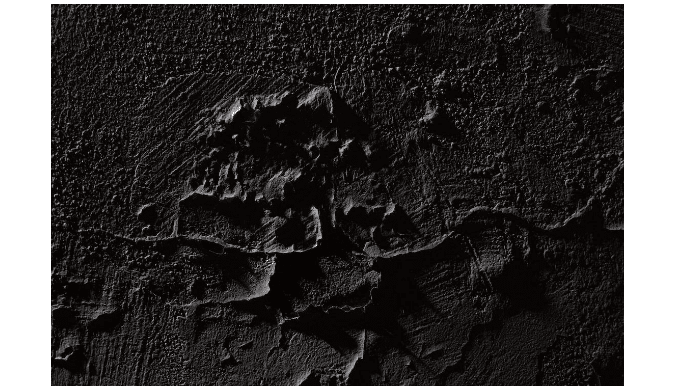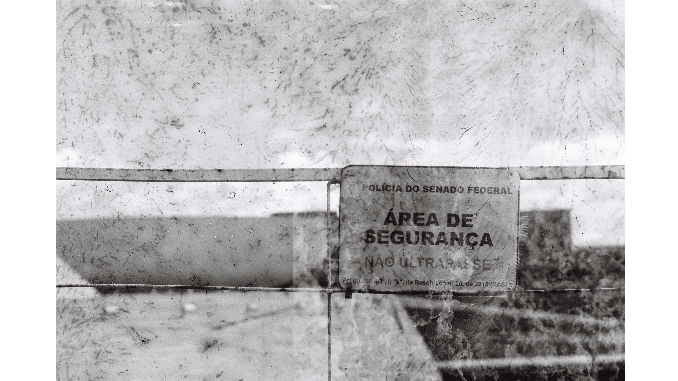Por WANDERSON CHAVES*
Buscar novos posicionamentos de conflito aberto e produtivo, e ruptura com as tradições de ação do pensamento social brasileiro, coloca-se como uma condição de liberdade e alianças antirracistas de esquerda
Devemos a Alex Ratts a possibilidade de devassa a algumas das coordenadas críticas e iconoclastas do ensaio da pensadora e ativista Lélia González. Seu artigo “Cultura, etnicidade e trabalho: efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher”,[i] apresentado em 1979, em um encontro da Latin American Studies Assotiation em Pittsburgh, nos EUA, matizava temas e processos que estavam secundando naquele momento a organização do Movimento Negro Unificado.[ii] Um pretendido ajuste de contas com o pensamento social brasileiro do século XX, a apresentação era dirigida por uma instigante convocação: que a politização racial pudesse finalmente tornar a negritude uma força disfuncional para a sociedade brasileira.
Apostava-se contra o primado da integração. Para a autora, deste provinham mistificações com as quais a condição negra vinha sendo construída nas visões normativas de Brasil e futuro, mesmo entre tendências situadas além da direita política, no “marxismo ortodoxo” de Caio Prado Júnior e no “modernismo desenvolvimentista” de Florestan Fernandes, por exemplo.
Lélia González revisitava o debate conceitual sobre a marginalidade, um tópico então caro à teoria social latino-americana de debate ou combate à teoria da dependência. Dialogava-se nesse campo sobre perspectivas regionais da integração às novas relações sociais de produção do sistema internacional, de trocas comerciais e da divisão do poder. Lélia González, tomando esse quadro de referência, dirá que os negros estavam delimitados (segregados?) especialmente, dir-se-á, constitutivamente, à existência de uma massa marginal no Brasil.
Contrariando sua referência imediata, o sociólogo argentino José Nun,[iii] afirmará que essa condição, por mais disruptiva que pudesse superficialmente parecer, não gerava disfuncionalidade alguma; aliás, pelo contrário: tratava-se de condição de estabilidade da sociedade.[iv] O negro está integrado justamente para ser marginal. Ou para continuar a sê-lo.
A aludida mistificação da integração é recuperada de uma fonte de 1964, do curto ensaio de crítica teórica Social integration and system integration, do sociólogo britânico David Lockwood.[v] Este dirigia-se contra a tendência da sociologia funcionalista estadunidense, então bastante internacionalizada e influente no Brasil, marcante pela investigação das possibilidades culturais orgânicas e nativas de mudança social. Ou seja, das chances de transição e reforma nos quais conflitos eram minimizados enquanto a própria estabilidade gerada daí tornava-se um potencial fator de dinamismo.[vi]
Para David Lockwood, esta teorização focava na mudança como expressão de modalidades de integração social novas abertas a indivíduos, que ao mesmo tempo preservavam a integração sistêmica da sociedade, isto é, seu modo particular de interdependência e articulação condicional entre suas partes. Segundo o sociólogo, o contrário do que para ele significaria verdadeira mudança, a efetiva transformação de um princípio central na vida institucional alicerce de uma sociedade.
Conformemente, Lélia González considerava a sociedade brasileira caracteristicamente a combinação bem-sucedida de uma integração social realizada e reconhecida, articulada à uma lógica estruturante interna e sistêmica de contra-integração. Neste arranjo, à princípio contraintuitivo, a existência de uma massa marginal sobejamente negra revelava seus atributos de funcionalidade.
Seu relacionamento com e entre demais partes fragmentadas e apartadas, às quais estava subordinada, contribuía para estabilizar a particular dinâmica da realização capitalista de relações sociais de produção aqui adaptadas. O Estado brasileiro seria seu grande fiador, geralmente através da violência e da gestão de um tenso complexo de redes e vínculos. No Brasil, assim como na crítica de David Lockwood à normativa sociologia funcionalista dos EUA do pós-Segunda Guerra, todos olhariam apenas para a integração social.
Aqui, quintessencialmente expressa pela democracia racial, como suposta realidade ou como utopia, ao extraírem dela a força potencial de transformação e reforma das dimensões, digamos, estruturais da sociedade. Como no funcionalismo sociológico, a mudança viria também, na democracia racial, de uma moralidade individualizada politizada. Mas, não apenas. Como notara Lélia González, esse arranjo, antes de tudo, é uma forma mandatória de aliança.
É conhecida a obsessão do pensamento social brasileiro com o tema da miscigenação, e não apenas o conservador,[vii] como espécie de fato social total, parteiro do Brasil, aquilo o que tudo explica e ao qual tudo retorna. Porém, se isso é mesmo verdade, a miscigenação não fala apenas das condições ou não de integração social, mas também da sua contra-integração sistêmica, e daquilo no qual se sustenta, sua desigual aliança.
O sociólogo Antônio Sérgio Guimarães tocou neste tema em 2021, no seu Modernidades negras: a formação racial brasileira (1930-1970)[viii], quando reafirmava as qualidades da democracia racial. Para ele, um antirracismo de gênese não mistificadora. Sua origem em um ideal nacional mestiço dataria da convergência entre camadas mulatas urbanas e intelectualizadas e o pensamento ilustrado branco progressista e também o conservador.
A democracia racial não seria nem invenção negra, nem ideologia de dominação. Seria uma formulação produto da parceria entre radicais negros e progressistas brancos, tensa, sim, mas na qual se observaria a marca de um humanismo que transportava para a ampla sociedade o sentido de politização da socialidade das relações raciais brasileiras que essa fraternidade negro-branca produzira. Abrir mão dela seria livrar-se não apenas da água do banho, mas do próprio bebê.
Florestan Fernandes, em um balanço da conjuntura em 1977,[ix] defendeu algo curioso, porém, não surpreendente sobre a forma dessa aliança. Ele disse que a revolução democrática brasileira dependeria de uma negritude modernizada e modernizante, disposta a coordenar suas aspirações às de elites democratizantes. O vínculo predominante, entre radicais negros e progressistas brancos de classe média, seria, para ele, politicamente inoperante.
Para Lélia González, defender a democracia racial é o que significava, verdadeiramente, fazer o jogo da direita.[x] Enquanto a crítica dirigida à democracia racial era encarada em várias frentes como divisiva – porque atentaria contra a unidade de classe, nas esquerdas, ou contra um sentido unificado de nacionalidade e demografia, tanto nas esquerdas quanto entre conservadores –, viria dessa negação e combate, para Lélia González, a radicalização da classe porque retirava desses arranjos interraciais o privilégio de determinar as condições de negociação, competição e, pudera, de conciliação nacionalmente típicas.
Disso se sairia de uma dupla condição. Aquela na qual se afirma a insuficiência e alienação de classe negras – como massa marginal, seriam sempre trabalhadores não proletarizados, e, por isso, não relevantes – e aquela na qual se nega o efeito de subordinação que a democracia racial exige na aliança dos negros.
Como deixado implícito no argumento de Florestan Fernandes, o radicalismo negro é circunscrito pelo progressismo branco. Uma aliança que não gera movimento, porém, ela gera filiação, uma posição de integração real, muito embora subordinada. Assim como com relação ao conservadorismo brasileiro, um efeito similar se observa, quando este minimiza a centralidade “amefricana” do Brasil – isto é, a capacidade potencial de sua negritude em impor e não precisar conciliar suas liberdade e libertação. Os liberais nisso saem na frente, suporíamos a partir de Florestan Fernandes: a projetada aliança entre uma negritude modernizante e um liberalismo democrático partiriam de uma efetiva convergência.
Buscar novos posicionamentos de conflito aberto e produtivo e, por que não, ruptura com as tradições de ação do pensamento social brasileiro, coloca-se como uma condição de liberdade e alianças antirracistas de esquerda. Enfim, Poder Negro.[xi]
*Wanderson Chaves, historiador e cientista social, é pós-doutorando Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Autor, entre outros livros, de A questão negra: a Fundação Ford e a Guerra Fria (1950-1970) (Appris).
Notas
[i] Alex Ratts, antropólogo e geógrafo professor da Universidade Federal de Goiás, forneceu às organizadoras da coletânea Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções, diálogos, Zahar: Rio de Janeiro, 2020, a transcrição deste texto até então inédito, antes conhecido por fragmentos deste em publicações curtas e registos de intervenções públicas.
[ii] Leia-se nestes termos, nesta mesma coletânea acima citada, “O Movimento Negro Unificado: um novo estágio na mobilização política negra”.
[iii] José Nun. Superpopulação relativa, exército industrial de reserva e massa marginal. In: Luiz Pereira (org.). Populações “marginais”. São Paulo: Duas Cidades, 1978. Texto originalmente publicado em 1969.
[iv] Para uma breve recuperação desse debate no interior do seu ambiente de formulação, a confrontação entre José Nun, Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes no braço da CEPAL responsável pelo “Projeto Marginalidade”, ver: Wanderson Chaves. A questão negra: a Fundação Ford e a Guerra Fria (1950-1970). Curitiba: Appris, 2019, p. 255-263.
[v] David Lockwood. Social Integration and System Integration. In: George K. Zollschan and Walter Hirsch (eds.). Social Change: Explorations, Diagnoses, and Conjectures. New York: John Wiley and Sons, 1964.
[vi] Naturalmente, muitos reconhecerão neste mesmo percurso crítico o trabalho de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Vide: O moderno e suas diferenças. Tese de Livre Docência. São Paulo, FFLCH/USP, 1970.
[vii] Como exemplos polares, vejam-se Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre e O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado, de Abdias Nascimento.
[viii] Publicado pela Editora 34, de São Paulo.
[ix] Florestan Fernandes. O negro na era atual: 25 anos depois. In: Circuito fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”. São Paulo: Editora Globo, 2010.
[x] Lélia González em 1986, em fala pública em um evento que contara com a composição de mesa de Carlos Hasenbalg, Eunice Paiva e Marcos Terena. Veja-se “A cidadania e a questão étnica”, em Por um feminismo afro-latino-americano.
[xi] A redução do inconformismo e ação negros à representatividade e ao empoderamento partem de uma tradição de combate às estratégias de oposição aos segmentos de esquerda do Poder Negro nos EUA, que se internacionalizam. No centro dessa posição original, digamos, antissubverssiva, estava a reimposição do aludido primado da integração. Cf.: Wanderson Chaves. A etnia dos liberais: derrocada do Poder Negro e a construção do novo pluralismo racial. Cosmos e Contexto, 26 de março de 2024. In: https://cosmosecontexto.org.br/a-etnia-dos-liberais-derrocada-do-poder-negro-e-a-construcao-do-novo-pluralismo-racial/#_ftnref48
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA