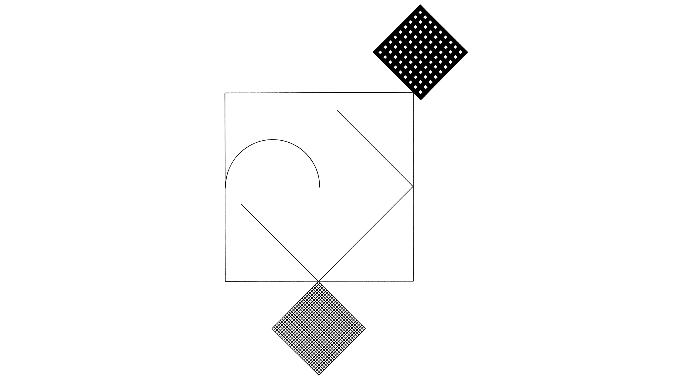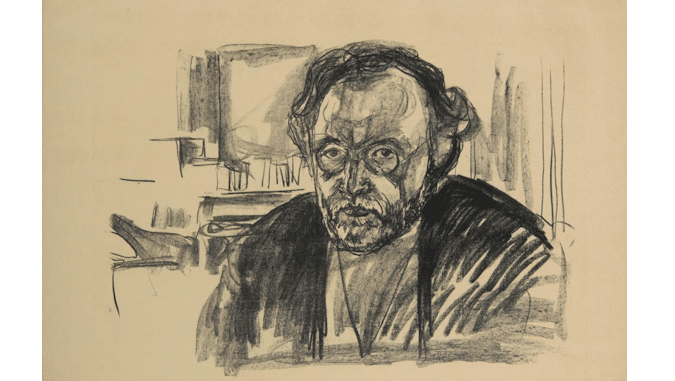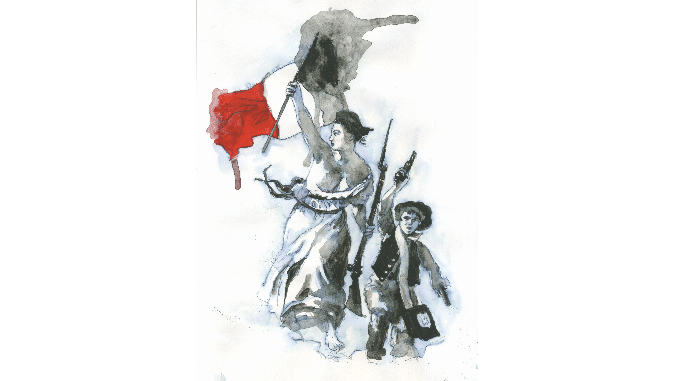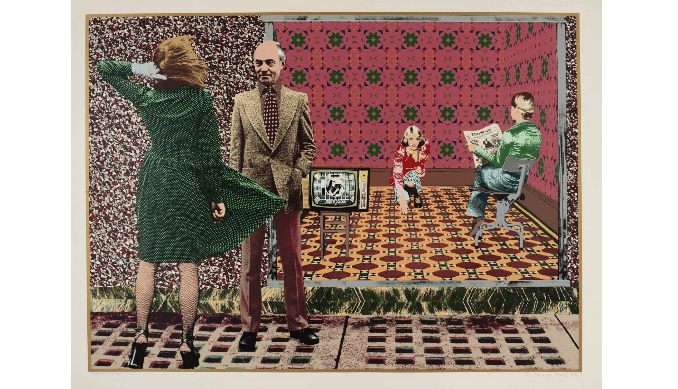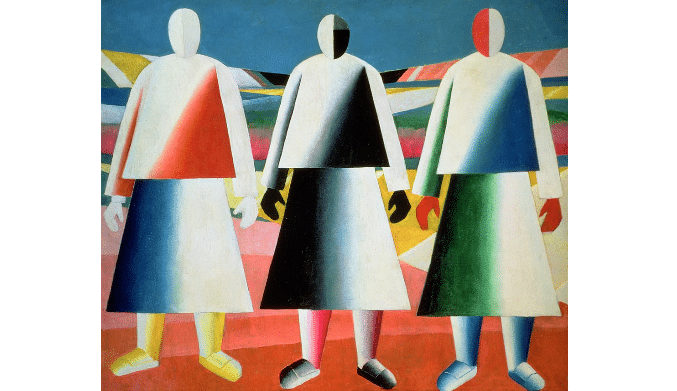Por ARLINDO MACHADO*
Comentário sobre as diversas formas do cinema de tipo ensaístico.
Há muito tempo venho perseguindo a idéia de um cinema de tipo ensaístico, que antigamente, utilizando uma expressão de Eisenstein, eu chamava de cinema conceitual e hoje tendo a chamar de filme-ensaio. Escrevi pela primeira vez sobre esse tema, mas ainda de uma forma insipiente, na antiga revista Cine Olho, depois no livro Eisenstein (Brasiliense, 1983), mais tarde, já refinando melhor a idéia, num texto sobre a linguagem do vídeo (1997: 188-200) e finalmente num livro sobre a eloqüência das imagens (2001), afora referências passageiras ao assunto aqui e acolá.
Curiosamente, nos últimos anos tem havido um interesse crescente em pensar o cinema ou o audiovisual em geral sobre esse prisma. Jacques Aumont, por exemplo, escreveu um livro notável a esse respeito, chamado À quoi pensent les filmes (1996), onde defende a idéia de que o cinema é uma forma de pensamento: ele nos fala a respeito de idéias, emoções e afetos através de um discurso de imagens e sons tão denso quanto o discurso das palavras. Gilles Deleuze, no seu livro póstumo L’ île déserte et autres textes (2002), afirma que alguns cineastas, sobretudo Godard, introduziram o pensamento no cinema, ou seja, eles fizeram o cinema pensar com a mesma eloqüência com que, em outros tempos, os filósofos o fizeram utilizando a escrita verbal.
Em língua inglesa, há agora um bom número de antologias que tentam refletir sobre aquilo que às vezes, por falta de um termo mais adequado, se continua ainda a chamar de documentário, mas que já é agora uma forma de pensamento audiovisual. Eu poderia citar, por exemplo, Experimental Ethnography, antologia organizada por Catherine Russell (1999), e Visualizing Theory, organizada por Lucien Taylor (1994), em que os articulistas, dando conseqüência à idéia de uma antropologia visual, formulada desde 1942 por Margaret Mead (Mead & MacGregor, 1951; Mead & Metraux, 1953), investigam o potencial analítico dos meios audiovisuais, ou seja, as estratégias de análise não-lingüística que permitem ao cinema e meios conexos superar a literariedade e a escopofobia da antropologia clássica e, por extensão, de todo pensamento acadêmico. A Visual Anthropology Review, publicada nos EUA desde 1990, é também uma manifestação dessa nova maneira praticar a antropologia através de ensaios visuais ou audiovisuais.
Examinemos então o filme-ensaio e comecemos pela explicação do conceito. Pensemos primeiro no ensaio. Denominamos ensaio certa modalidade de discurso científico ou filosófico, geralmente apresentado em forma escrita, que carrega atributos amiúde considerados “literários”, como a subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que fala), a eloqüência da linguagem (preocupação com a expressividade do texto) e a liberdade do pensamento (concepção de escritura como criação, em vez de simples comunicação de idéias). O ensaio distingue-se, portanto, do mero relato científico ou da comunicação acadêmica, onde a linguagem é utilizada no seu aspecto apenas instrumental, e também do tratado, que visa uma sistematização integral de um campo de conhecimento e certa “axiomatização” da linguagem.
Uma das abordagens mais eloqüentes do ensaio está em um texto de Adorno (1984: 5-29), chamado justamente “O Ensaio como Forma” e compilado no primeiro volume de suas Notas de Literatura. Nesse texto, Adorno discute a “exclusão” do ensaio no pensamento ocidental de raízes grego-romanas. Porque busca a verdade e, em decorrência disso, invoca certa racionalização da demarche, o ensaio é excluído do campo da literatura, onde se supõe suspensa toda descrença. Por outro lado, porque insiste em expor o sujeito que fala, com sua mirada intencional e suas formalizações estéticas, o ensaio é também excluído de todos aqueles campos de conhecimento (filosofia, ciência) que se supõe objetivos. Em outras palavras, o atributo “literário” desqualifica o ensaio como fonte de saber, a irrupção da subjetividade compromete a sua objetividade e, por conseqüência, aquele “rigor” que se supõe marcar todo processo de conhecimento e, por outro lado, o compromisso com busca da verdade torna o ensaio também incompatível com o que se supõe ser a gratuidade da literatura ou o irracionalismo da arte. Situando-se, portanto, numa zona ao mesmo tempo de verdade e de autonomia formal, o ensaio não tem lugar dentro de uma cultura baseada na dicotomia das esferas do saber e da experiência sensível e que, desde Platão, convencionou separar poesia e filosofia, arte e ciência.
Não se trata então de dizer, se quisermos seguir o raciocínio de Adorno, que o ensaio se situa na fronteira entre literatura e ciência, porque, se pensarmos assim, estaremos ainda endossando a existência de uma dualidade entre as experiências sensível e cognitiva. O ensaio é a própria negação dessa dicotomia, porque nele as paixões invocam o saber, as emoções arquitetam o pensamento e o estilo burila o conceito. “Pois o ensaio é a forma por excelência do pensamento no que este tem de indeterminado, de processo em marcha em direção a um objetivo que muitos ensaístas chamam de verdade” (Mattoni, 2001: 11).
Toda reflexão sobre o ensaio, entretanto, sempre pensou essa “forma” como essencialmente “verbal”, isto é, baseada no manejo da linguagem escrita, mesmo que a relação do ensaio com a literatura seja, como vimos, problemática. O objetivo deste artigo é discutir a possibilidade de ensaios não escritos, ensaios em forma de enunciados audiovisuais. Embora teoricamente seja possível imaginar ensaios em qualquer modalidade de linguagem artística (pintura, música, dança, por exemplo), uma vez que sempre podemos encarar a experiência artística como forma de conhecimento vamos por comodidade nos restringir aqui apenas ao exame do ensaio cinematográfico. Uma vez que o cinema mantém com o texto literário certas afinidades relativas à discursividade e à estrutura temporal, além de contar também com a possibilidade de incluir o texto verbal na forma de locução oral, o desafio de pensar um ensaio em forma audiovisual fica facilitado, ou pelo menos mais operativo do que se invocássemos outras formas artísticas. Parece portanto perfeitamente justificável começar pelo cinema e seus congêneres uma abordagem do ensaio em forma não escrita, ainda mais se considerarmos que essa discussão poderá depois ampliar-se com a consideração de outras formas artísticas.
O documentário e o ensaio
Dentre os gêneros cinematográficos, o documentário poderia ser considerado a forma audiovisual que mais se aproxima do ensaio, mas essa é uma maneira enganosa de ver as coisas. O termo documentário abrange um leque bastante amplo de trabalhos da mais variada espécie, da mais variada temática, com estilos, formatos e bitolas de todo tipo. Mas, apesar de toda essa variedade, o documentário se baseia num pressuposto essencial, que é a sua marca distintiva, a sua ideologia, o seu axioma: a crença no poder da câmera e da película de registrar alguma emanação do real, sob a forma de traços, marcas ou qualquer sorte de registro de informações luminosas supostamente tomadas da própria realidade. Essa crença num princípio “indicial” que constituiria toda imagem de natureza fotográfica (incluindo aí as imagens cinematográficas e videográficas) é o traço caracterizador do documentário, aquilo que o distingue dos outros formatos ou gêneros audiovisuais, como por exemplo a narrativa de ficção ou o desenho animado.
Pode-se fazer qualquer coisa com um documentário – uma abordagem das manifestações populares na Argentina, uma reportagem sobre o dia-a-dia dos palestinos sob o fogo israelense, uma viagem turística aos Alpes no inverno, uma visão através do microscópio sobre o modo como se subdividem as células no interior de um organismo vivo – mas o que reúne todos esses exemplos na categoria do documentário é a crença quase mística no poder do aparato técnico (câmera, principalmente) de captar por si só imagens ou “índices” dessas realidades. Um desenho animado jamais poderia ser um documentário porque não tem esse traço, embora, a rigor, não há nada que impeça um desenho animado de abordar, inclusive até com maior profundidade, as manifestações populares na Argentina, o dia-a-dia dos palestinos sob o fogo israelense, uma viagem turística aos Alpes no inverno, ou o modo como se subdividem as células no interior de um organismo vivo. A diferença, com relação ao desenho, é que no documentário o próprio “real” gera (ou supõe-se que gera) a sua imagem e a oferece para a câmera, graças principalmente às propriedades óptico-químicas do aparato técnico e sem a contaminação de uma subjetividade também supostamente parcial ou deformante.
Associada a essa crença no poder da tecnologia para fisgar alguma coisa que pode ser chamada de “real” está subentendida também uma estranha forma de ontologia, que pressupõe o mundo concreto e material como já constituído em forma de discurso, um discurso “natural”, que “fala” por si e com seus próprios meios, ao qual é preciso apenas prestar atenção e respeitá-lo, mas sem afetá-lo ou impor sobre ele qualquer outro discurso. Toda essa crença, profundamente arraigada entre nós, vem das origens ideológicas da imagem especular ocidental, que surge no Renascimento e chega ao seu paroxismo nas idéias de André Bazin, na década de 1950, sobre o poder da câmera de captar emanações do real (ver, por exemplo, Bazin, 1981: 9-17; 63-80). No caso de Bazin isso até se justifica, pois se trata nesse autor de uma forma assumida de panteísmo. Sendo católico, Bazin supunha já estar presente no mundo um super-discurso, antes mesmo que pudéssemos falar qualquer coisa sobre ele, uma vez que esse mundo não é outra coisa que a fala de um super-enunciador, chamado Deus. Impossível acreditar na existência de um discurso natural no mundo, que caberia ao cineasta apenas captar, sem necessidade de nenhum esforço humano de inteligência ou de interpretação, se não pela via desse panteísmo naif.
Ora isso tudo é de uma ingenuidade gritante e chega a ser surpreendente que esse modo de ver as coisas subsista e resista depois de quase 200 anos de história da fotografia, depois de mais de 100 anos de história do cinema e em plena era da manipulação digital das imagens. O documentarista, no sentido tradicional e purista do termo, é uma criatura que ainda acredita em cegonha. Houve-se muito falar nos meios documentaristas, por sorte cada vez menos entre as novas gerações, que o essencial do documentário é não interpretar as coisas, não intervir no que a câmera capta, não acrescentar às imagens um discurso explicativo, deixar que a “realidade” se revele da forma mais despojada possível. Ora, isso é absolutamente impossível. Se o cineasta se recusa a falar num filme, ou seja, intervir, interpretar, reconstituir, quem vai falar em seu lugar não é o “mundo”, mas a Arriflex, a Sony, a Kodak, ou seja, o aparato técnico. Sabemos muito bem que o dispositivo foto-cine-videográfico não é nem de longe inocente. Ele foi construído sob condições histórico-econômico-culturais bem determinadas, para finalidades ou utilizações muito particulares, é fruto de determinadas visões de mundo e materializa essas visões no modo como reconstitui o mundo visível. O que é captado pela câmera não é o mundo, mas uma determinada construção do mundo, justamente aquela que a câmera e outros aparatos tecnológicos estão programados para operar.
A câmera exige, por exemplo, que se escolha fragmentos do campo visível (recorte do espaço pelo quadro da câmera e pela profundidade de campo, recorte do tempo pela duração do plano) e portanto que já se atribua significados a certos aspectos do visível e não a outros. Deve-se também eleger um ponto de vista, que por sua vez organiza o real sob uma perspectiva deliberada. A bibliografia pertinente ao assunto faz referência a um grande número de estudos de casos onde a manipulação dos recortes de tempo e espaço e a seleção do ângulo de visão reconstituem a cena de forma radical, a ponto inclusive de transfigurá-la completamente. Cada tipo de lente, por sua vez, reconstitui um campo visual de uma determinada maneira. Poder-se-ia falar de uma produtividade da visão em grande-angular e outra da visão em teleobjetiva. A imagem tridimensional é achatada em duas dimensões através da inserção do código da perspectiva renascentista, com toda a sua carga simbólica e ideológica. A marca do negativo, a sua granulação, a sua sensibilidade à luz, a sua latitude também influem no resultado final.
Isso tudo com relação apenas à imagem, mas há ainda as determinações do campo acústico (vozes, ruídos, música, narração), bem como os efeitos da sincronização imagem-som. Recordemo-nos de uma instrutiva seqüência de imagens da cidade siberiana de Irkutsk, no filme Lettre de Sibérie (1957) de Chris Marker, que é repetida três vezes no filme, cada vez com uma trilha sonora distinta, de modo a mudar completamente o sentido das imagens. Além disso, há todo um processo de reconstrução do chamado mundo real que se passa do lado de lá, do lado do objeto, daquilo que se dispõe em função da presença da câmera. Sempre que alguém se sente olhado por uma objetiva, seu comportamento se transfigura e imediatamente ele se põe a representar. A câmera tem um poder transfigurador do mundo visível que chega a ser devastador nas suas conseqüências. Há cerca de vinte anos atrás publiquei A Ilusão Especular (1984), onde falava das formas de conversão do real em discurso pela câmera, tenha o fotógrafo ou cineasta consciência disso ou não. De lá para cá, tenho voltado insistentemente ao tema, através de inúmeros estudos sobre o modo como a imagem e o som codificam o visível, constroem uma visão de mundo, às vezes até mesmo a despeito da vontade do realizador. Então como se poderia falar ingenuamente de documentário?
Se o documentário tem algo a dizer que não seja a simples celebração de valores, ideologias e sistemas de representação cristalizados pela história ao longo de séculos, esse algo a mais que ele tem é justamente o que ultrapassa os seus limites enquanto mero documentário. O documentário começa ganhar interesse quando ele se mostra capaz de construir uma visão ampla, densa e complexa de um objeto de reflexão, quando ele se transforma em ensaio, em reflexão sobre o mundo, em experiência e sistema de pensamento, assumindo portanto aquilo que todo audiovisual é na sua essência: um discurso sensível sobre o mundo. Eu acredito que os melhores documentários, aqueles que têm algum tipo de contribuição a dar para o conhecimento e a experiência do mundo, já não são mais documentários no sentido clássico do termo; eles são, na verdade, filmes-ensaios (ou vídeosensaios, ou ensaios em forma de programa de televisão ou hipermídia).
Os pioneiros russos
Para avançar, poderíamos nos referir aqui a uma importante discussão ocorrida no interior do pensamento marxista, mais exatamente na Rússia soviética dos anos 20, quando alguns cineastas engajados na construção do socialismo vislumbraram no cinema mudo a possibilidade de promover um salto para outra modalidade discursiva, fundada já não mais na palavra, mas numa sintaxe de imagens, nesse processo de associações mentais que recebe, nos meios audiovisuais, o nome de montagem ou edição.
O mais eloqüente desses cineastas, Serguei Eisenstein, formulou, no final dos anos 20, a sua teoria do cinema conceitual, cujos princípios ele foi buscar no modelo de escrita das línguas orientais. Segundo o cineasta, os chineses construíram uma escritura “de imagens”, utilizando o mesmo processo empregado por todos os povos antigos para construir seu pensamento, ou seja, através do uso das metáforas (imagens materiais articuladas de forma a sugerir relações imateriais) e das metonímias (transferências de sentido entre imagens). O conceito de “dor”, por exemplo, é obtido, na escrita kanji oriental, através da montagem (na verdade, superposição) dos ideogramas de “faca” e “coração”. Em outras palavras, para os orientais, o sentimento de dor é expresso pela imagem (pictograma) de uma faca atravessando o coração. Nada diferente, aliás, do uso de expressões como “ter o coração dilacerado”, em português, ou “to break the heart”, em inglês, para exprimir sentimentos de tristeza ou sofrimento.
Na verdade, as línguas ocidentais também utilizam largamente figuras de linguagem como a metáfora, a metonímia e seus derivados. Se suprimíssemos os tropos dessas línguas, elas se reduziriam a um balbucio elementar, destituído de qualquer inteligência ou sensibilidade. Basta pensar na diferença de força que existe entre uma expressão denotativa direta como “está trovejando” e uma metáfora de cunho conotativo como “o céu está com pigarro” (Guimarães Rosa). A maioria das expressões idiomáticas (como, em português, “chover canivete” ou “duro pra cachorro”) são tropos que se generalizaram e passaram a constituir o léxico de uma língua. O próprio discurso científico, considerado exato e objetivo, está repleto de metáforas e metonímias. Em anatomia e fisiologia, por exemplo, as expressões “tecido”, “célula estrelada”, “caixa torácica” e “bacia abdominal” são metáforas. Também são metáforas alguns conceitos da astrofísica como “nebulosa”, “estrela anã”, “quarta dimensão”, “buraco negro”, “Big Bang”, “morte térmica”, “ovo cósmico”, “sopa primordial” etc. Mamífero, em zoologia, é uma sinédoque (tipo de metonímia), em que uma única das muitas características de uma espécie (o fato do animal mamar quando pequeno) é tomada para designar a espécie como um todo, ou seja, toma-se a parte pelo todo. Portanto, mesmo o discurso científico é impensável sem as figuras de linguagem.
Infelizmente, o cinema – o cinema sonoro principalmente, constituído a partir dos anos 1930 – tem feito de tudo para eliminar de seus recursos retóricos a eloqüência expressiva das metáforas e metonímias, em razão principalmente da ditadura do realismo que nele se instaurou e para a qual toda interferência na “naturalidade” do registro é desvio “literário”. A esse respeito, são bastante conhecidos os esforços de André Bazin para desautorizar o cinema “metafórico” do período dito mudo, sobretudo o cinema russo do período soviético (ver, por exemplo, Bazin, 1981: 49-61). É como se Bazin postulasse que no cinema não se pode jamais dizer (ou representar em imagens e sons) “o céu está com pigarro”, mas apenas “está trovejando”. Tampouco se pode, num filme científico, dizer “sopa primordial”, mas apenas “solução de aminoácidos”. Azar do cinema! Isso apenas o empobrece. Em todo caso, podemos hoje avaliar os prejuízos que preconceitos desse tipo impuseram ao desenvolvimento da linguagem do audiovisual.
Pois é aí que se dá a virada de Serguei Eisenstein. A montagem conceitual por ele concebida é uma forma de enunciado audiovisual que, partindo do “primitivo” pensamento por imagens, consegue articular conceitos com base no puro jogo poético das metáforas e das metonímias. Nela, juntam-se duas ou mais imagens para sugerir uma nova relação não presente nos elementos isolados. Assim, através de processos de associação, chega-se ao conceito abstrato e “invisível”, sem perder todavia o caráter sensível dos seus elementos constitutivos. Inspirado nos ideogramas, Eisenstein acreditava na possibilidade de se elaborar, também no cinema, idéias complexas por intermédio apenas de imagens e sons, sem passar necessariamente pela narração, e chegou mesmo a realizar algumas experiências nesse sentido, em filmes como Oktiabr (Outubro/ 1928) e Staroie i Novoie (O Velho e o Novo/1929). O cineasta deixou ainda um caderno de anotações para um projeto (malogrado) de levar O Capital de Karl Marx ao cinema (ver, a respeito das idéias de Eisenstein para Oktiabr, Staroie i Novoie e Das Kapital: Machado, 1983).
Mas, se Eisenstein formulou as bases desse cinema, quem de fato o realizou na Rússia revolucionária foi o seu colega Dziga Vertov. No dizer de Annette Michelson (1984: XXII), Eisenstein nunca pôde assumir até as últimas conseqüências o seu projeto de cinema conceitual, pois somente lhe permitiram realizar filmes narrativos de feição dramática. Vertov, entretanto, nunca teve esse tipo de limitação e, por essa razão, conseguiu assumir com maior radicalidade a proposta de um cinema inteiramente fundado em associações “intelectuais” e sem necessidade do apoio de uma fábula. Essas associações já aparecem em vários momentos do Kino-Glaz: Jizn Vrasplokh (Cine-Olho: A Vida ao Improviso/ 1924) de Vertov, sobretudo na magnífica seqüência da mulher que vai fazer compras na cooperativa. Nessa seqüência, Vertov utiliza o movimento retroativo da câmera e a montagem invertida para alterar o processo de produção econômica (a carne, que estava exposta no mercado, volta novamente ao matadouro e depois para o corpo do boi abatido, fazendo-o “ressuscitar”), repetindo, dessa forma, o método de inversão analítica do processo real, utilizado por Karl Marx em O Capital (o livro começa com a análise da mercadoria e dela retorna ao modo de produção, pois de acordo com a metodologia marxista, a inversão é uma forma de desvelamento). Mas é em Tchelovek s Kinoapparatom (O Homem da Câmera/1929) que o processo de associações intelectuais alcança o seu mais alto grau de elaboração, dando como resultado um dos filmes mais densos de todo o cinema, que revolve, ao mesmo tempo, “o ciclo de um dia de trabalho, o ciclo da vida e da morte, a reflexão sobre a nova sociedade, sobre a situação cambiante da mulher nela, sobre a sobrevivência de valores burgueses e de pobreza sob o socialismo e assim por diante” (Burch, 1979: 94).
Tchelovek s Kinoapparatom significa, ao pé da letra, “o homem com o aparato cinematográfico”. Aumont (1996: 49) propõe que pensemos esse filme como o lugar onde o cinema se funda como teoria, baseando-se numa afirmação do próprio Vertov (1972: 118): “O filme Tchelovek s Kinoapparatom é não apenas uma realização prática, mas também uma manifestação teórica na tela”. Denso, amplo, polissêmico, o filme de Vertov subverte tanto a visão novelística do cinema como ficcionalização, como a visão ingênua do cinema como registro documental. O cinema torna-se, a partir dele, uma nova forma de “escritura”, isto é, de interpretação do mundo e de ampla difusão dessa “leitura”, a partir de um aparato tecnológico e retórico reapropriado numa perspectiva radicalmente diferente daquela que o originou.
Digno de atenção é o fato de que Vertov jamais filmava ou acompanhava as filmagens. Em geral, ele usava materiais de arquivo – como em Tri Pesni o Lenine (Três Cantos para Lênin/1934) – ou orientava, por telefone ou carta, o trabalho de cinegrafistas distribuídos em partes diferentes da Rússia – como em Chestaia Tchast Mira (A Sexta Parte do Mundo/1926). Ele era basicamente um homem de montagem, um construtor de sintagmas audiovisuais. O material filmado para ele era apenas matéria prima bruta que só se transformava em discurso cinematográfico depois de um processo de visualização, interpretação e montagem. A maioria das imagens de Tchelovek s Kinoapparatom é, na verdade, criação do fotógrafo Mikhail Kaufman. Vertov operou nesse filme nos níveis da concepção, da roteirização e, depois, da montagem. Embora não fosse ele diretamente o montador (a montagem foi realizada por Elizaveta Svilova, que aparece nos créditos como “assistente de montagem”), ele dirigia o processo de montagem mais ou menos como o filósofo da Idade Média ditava o seu texto para o escriba. Nesse sentido, pode-se dizer que a mesa de montagem era para ele o equivalente moderno da antiga mesa de trabalho do escritor ou filósofo, onde o pensamento se constituía, a partir da lenta elaboração das anotações.
O ensaio no cinema
Pensemos o filme-ensaio hoje. Ele pode ser construído com qualquer tipo de imagemfonte: imagens captadas por câmeras, desenhadas ou geradas em computador, além de textos obtidos em geradores de caracteres, gráficos e também materiais sonoros de toda espécie. É por isso que o filme-ensaio ultrapassa longinquamente os limites do documentário. Ele pode inclusive utilizar cenas ficcionais, tomadas em estúdio com atores, porque a sua verdade não depende de nenhum “registro” imaculado do real, mas de um processo de busca e indagação conceitual.
É com Jean-Luc Godard que o cinema-ensaio chega a sua expressão máxima. Para esse notável cineasta franco-suíço, pouco importa se a imagem com que ele trabalha é captada diretamente do mundo visível “natural” ou é simulada com atores e cenários artificiais, se ela foi produzida pelo próprio cineasta ou foi simplesmente apropriada por ele, depois de haver sido criada em outros contextos e para outras finalidades, se ela é apresentada tal e qual a câmera a captou com seus recursos técnicos ou foi imensamente processada no momento posterior à captação através de recursos eletrônicos. A única coisa que realmente importa é o que o cineasta faz com esses materiais, como constrói com eles uma reflexão densa sobre o mundo, como transforma todos esses materiais brutos e inertes em experiência de vida e pensamento.
Como classificar, por exemplo, um filme fundante como Deux ou Trois Choses que Je Sais d’Elle (Duas ou Três Coisas que Sei Dela/1967)? Não é uma ficção, pois não há enredo, nem forma dramática, nem personagens que sustentem um plot narrativo, fixando-se a maior parte do tempo sobre as imagens da cidade de Paris, com seus edifícios em construção, seus conjuntos habitacionais e seus habitantes despersonalizados. Também não é um documentário sobre Paris, porque há cenas com atores e textos decorados, há mise en scène, cenas tomadas em estúdio e um grande número de imagens gráficas arrancadas de revistas ou de embalagens de produtos de consumo. Trata-se aqui, assumidamente, de um filme-ensaio, onde o tema de reflexão é o mundo urbano sob a égide do consumo e do capitalismo, tomando como base a maneira como se dispõe e se organiza a cidade de Paris.
Como dizia o próprio Godard (1968: 396) a propósito de seu filme, “se eu refletir um pouco, uma obra desse gênero é quase como se eu tentasse escrever um ensaio antropológico em forma de romance e para fazê-lo não tivesse à minha disposição senão notas musicais”. O mais notável nesse filme é maneira como Godard passa do figurativo ao abstrato, ou do visível ao invisível, trabalhando apenas com o recorte operado pelo quadro da câmera. Em um café de Paris, um cidadão anônimo coloca açúcar no seu café e mexe com a colherinha. De repente, surge um primeiríssimo plano da xícara, o café se transforma numa galáxia infinita, com as bolhas explodindo e o líquido negro girando em espirais, como numa tela de Kline ou Pollock. Mais à frente, uma mulher, em seu leito, fuma um cigarro antes de dormir, mas um primeiríssimo plano transfigura completamente o fumo ardente do cigarro, transformando-o numa mandala iridescente.
Essas imagens “abstratas” (na verdade concretas, mas impossíveis de serem reconhecidas e interpretadas como tais) servem de fundo à voz da reflexão de Godard, enquanto ele se indaga sobre o que se passa com as cidades modernas e as suas criaturas enclausuradas. Mas não é a voz de um narrador convencional, como aquela que se ouve em alguns documentários tradicionais: é uma voz sussurada, em tom baixíssimo, como que falando para dentro, uma imagem sonora admirável da linguagem interior: o pensamento.
Alguns dos mais belos exemplos de montagem intelectual podem também ser encontrados em filmes como 2001: a Space Odissey (2001: uma Odisséia no Espaço/1968), de Stanley Kubrick, e no curta-metragem Powers of Ten (1977), de Charles e Ray Eames. O primeiro é um filme quase que inteiramente conceitual do começo ao fim, mas o momento privilegiado está naquele corte extraordinariamente preciso, que faz saltar de um osso jogado ao ar por um macaco pré-histórico para uma sofisticada espaçonave do futuro, sintetizando (de forma visivelmente crítica) algumas dezenas de milênios de evolução tecnológica do homem. Esse exemplo eloqüente mostra como uma idéia nasce a partir da pura materialidade dos caracteres brutos particulares: a interpenetração de duas representações singelas produz uma imagem generalizadora que ultrapassa as particularidades individuais de seus constituintes (Machado, 1983: 61-64; 1997: 195-196). Já o filme do casal Eames é uma síntese magistral, em apenas 9 minutos e meio de projeção, de todo o conhecimento acumulado no campo das ciências da natureza. A idéia inacreditavelmente simples consiste em fazer uma zoom-out a partir da imagem de um veranista deitado à beira do Lago Michigan até os limites (conhecidos) do universo e depois uma zoom-in a partir do mesmo personagem em direção ao interior do seu corpo, de suas células e moléculas, até o núcleo dos átomos que o constituem e os limites de conhecimento do mundo microscópico.
No Brasil, a aventura do filme-ensaio ainda está para ser contada. Faltam pesquisas nessa direção, mas não faltam exemplos para analisar sob essa perspectiva. No meu modo de ver, o caso mais emblemático até o momento é o filme de Jean-Claude Bernadet São Paulo: Sinfonia e Cacofonia (1995). Aqui, da mesma forma que em Deux ou trois choses que je sais d’elle, o tema é a cidade (São Paulo, em lugar de Paris) e o modelo de urbanismo implantado pelo capitalismo, mas diferentemente do filme de Godard, a cidade aqui é vista sob o prisma do próprio cinema. Em outras palavras, o tema do filme de Bernadet é o modo como o cinema paulista interpretou a sua própria cidade. Então, a fonte das imagens de São Paulo são os filmes que retrataram a cidade. Trata-se, portanto, de um filme que se insere na categoria da montagem de imagens de arquivo, mas o espírito do filme é inteiramente ensaístico. É como se Bernadet (crítico, teórico e historiador de cinema) decidisse fazer um ensaio sobre a maneira como a cidade de São Paulo foi interpretada pelos seus cineastas, mas em lugar de promover um ensaio escrito, preferisse utilizar como metalinguagem a mesma linguagem do seu objeto: o cinema.
Temos então aqui um ensaio sobre o cinema construído em forma de cinema, um ensaio verdadeiramente audiovisual, sem recurso a nenhum comentário verbal. O filme começa: vê-se personagens jogados na paisagem urbana, em meio a prédios e trânsito, correndo ou fugindo. Entre as figuras que correm, começam a definir-se, em primeiro lugar, os aleijados: personagens sem os pés, ou amparados por muletas. Expande-se o tema dos pés: surgem inúmeros planos de pés apressados, que transitam para todos os lados, pés decididos, direcionados para um objetivo, em geral ao trabalho. De repente, surgem os primeiros rostos, inicialmente quase diluídos no meio da massa indiferenciada. São rostos anônimos, desconhecidos, quase dissolvidos na multidão. São Paulo aparece, num primeiro momento, como uma massa gigantesca esmagada entre o trânsito e os edifícios. Então, começam a destacar-se os primeiros rostos diferenciados: são os personagens, as figuras individualizadas, portadoras de um drama: o Carlos de São Paulo S/A (Luís Sérgio Person, 1965), o Martinho de O Quarto (Rubem Biáfora, 1968), o Luz de O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1969), a Macabéa de A Hora da Estrela (Suzana Amaral, 1985) e assim por diante. Uma miríade de tramas se insinuam sem jamais se completar: personagens sobem escadas, batem às portas, encontram-se, cruzam-se nas ruas, insultam-se, atacam-se, desesperam-se. Para o cinema, São Paulo apresenta-se invariavelmente como uma cidade sombria, inóspita, castradora, destruidora. Não há idílio, não há beleza, só uma engrenagem pesada que esmaga a todos com a sua fria e implacável vocação para a produção capitalista. Os que não se encaixam são expelidos para fora e se marginalizam, retornando todavia sob a forma de neuróticos ou bandidos.
São Paulo: Sinfonia e Cacofonia é uma eloquente demonstração de que se pode construir um ensaio sobre o cinema, usando o próprio cinema como suporte e linguagem. No futuro, quando as câmeras substituírem as canetas, quando os computadores editarem filmes em vez de textos, essa será provavelmente a maneira como “escreveremos” e daremos forma ao nosso pensamento.
*Arlindo Machado (1949-2020) foi professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da USP. Autor, entre outros livros, de O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges (Marca D’Água).
Referências
Adorno, Theodor. (1984). Notes sur la littérature. Paris: Flammarion.
Aumont, Jacques (1996). À quoi pensent les filmes. Paris: Séguier.
Bazin, André (1981). Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Cerf.
Burch, Noël (1979). “Film’s Institutional Mode of Representation and the Soviet Response”. October, 11, winter issue.
Deleuze, Gilles (2002). L’ île déserte et autres textes. Paris: Minuit.
Godard, Jean-Luc (1968). Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Paris: Belfond.
Machado, Arlindo (1979a). “O Cinema Conceitual” (I). Cine Olho, São Paulo, 4, abril.
__________ (1979b). “O Cinema Conceitual” (II). Cine Olho, São Paulo, 5/6, jun-ago.
__________ (1983). Eisenstein – Geometria do Êxtase. São Paulo: Brasiliense.
__________ (1984). A Ilusão Especular. São Paulo: Brasiliense.
__________ (1997). Pré-cinemas & Pós-cinemas. Campinas: Papirus.
__________ (2001). O Quarto Iconoclasmo e Outros Ensaios Hereges. Rio de Janeiro: Marca d’Água.
Mattoni, Silvio (2001). El Ensayo. Córdoba: Epóke.
Mead, Margaret & Frances MacGregor (1951). Growth and Culture: A Photographic Study of Balinese Childhood. New York: Putman.
Mead, Margaret & Rhoda Metraux (eds.) (1953). The Study of a Culture at a Distance. Chicago: Univ. of Chicago Press.
Michelson, Annette (1984). Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov. Berkeley: Univ. of California Press.
Russell, Catherine (ed.) (1999). Experimental Ethnography. Durham: Duke Univ. Press.
Taylor, Lucien (ed.) (1994). Visualizing Theory. New York: Routledge.
Vertov, Dziga (1972). Articles, Journaux, Projets. Paris: UGE.