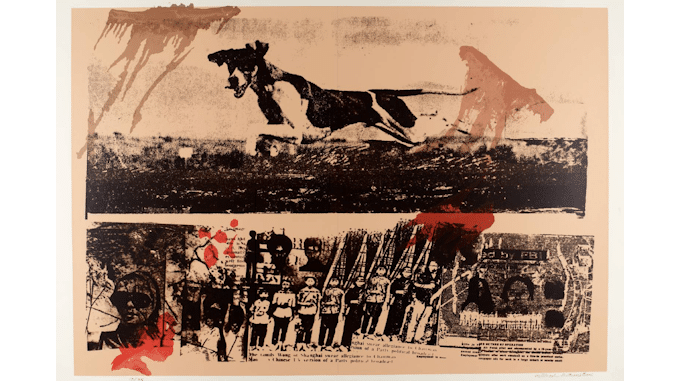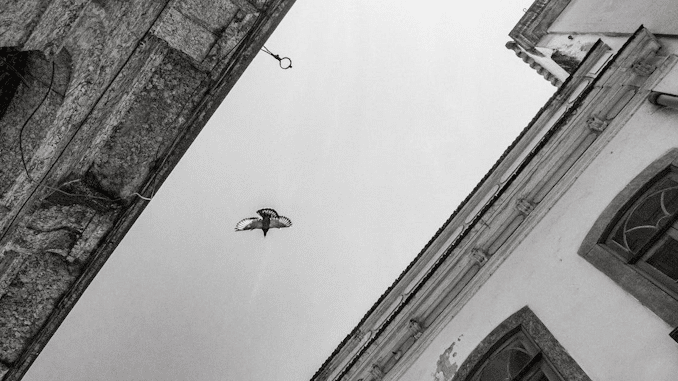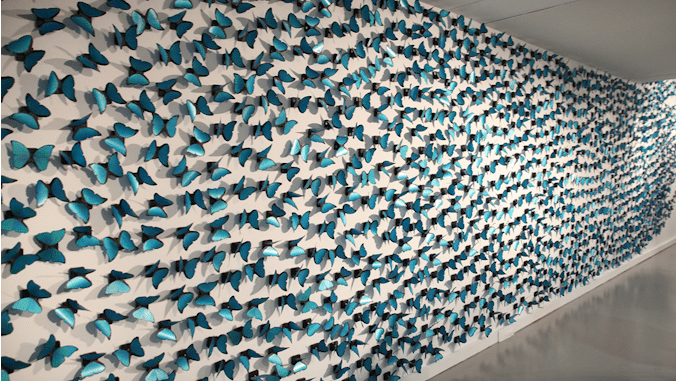Por DANIEL BRAZIL*
Comentário sobre o livro “Toada de um educador quase caipira”
Quando Jean-Paul Sartre lançou, em 1964, um relato autobiográfico sobre a primeira infância (As palavras, Nova Fronteira), causou certo estranhamento no meio acadêmico e intelectual. Obviamente já existiam autobiografias na praça, mas o filósofo parisiense se detinha no período dos quatro aos onze anos, e apontava o holofote para a importância capital do ato de aprender a ler e escrever.
A literatura como instrumento de conhecimento e transformação do mundo ali se define, entremeada com lembranças familiares e afetivas, sem esconder as horríveis. Afinal, tinha nove anos quando explodiu a Primeira Grande Guerra, e com menos de dois anos era órfão de pai.
Em 1960 Sartre e sua (mas não exclusiva) mulher, Simone de Beauvoir, visitaram o Brasil. Por dois meses circularam em várias cidades, deram palestras, participaram de festas, visitaram cafezais, fazendas de fumo e cacau, favelas, praias e colônias de pescadores, muitas vezes guiados por Jorge Amado e Zélia Gattai.
O tema das conversas era a guerra fria, a libertação da Argélia, a revolução cubana, o imperialismo norte-americano no continente. Ficou famosa uma conferência em Araraquara, publicada em livro (Sartre no Brasil – A conferência de Araraquara, Paz e Terra/ Unesp, 1986), que teve na plateia gente como Ruth Cardoso e seu marido Fernando Henrique, Antonio Candido, Gilda Mello e Souza, Dante Moreira Leite, Bento Prado Jr., e até um jovem araraquarense chamado José Celso Martinez Correa, apaixonado por teatro.
As palavras, traduzido no Brasil por Jacó Guinsburg, foi muito lido, mas nem sempre compreendido. A obsessão de Sartre pelo ato de escrever, seja como filósofo, ficcionista ou dramaturgo, coloca a escrita como instrumento de autoconhecimento, de perpetuação da memória e de transformação do mundo.
No mesmo ano de publicação do livro de Sartre, 1964, Antonio Candido lançava o ensaio sociológico Os parceiros do Rio Bonito, cujo subtítulo “estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida” é autoexplicativo. Uma de suas referências era a obra de Valdomiro Silveira (1873/1941), um dos primeiros autores a estudar a cultura caipira, anotando expressões, hábitos, superstições e costumes, e dando especial atenção à linguagem.
Essa mescla fecunda de investigação sociológica de campo com o posicionamento pessoal sartreano gerou vários frutos. O já clássico O paraíso via Embratel (Paz e Terra, 1985), de Luís Milanesi, enfocava as transformações culturais numa pequena cidade do interior paulista (Ibitinga) com a chegada da televisão. Embora escrito com certo distanciamento acadêmico, Milanesi está falando de sua cidade natal, de sua infância, de sua formação.
Em 2011, o eminente sociólogo José de Souza Martins retoma a lição sartreana lançando Uma arqueologia da memória social – autobiografia de um moleque de fábrica [reeditado em 2018 com o título Moleque de fábrica – Uma arqueologia da memória social, Ateliê editorial], primoroso estudo de época passado em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Nessa mesma trilha surge agora, em 2020, um saboroso livro publicado pelo professor sênior da Faculdade de Educação da USP, Claudemir Belintane.
Toada de um educador quase caipira (Polo Books, 2020) mergulha no universo interiorano tão bem descrito por Antonio Candido, Valdomiro Silveira e Milanesi, e vai mais fundo, de maneira existencial (apud Sartre). O menino pobre de Novo Horizonte (SP), órfão aos sete anos, vivendo entre “o lixo, o matadouro e o cemitério”, alinhava as memórias com foco na linguagem, nas expressões populares, nas quadrinhas e canções, nos trocadilhos de sacanagem, nos apelidos cruéis, nas complexas relações de parentesco e compadrio, de amizade e desconfianças.
Propondo uma escritura distante do jargão acadêmico, Claudemir entoa sua prosa como quem está contando causos à beira da fogueira ou no intervalo do eito. Sem maiores preocupações formais, deixa o fluxo livre da memória revelar, aos poucos, a nascente inquietude intelectual e o surgimento de uma consciência social (foi boia-fria quando nem essa expressão existia – ainda era “pilão” – vendedor de doces, engraxate, ajudante de padeiro e de pedreiro). A criação literária surge de entremeio, nas frestas da narrativa: “Lá pelas três, quatro horas, a gente olhava para o céu e indagava o aonde das nuvens”.
O moleque da roça cresceu, foi pra capital, estudou, voltou, fundou o PT na cidade, foi candidato simbólico a prefeito, retornou para a capital e se fez doutor em Educação. Estas etapas são expandidas em poucas páginas no final do volume, à guisa de explicação (aonde foi parar aquele garoto?), pois o interesse está na infância, no letramento, na transformação pela leitura. O menino é pai do homem, como dizia Machado de Assis.
Belintane explicita sua admiração por ficcionistas como Graciliano Ramos (Infância) e Viriato Correa (Cazuza), que traçaram retratos memoráveis da meninice rural. Seguidor aplicado da lição de Jean-Paul Sartre, e inspirado pela bússola de Mario de Andrade, que aponta “para dentro do Brasil, não para fora”, expõe-se de corpo e alma em relato memorialístico despretensioso, e acaba esboçando um romance de formação que poderia ser o de milhões de brasileiros. Infelizmente, é a história de uma exceção.
*Daniel Brazil é escritor, autor do romance Terno de Reis (Penalux), roteirista e diretor de TV, crítico musical e literário.