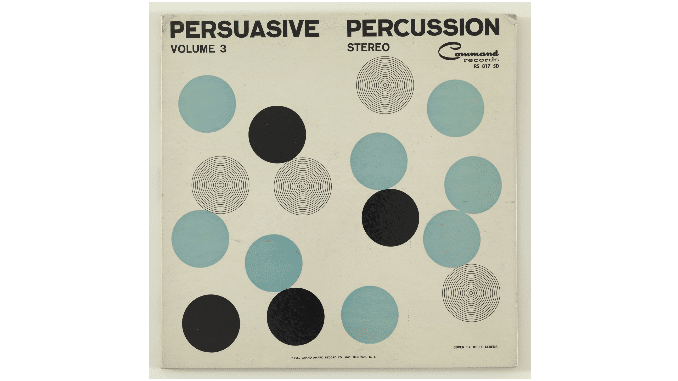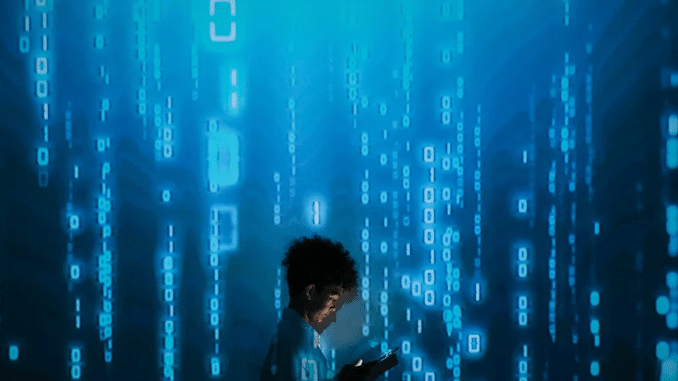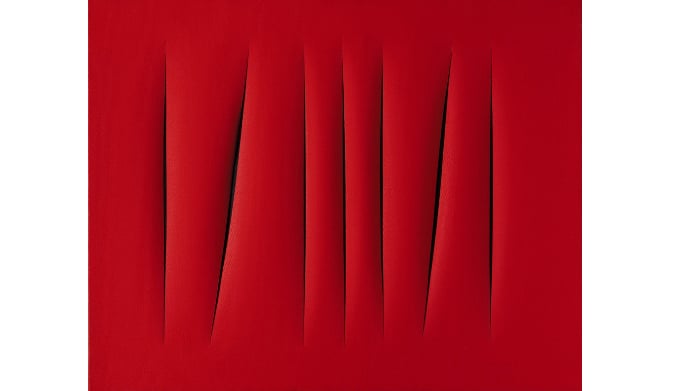Por ADRIÁN PABLO FANJUL*
Vítimas e verdade na COVID-19.
Há dois anos que comecei um estudo na minha área, a análise do discurso, sobre um material de arquivo da década de 1970: os primeiros textos levados a público por familiares de desaparecidos por razões políticas na Argentina e no Brasil, indagando como eram construídos, nesses escritos breves, diversos objetos e a formulação das demandas. Reúno e leio o que aquela palavra ansiosa tentava fazer ouvir com chances limitadíssimas, quando ainda estava longe de ser respeitada ou sequer conhecida, quando precisava lidar com a surdez de quase todos (na Argentina) ou o silêncio de muitos (no Brasil), e com o medo em ambos os países. O advento da pandemia me pegou em pleno desenvolvimento do trabalho, muito familiarizado com as modulações dessas vozes e com seus modos de desenhar, no texto, a lacuna incontornável que as levava a falar.
Sentia-me, assim, com uma parte dos meus dias de quarentena e de trabalho remoto para a Universidade dedicados a estudar arquivos do passado, como têm sido minhas pesquisas nas últimas duas décadas. Porém, no terceiro mês de confinamento, exatamente 8 de junho de 2020, li, na página web de um jornal de São José dos Campos–SP, uma matéria sobre o aumento explosivo de “mortes em casa” em relação ao ano anterior. Com dados dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a reportagem citava pesquisadores da UFRJ advertindo que a não qualificação desses óbitos podia dar lugar a uma subnotificação da real incidência da COVID 19. De golpe, meus “estudos do passado” pularam para o presente -não para a memória presente, e sim para esse acontecer ainda não trabalhado pela memória, trazido pela reportagem que eu lia. Percebi que havia algo ali do “direto humano à verdade”, como o define Juan E. Méndez (2007), jurista e ativista de Human Rights Watch e hoje relator da ONU sobre a tortura: a revelação à sociedade e às vítimas sobre ações ou omissões do Estado que permaneceram ocultas. Uma “fase de verdade” (Napolitano, 2015, p. 14) que por “elucidar a violência e apontar responsabilidades” é constituinte da construção da verdade histórica. Não era, no caso dessa reportagem sobre “mortes em casa”, um corpo que foi feito desaparecer para ocultar a violência perpetrada sobre ele, mas uma causa de morte que é apagada ou distorcida. Em ambos os casos, para encobrir responsabilidades.
Perguntei-me se surgiriam grupos de familiares que demandassem por essa verdade e por essa responsabilização. Imaginei que fosse possível, apesar de que a dimensão multiforme do genocídio e de motivos para responsabilização que o Estado brasileiro iria praticar não era, ainda, tão nítida como foi meses depois, ao ponto de ocasionar a já conhecida denúncia na ONU em março de 2021[i]. Minha interrogação era se algo com a força irrefreável dos movimentos de familiares de vítimas do terrorismo de Estado, sobretudo de desaparecidos, que desafiaram as ditaduras da América do Sul entre finais da década de 1970 e começos dos 80, se algum agrupamento que se percebesse com a mesma razão incontestável podia aparecer como consequência da pandemia. E se assim fosse, quais formas concretas ele podia ganhar? A responsabilização demandada seria pelo ocultamento de causas? Pela exposição ao contágio por decisão administrativa? Pela omissão quando era possível salvar vidas? Enfim, decidi estar muito atento.
Finalmente, em abril de 2021, dois fatos vêm sinalizar (é claro que de modo diferente do imaginado por mim) que algumas trilhas se abrem e começam a ser percorridas. Por uma parte, em vários jornais do Rio Grande do Sul apareceu, entre os dias 12 e 14 de abril, a notícia da fundação de uma entidade chamada AVICO-Brasil, Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID 19[ii]. Por outro lado, uma reportagem da UOL de 27/4 informa que membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), ligados, por sua vez a entidades como o Conselho Nacional de Psicologia e a Ordem dos Advogados do Brasil, cogitam “uma espécie de Comissão da Verdade” da pandemia[iii]. A AVICO iniciou uma atividade intensa para divulgar sua fundação e sua página Facebook, e apenas duas semanas depois já aparecia em uma reportagem da edição Brasil do El País. O grupo já produziu notas públicas sobre a instalação da CPI da pandemia no Senado, sobre a falta de vacinas em segunda dose, participou de lives junto de entidades como o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, e foi entrevistado pela TV da Assembleia Legislativa do RS. O especificador “Brasil” faz parte da denominação AVICO já nas primeiras aparições públicas, o que indica o propósito de atingir alcance nacional. As pautas que a associação vai mostrando dizem respeito à responsabilização de autoridades pela gestão da pandemia em todos os níveis, exigência de vacina para todos, reconhecimento do contágio da COVID em ambientes de trabalho, atendimento de sequelas dos que sobreviveram à doença, defesa do SUS, atendimento jurídico, médico e psicológico a familiares e a vítimas, e, também, o questionamento da subnotificação.
O que me proponho aqui não é avaliar perspectivas para essas movimentações no âmbito da sociedade civil, muito menos seu impacto nas relações de forças entre classes e setores políticos no país. Não porque essas perspectivas não me interessem como cidadão, mas porque sua avaliação se dá em campos do conhecimento com os quais não sinto que possa contribuir diretamente. Há um empreendimento muito específico ao que estou dando andamento como pesquisador no terreno da linguagem, que é o de procurar filiações discursivas entre a palavra desses novos atores e os enunciadores (familiares de vítimas) que venho estudando em aqueles primeiros textos que confrontavam o ocultamento dos crimes de Estado na segunda metade do anterior século. Isso demanda uma metodologia e um tempo que não é o desta breve coluna. O que vou tentar aqui é realizar alguns apontamentos sobre condições de produção discursiva[iv] que podem favorecer ou não essas filiações, esclarecendo que, no quadro da análise do discurso, filiação não significa convergência nem muito menos identificação consciente, mas um regime de repetição, efeito de uma memória do dizer que não é monitorada pelo indivíduo.
Em primeiro lugar, é bom lembrar um traço que se registrava em todas as manifestações verbais, não apenas as primeiras, dos movimentos de familiares de desaparecidos: a inexorabilidade com que se enunciava sua reclamação. Mediante construções linguísticas que variavam bastante, os textos incluíam sempre algum tipo de referência a que não havia maneira de esse reclamo deixar de ser dito. O laço familiar aparecia, em muitos casos, como fundamento desse caráter irrenunciável da demanda, fundamento que se deslocou para várias tentativas posteriores de explicação para o surgimento e a força dos movimentos. No entanto, cremos, como Gorini (2017, p. 17), que é necessário não cair em uma visão “naturalizadora” do vínculo familiar como motor infalível da revolta, já que mesmo esse vínculo e suas possibilidades estão sujeitos às condições históricas específicas. Em um aspecto, essas condições são hoje até mais favoráveis para que familiares que sentem que o direito à vida ou á integridade dos seus seres queridos foi violentado se mobilizem. Não há uma construção das vítimas de COVID como culpadas, merecedoras ou inimigas, como tentavam as ditaduras em relação aos militantes e opositores, ou como hoje é justificado o extermínio policial contra a população negra e pobre estigmatizada como “bandido”. E o medo profundo a reclamar ou manifestar-se, que nos anos de chumbo se estendia pela sociedade toda, não é sentido agora na maior parte dela, não esse tipo de medo. A argumentação ensaiada pelos diversos setores de poder para evitar responsabilizações é mais a da inevitabilidade da morte ou do contágio, o que cria uma outra classe de obstáculo, que exigirá outras dinâmicas de convencimento.
A consideração desse obstáculo específico nos leva para o problema posto pelas outras entidades que aqui mencionamos: aquelas que, por meio do CNDH, veem a possibilidade de uma comissão de investigação para a qual, não casualmente, empregam a analogia com as “comissões da verdade” que já conhecemos no continente. E interrogando produtivamente essa analogia com o terrorismo de Estado que nos anos 70 fazia desaparecer, que ações de Estado equivalem hoje àquela intenção de ocultar a dimensão ou o alcance da matança? Rogério Giannini, um dos membros do CNDH entrevistado pela UOL na matéria já referida[v], adverte sobre “narrativas minimizadoras” e sobre uma tentativa das autoridades “de tratar a questão como farsa”, criando uma “memória distorcida” e diluindo a responsabilidade do Estado, tentativa que inclui a subnotificação de óbitos. Da nossa parte, cremos que parte dessa tentativa é o uso da figura do suposto “recuperado”, como se os efeitos da doença parassem quando a pessoa sobrevive e deixa de ter o vírus, e como se a quantidade de “recuperados” não fosse sinistramente dependente da quantidade de contágios. Não casualmente, nos períodos, dentro da pandemia, em que a grande mídia fez trégua geral e amorosa com Bolsonaro, fundamentalmente de julho a dezembro de 2020, a contagem de recuperados era destacada em cada reporte diário da COVID pelo “consórcio de veículos de imprensa”, que sempre terminava com o clichê “x milhões de pessoas se recuperaram da doença”. Em síntese, diante da COVID 19 parece mais viável do que diante dos atos de terrorismo de Estado esgrimir uma diluição de responsabilidades, mas não estamos aqui avaliando nem vaticinando se essas tentativas terão mais força do que as de responsabilização, apenas observamos suas armas retóricas.
Por último, consideremos um fator que determina as características e os tons de toda voz que começa a se abrir caminho no espaço público: sua dimensão institucional em sentido amplo, isto é, como e com que percepção de coletivo se agrupa, que vínculos estabelece. Aspecto crucial porque prefigura o interdiscurso, o “já dito” que atravessará seu dizer, e que também vai se modificando com as práticas. Essa foi, voltando ao que tem sido nosso objeto de estudos nos últimos anos, uma diferença muito importante entre as primeiras expressões dos familiares argentinos de desaparecidos e dos familiares brasileiros, que deixou traços no discurso inicial dessas organizações. Os movimentos argentinos, fundamentalmente o que depois deu lugar a Madres de Plaza de Mayo, começaram se enunciando como “não políticos”, e, embora mantivessem diálogo e ações em comum com organizações preexistentes, faziam uma ênfase notável na especificidade familiar da sua demanda; inclusive, no começo, era polêmico entre elas e eles que seus seres queridos tivessem sido levados por forças realmente estatais (Gorini, 2012; Filc, 1997). Em pouco tempo essa percepção mudou, e Madres de Plaza de Mayo chegou a ser o inimigo mais tenaz do regime, mas, no início, esse era o perfil. Já no Brasil, o agrupamento de familiares de desaparecidos esteve, de saída, ligado aos movimentos de ex presos e familiares de presos políticos, que já vinham atuando desde vários anos antes (Teles, 2000), e tinham relações consolidadas com diversas organizações sociais e setores da própria Igreja Católica, como mostra também o Dossiê Ditadura (CFMDP-IEVE, 2009, p. 628). Embora o laço familiar fosse sempre destacado, a qualificação do caráter político tanto da demanda quanto da desaparição forçada era muito mais nítido na sua palavra do que nos primeiros textos dados a público pelos argentinos[vi].
O que vemos, até hoje, dos primeiríssimos passos e vozes de vítimas e familiares de vítimas da COVID 19 no Brasil tem, nesse plano constitutivo do agrupamento que é a enunciação de si e a vinculação, mais semelhança precisamente com aqueles familiares brasileiros, e em uma realização muito desta época. A politicidade da causa é claramente assumida, funciona praticamente como um pressuposto. De início se vinculam com diversos tipos de institucionalidade, e há uma particularidade significativa que aparece nas diferentes reportagens já referidas do Zero Hora e do El País, que diz respeito à narração do seu surgimento. Paola Falceta, atual vice-presidente da AVICO, depois de perder a mãe para a COVID 19, e quando decidiu que precisava fazer algo no espaço público, procurou Gustavo Bernardes, atual presidente da associação, alguém que também tinha sofrido com a doença, mas que ela particularmente conhecia como ativista de direitos humanos, mais especificamente da intervenção a partir dos direitos humanos na problemática do HIV. Há, nesse primeiro passo, e independente da intenção dos protagonistas, um percurso metonímico que liga três momentos históricos. Com efeito, a memória do que sejam “direitos humanos” no nosso continente está indissoluvelmente ligada à transição posterior ao terrorismo de Estado setentista. E a epidemia do HIV foi, não apenas por aqui, mas no mundo todo, uma ocasião de culpabilização da vítima (que “alguma coisa errada fez”, como antes os alvejados pelas ditaduras), e também de recusa, por parte dos poderes estatais, de uma responsabilidade por assumir políticas efetivas de prevenção e de combate, recusa que tem pontos em comum com a que hoje é objeto de denúncia no Brasil.
E existe algo em que essa nova voz que está despontando, e que demanda responsabilização e verdade, guarda semelhança, também, com a palavra dos movimentos de familiares argentinos surgidos durante a ditadura: sua ênfase na necessidade de protagonismo dos diretamente afetados. Principalmente nas publicações da AVICO, mas também nas declarações dos membros da CNDH, há a insistência de que as vítimas e familiares ganhem um lugar específico, independente da institucionalidade política e científica, e que desse lugar dialoguem e estabeleçam alianças. Parece crucial, nesse sentido, que consigam também o diálogo e a interação com os que, neste país, são alvo de extermínio há décadas.
Dei a este texto, como título, uma interrogação por não ser, reitero, meu propósito realizar aqui qualquer previsão sobre as perspectivas ou o devir desses projetos. Não sei se essa brecha aludida na minha pergunta se abrirá completamente nas práticas e nas relações de força da luta política, mas ela está se abrindo nas práticas discursivas, que não refletem mecanicamente o real histórico que as determina. A memória de inexorabilidade que elas carregam pode persistir para além de conjunturas, e muito dificilmente possa ser instrumentada para projetos regressivos, porque a busca de verdade sobre a pandemia aponta para as bases econômicas, e para todas e cada uma das artérias da perversa desigualdade brasileira.
*Adrián Pablo Fanjul é professor do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).
Referências
CFMDP-IEVE (Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos -Instituto de Estudos sobre a Violência de Estado). Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos no Brasil (1964-1985). São Paulo: Imprensa Oficial, 2009.
Courtine, Jean-Jaques. Análise do discurso político. O discurso comunista endereçado aos cristãos. [1981]. Traducción al portugués de Cristina de Campos Velho Birk et. al. São Carlos: EdUFSCar, 2009.
Fanjul, Adrián Pablo. “Primeros textos públicos de familiares de desaparecidos por razones políticas en Argentina y Brasil en la década del 70. Un análisis de tensiones en la regularización discursiva.” Humanidades e Inovação, v 7, n 24, p. 261-277, 2020.
Filc, Judith. Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983. Buenos Aires: Biblos, 1997.
Gorini, Ulises. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. (Tomo I – 1976-1983). La Plata: EDULP, 2017.
Méndez, Juan. “El derecho humano a la verdad. Lecciones de las experiencias latinoamericanas del relato de la verdad.” Em: Anne Pérotin-Dumon (dir). Historizar el pasado vivo en América Latina. Santiago: Universidad Alberto Hurtado – Centro de Ética. 2007, p, 1-50.
Napolitano, Marcos. “Recordar é vencer: as dinâmicas e vicissitudes da construção da memória sobre o regime militar brasileiro”. Antíteses, v 8, n 15, 2015, p. 9-44.
Teles, Janaína. “Mortos e desaparecidos políticos. Um resgate da memória brasileira”. Em: Teles, Janaína (org.). Mortos e desaparecidos políticos. Reparação ou impunidade? São Paulo: Humanitas, 2000, p 130-180.
Notas
[i] No dia 15/3/2021, as ONGs Conectas Direitos Humanos e a Comissão Arns apresentaram, na sessão do Conselho Internacional de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, uma denúncia documentada contra Bolsonaro por promover “Uma devastadora tragédia humanitária, social e econômica”. A denúncia foi embasada, dentre outros elementos, em uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP que, analisando normas promulgadas pelo governo federal, estabelece que houve uma “estratégia institucional de propagação do vírus” liderada pelo presidente (ver Boletim Direitos na Pandemia, número 10, CONECTAS, https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/Boletim_Direitos-na-Pandemia_ed_10.pdf) .
[ii] Ver, por exemplo, estas matérias em Gauchazh e em Jornal do Comércio: https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2021/04/associacao-de-vitimas-e-familiares-de-vitimas-da-covid-19-e-criada-em-porto-alegre-cknexzotx00440198gk1r0ul7.html
[iii] https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/04/27/entidades-costuram-base-de-futura-comissao-da-verdade-sobre-pandemia.htm
[iv] As “condições de produção”, para a linha materialista em análise do discurso (por exemplo, Courtine, 2009, p. 108), são dadas pelos âmbitos institucionais, pelas imagens que os participantes têm de si e dos interlocutores, e pelo quadro de disputa ideológica em que as sequências discursivas são formuladas.
[v] Ver nota 4.
[vi] Em Fanjul (2020) desenvolvemos amplamente essa comparação com base em uma série de cartas públicas dos movimentos argentinos e brasileiros.