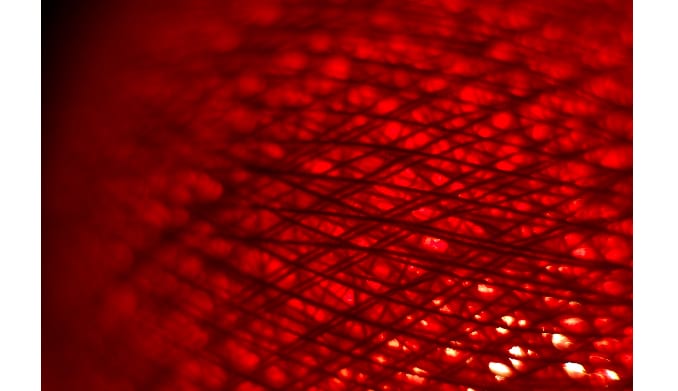Por LUCIANA MOLINA*
A lista da Fuvest nem sequer arranha a estrutura que me oprime como mulher, mas dificulta o trabalho como professora de literatura disposta a compartilhar em sala de aula uma percepção específica dos objetos literários
“Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, oh, tão presa!”
(Ana Cristina Cesar).
1.
Saiu uma nova lista de leituras para a Fuvest, válida de 2026 a 2028, e que conta apenas com obras de autoras mulheres. Em seguida, publicizou-se uma “Carta aberta de professores universitários e críticos literários”, opondo-se à lista da Fuvest. Observando de fora, tudo isso parece estranhíssimo. A USP conta com craques no assunto, e pelo visto perderam a oportunidade de consultá-los sobre a escolha dos livros no exame de ingresso da própria universidade.
É quase como se ainda estivéssemos naqueles tempos de negacionismo epistemológico. Antes, terraplanismo e cloroquina para combater covid-19… Agora, nossa academia parece acreditar que não há especificidade e especialização nos estudos literários. Que fase!
Com a discussão, nota-se um crescente problema de definição do que seria “cânone”, que, para alguns, parece ser sinônimo de obras escritas por homens cisgêneros e brancos. Mas cânone é antes o conjunto de obras consagradas, e esse conjunto de obras se modifica ao longo do tempo.
Nesse sentido, a ironia de Paulo Franchetti, para quem está de fato prestando atenção no debate, diverte e instrui: “Leio ali, por exemplo, que “tradicionalmente, o cânone literário tem valorizado autores já consagrados”. É difícil imaginar o que os autores quiseram dizer. Tradição, cânone e consagração comparecem ali numa lapalissada ridícula. Podemos fazer variações com esses termos. A tradição valoriza autores consagrados, a tradição é a consagração de autores, autores consagrados são a tradição; o cânone valoriza a tradição, o cânone é a tradição, o cânone é a consagração.”
Muitas colegas respeitáveis da área de literatura se manifestaram a favor da lista de livros inteiramente feminina. Respeitosamente, apresento minhas discordâncias. Penso que essas manifestações são, em geral, superficiais porque levam em conta apenas a questão política enquadrada pelo feminismo e pelas pautas de gênero (ainda que em perspectiva interseccional). Desse modo, unilateralizam e hipostasiam a questão política nas pautas de gênero, como se não houvesse outros fatores a serem considerados em uma decisão político-educacional. Em outras palavras, querem circunscrever o sentido de política a políticas identitárias. Não se trata tampouco de discutir a qualidade literária das obras selecionadas. Trata-se na verdade de uma disputa pelos sentidos de literatura e de política que estão subjacentes à lista.
Diante da resposta de Érico Andrade e João Paulo Lima Silva e Filho, “Racionalizações encobridoras”, ressoa um “CQD”, pois toda a argumentação ignora por completo a especificidade dos objetos literários e do campo dos estudos literários. Na realidade, a meu ver, desconsidera inclusive aspectos educacionais e pedagógicos do ensino básico e superior. Afirmam apenas de maneira vaga que o cânone é político, sem nunca de fato explicarem de que modo exatamente mais autoras na lista do vestibular pode contribuir para a igualdade de gênero.
Contentam-se com uma percepção que equivale perfil autoral feminino com igualdade de gênero – o que parece ser uma concepção teórica questionável diante dos trabalhos de autoras como Simone de Beauvoir, Judith Butler e Gayatri Spivak… É preciso enfatizar que a lista é questionável até mesmo do ponto de vista da crítica e da teoria feminista e de gênero.
Talvez seja possível afirmar que em outras áreas a discussão sobre o cânone engatinha. Nos estudos literários, contudo, já é um debate consolidado e de grande tradição, com longo rastro bibliográfico. É ponto de ementas de disciplinas em universidades de todo o Brasil e de concursos para professor universitário.
A discussão sobre cânone literário é igualmente vasta em âmbito mundial. Autores de destacado renome internacional como Franco Moretti, David Damrosch, Pascale Casanova, Gayatri Spivak, dentre muitos outros, já se debruçaram sobre o assunto. Cito alguns autores disponíveis em língua inglesa, que são ou foram professores de universidades estadunidenses, mas desde já é possível apontar a diversidade étnico-racial, de proveniência, de gênero e de posicionamentos desses autores.
Caberia ainda também assinalar algumas especificidades da formação do cânone nacional que talvez não sejam completamente análogas ao que hoje entendemos como “cânone ocidental” ou, ainda, “literatura mundial”.
2.
Se tomamos como parâmetro de definição do cânone a inclusão na historiografia literária, alguns autores canônicos no Brasil, como Machado de Assis, Cruz e Souza, Lima Barreto e Mário de Andrade são afrodescendentes e absolutamente canônicos desde os meus tempos de escola. Não há, no caso deles, um problema de consagração, mas talvez houvesse um problema de reconhecimento do “perfil autoral”, para usar a expressão do texto originalmente publicado.
A origem étnico-racial e o gênero dos autores não eram tratadas com tanto relevo no passado como parece ser nos dias de hoje. Também noto o que Ítalo Moriconi apelidou de “O século biográfico”, isto é, uma explosão da relevância dada à biografia nos estudos literários no século XXI. Essa tendência, combinada com o crescente interesse pelas políticas identitárias, parece ganhar um tom muito curioso de atual supervalorização da biografia do autor em detrimento da análise do corpus literário em suas especificidades.
Um exemplo que chama atenção é o de Conceição Evaristo, que tem participado da programação principal de vários eventos de Literatura no Brasil. Em 2023, participou da ABRALIC e da FLIP. Ou seja, estava na programação principal de um dos maiores eventos acadêmicos de literatura do Brasil e também em um dos eventos mais populares, comerciais e ligado às editoras, a FLIP. Seus textos já aparecem com regularidade em muitos livros didáticos de Língua Portuguesa para ensino médio. Há alguns anos são produzidas muitas dissertações e teses sobre a obra de Conceição Evaristo.
Temos, portanto, várias razões para dizer que, se ela não é uma autora canônica, está muito próxima de assim ser considerada, pois o que define cânone é a consagração e ela já está usufruindo da atenção das instituições e dos mecanismos consagradores na literatura.
Em 2023, Ailton Krenak foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. A instituição justifica inúmeras problematizações, mas é inegável seu lugar consagrador no âmbito literário.
Mesmo o discurso em torno do cânone precisa se modificar e partir dessa realidade que já se encontra bastante modificada em relação ao que havia 10 anos antes. Pode-se objetar que esse processo é ainda recente e incipiente (e nisso concordamos). Mas não é possível definir o cânone como uma instituição estagnada e tampouco aceitar perspectivas pueris sobre a questão.
Em meus cursos de literatura, tenho progressivamente aumentado a quantidade de mulheres discutidas em sala. Mas considero que seria absurdo trocar toda a ementa de disciplinas obrigatórias por textos de mulheres, pois isso levaria à evidente perda de discussões já consolidadas no campo. Nesse sentido, tornaria inviável falar em educação consistente, pluralista, omnilateral, holística, pois essa seria, assim como a lista de livros da Fuvest, uma educação unilateralizada a partir de um critério (político) específico.
Há, além disso, um problema que já é constatado e discutido pelos debates internacionais sobre cânone literário. A crítica ao cânone frequentemente tende à construção de um novo cânone. Ou seja, também caberia perguntarmos se a discussão atual tem levado efetivamente a conhecimento mais pluralista de autores e autoras.
3.
Não acredito que os últimos anos tenham trazido mais visibilidade, por exemplo, para a excelente poeta Gilka Machado, também afrodescendente, e cuja poesia considero de notável qualidade literária e estética. De maneira similar, acho impressionante que a poesia de Edimilson de Almeida Pereira tenha menos visibilidade que poesias mais simplórias e de menor qualidade literária no cenário contemporâneo brasileiro.
Em razão disso também, acredito que não se trata propriamente de uma abertura à pluralidade, mas em grande medida apenas de uma substituição de alguns autores canônicos por outros. E, de fundo, assinala efetivamente um empobrecimento das listas de leituras de vários estudantes não só do ensino básico, mas também dos cursos de graduação de Letras e Estudos Literários, que têm chegado às instituições educacionais com as mesmas e reduzidas referências literárias (e isso ainda é pensar de maneira otimista, pois há muitos alunos nos cursos de Letras que nem sequer gostam de ler literatura). Temos razões suficientes para suspeitar que até a formação do professor de língua portuguesa anda bastante limitada e empobrecida.
Teria muitos casos da minha própria safra para relatar. Mas conto apenas um ou dois casos da minha prática docente para ilustrar a questão.
Encarregada da disciplina de Literatura Portuguesa II, que compreende o Barroco, o Arcadismo e o Romantismo, fui questionada por um estudante universitário por que estava lecionando Antônio Vieira e não uma perspectiva crítica a Antônio Vieira. Há, por trás desse questionamento, vários pressupostos problemáticos. Cito apenas dois: (i) de que a crítica e/ou a história literária poderiam substituir o contato direto com as obras literárias; (ii) de que lecionar um autor significa automaticamente concordar ou respaldar sua perspectiva.
Minhas próprias experiências também foram corroboradas pelo relato de uma colega, professora de literatura no ensino básico do estado de São Paulo, que se deparou com pais e mães que não queriam que a carta de Pero Vaz de Caminha fosse lida no contexto escolar em razão de seu conteúdo racista e colonial.
Então, pergunto: como proceder agora? Passar uma borracha em autores como Camões, Pero Vaz de Caminha e Antônio Vieira e simplesmente ignorá-los na formação escolar e acadêmica?
Outro aspecto preocupante que me parece implícito nessa questão é a ideia da leitura literária como translúcida e confortável. Como se na fruição literária, e agora utilizo o termo no sentido em que Roland Barthes o emprega em O prazer do texto, não fosse necessário haver qualquer tipo de confronto, de melancolia do eu etc. Roland Barthes igualmente discute o fato de lermos obras com ideologias distintas da nossa, o que parece ser inevitável quando lemos obras do passado.
A atual ideia hegemônica de leitura crítica parece recomendar apenas leituras que corroboram nossas próprias convicções pessoais. Cada vez mais pessoas leem se negando a colocar à prova suas perspectivas, com o objetivo de expandir seu repertório e seu conhecimento sobre sociedades do passado.
4.
Então, o que os autores Érico Andrade e João Paulo Lima Silva e Filho consideram bandeira comum, isto é, o pluralismo, está sendo negligenciado não só por parte das abordagens dos estudos literários atuais como, arrisco dizer, pelas humanidades em geral. Concordo com os autores quando afirmam que o pluralismo é uma bandeira óbvia e comum, mas não concordo quanto às metodologias, teorias e mesmo epistemologias pelos quais eles acreditam que é possível chegar a esse pluralismo.
E isso tem repercussão não só para o estudo da literatura, como também para áreas vizinhas e outras disciplinas escolares, como artes, história, sociologia, filosofia etc. Estudantes que rejeitam obras antigas porque em tese seriam arcaicas e de ideologias distintas da nossa também tendem a ter menor capacidade de leitura. Todo esse quadro aponta para um evidente empobrecimento de repertório cultural de estudantes do ensino básico e superior.
Podemos levantar ainda mais algumas objeções à crítica literária presa ao perfil biográfico. Já ouvi a opinião de que Clarice Lispector não tinha lugar de fala para escrever A hora da estrela. Materialismo histórico, existencialismo, pós-estruturalismo… todas essas correntes teóricas assinalavam uma visão da identidade do indivíduo mais nuançada do que a que hoje se encontra em voga pelo uso grosseiro da concepção de “lugar de fala”.
Tome como exemplo um texto teórico clássico do pós-colonialismo nos estudos literários e culturais, Pode o subalterno falar?, da indiana radicada nos EUA Gayatri Spivak. A obra provê inúmeros questionamentos pertinentes acerca da suposta identidade contínua entre perfil biográfico e posicionamento político.
Mas há algo mais primário que tem sido esquecido no questionamento em torno da escritora: acostumados a ver fotos de uma Clarice Lispector vaidosa e maquiada, esposa de um diplomata, a afirmação advém do desconhecimento do percurso biográfico de Clarice Lispector, que, refugiada, morou, quando nova, em Maceió e Recife e não tinha exatamente uma vida de abundância. Apenas mais tarde ela se muda para o Rio de Janeiro. Assim, mesmo do ponto de vista biográfico, há algumas aproximações entre o percurso de Clarice e de Macabéa.
Mas, mesmo que não houvesse, por que ela não poderia elaborar a questão do ponto de vista ficcional? Há uma dificuldade de entender a historicidade e a contradição existente dentro da vida de uma pessoa e de como isso se manifesta através do trabalho de elaboração ficcional. O desejo de enquadrar Clarice Lispector em uma definição de mulher cisgênero branca e burguesa parece incorrer numa falsificação de sua biografia.
Aliás, como leitora e professora de literatura, acredito que o exemplo de Clarice Lispector é bastante emblemático. Tenho observado uma crescente animosidade em torno de uma das autoras mulheres mais canônicas da literatura brasileira. Quase sempre essa animosidade é motivada por algum aspecto biográfico ou alguma interpretação francamente grosseira de suas obras literárias. O cânone está mesmo em disputa. Mas é problemático quando o único critério para a consolidação do cânone seja a biografia ou a identidade pessoal.
Se, no passado, havia interesse por histórias em que as pessoas se transformavam, redimiam-se, arruinavam-se, contradiziam-se, agora nossa sensibilidade estética está voltada em grande medida para uma visão do ser humano como uma personalidade estável e unidimensional ao longo do tempo. Parece-me bastante evidente que as políticas identitárias têm cumprido um papel nessa tendência, e por isso considero o assunto espinhoso e preocupante.
Assim, fiquei positivamente surpresa com o posicionamento de Regina Dalcastagnè em sua página do Facebook, no dia 19 de dezembro: “Ia dizer que, pensando no volume de jovens cidadãos brasileiros que jamais vão ler nada além do que for obrigatório no ensino médio, eu apostaria na apresentação de uma diversidade maior de perspectivas sociais e estilos. O problema é ouvir as reações destemperadas e reacionárias de alguns, que acham que ler os mesmos autores homens de sempre é uma obrigação moral e estética à qual todos nós temos que nos curvar, sem questionamentos, sem macular a “alta literatura” com as pretensões de uma reflexão política, sem ousar apontar o dedo para as desigualdades que também são forjadas no meio literário.”
5.
É essencial discutir como a lista da Fuvest direciona a formação dos leitores em um país como o Brasil, marcado por desigualdades estruturais e perdas significativas de alfabetização e escolarização.
Algumas pessoas falam como se a lista do vestibular devesse encarnar uma dimensão compensatória – desconsiderando o efeito de uma lista unilateralizada como essa em uma geração de estudantes e leitores.
É igualmente válido o argumento levantado por Paulo Franchetti acerca das leituras obrigatórias, que acabam sendo enquadradas de maneira mecânica e excessivamente pragmática por cursinhos caça-níqueis e por resumos prontos na internet (sem falar no que vem aí com o Chat GPT e a inteligência artificial!). Mas suspeito que, ruim com as listas, pior sem elas.
Pode-se objetar que é apenas uma lista de livros para o vestibular. Entretanto, levando-se em conta a centralidade e a reputação da USP no cenário nacional, é evidente que a lista de vestibular corrobora o direcionamento dos conteúdos e das leituras tratadas na escola e no sistema educacional brasileiro como um todo. Influencia inclusive a produção do livro didático e a aquisição de obras por bibliotecas e escolas públicas (materiais com os quais o professor se verá obrigado a trabalhar ao longo do ano).
Para quem está nas trincheiras da escola, há uma corrosão visível do ensino público nos últimos anos. É difícil apontar o que foi decisivo: bolsonarismo, pandemia de covid-19 e o vício cada vez mais intenso nos aparelhos digitais, o Novo Ensino Médio ou, o que é provável, tudo isso em conjunto. Trata-se de um cenário que, com Lula ou sem Lula, continua desalentador (e isso é assunto para outro texto).
Seja como for, o modo como essa discussão sobre a lista da Fuvest tem se desdobrado me dá a sensação de que vejo em replay Lula subindo a rampa no dia de sua posse acompanhado de vários símbolos políticos. Bonito e tudo mais, porém, há algo de enganoso nisso.
Parte da esquerda trata a questão como se a exclusão histórica das mulheres da vida intelectual fosse consertada por uma lista de obras indicadas para o vestibular com valor simbólico. Como se uma suposta consagração simbólica das mulheres materializada na lista do vestibular diminuísse a desvantagem social, política e material que temos todo o resto da vida. Questiono enfaticamente essa visão triunfalista da lista de livros de autoria feminina.
Acredito que esse posicionamento deriva de uma visão talvez hegemônica na universidade hoje, e que constitui a doxa de certa esquerda: um caldo vagamente feminista, antirracista, decolonial etc. e que não consegue ultrapassar os valores simbólicos porque não está disposta a ir à raiz dos problemas. Na realidade, como já indiquei aqui, até mesmo a leitura atenta de teorias e estéticas feministas teria trazido mais nuances a essa discussão.
Érico Andrade e João Paulo Lima Silva e Filho definem as objeções à lista como “encobridoras”. Não encobrem nada: aprofundam e ampliam, enquanto outros ainda estão olhando para a ponta do iceberg. Algumas vertentes da discussão política estão enviesadas para as políticas identitárias em detrimento de quaisquer outros aspectos formativos e políticos, e por isso ficam apenas na superfície da discussão.
Por tudo isso, entendo que a lista de vestibular, em seu sentido positivo, é meramente simbólica. Em contrapartida, os potenciais efeitos para a formação do estudante e para o sistema educacional brasileiro são mais negativos que positivos. O suposto ganho (maior igualdade de gênero) me parece ser sobrepujado pela intensificação da precarização do ensino.
Em resumo, penso que a lista da Fuvest nem sequer arranha a estrutura que me oprime como mulher. Em contrapartida, dificulta meu trabalho como professora de literatura disposta a compartilhar em sala de aula uma percepção específica dos objetos literários, mas também diversa do ponto de vista teórico, histórico, político e cultural.
Tenho testemunhado e sentido na pele que o desrespeito às professoras mulheres cresceu nos últimos anos, independentemente da programação dos eventos, prêmios, pesquisas e listas de livros, que cada vez mais incluem mulheres. É sumamente irônico (mas sintomático de uma falha na discussão teórico-política) que, apesar de notar que as discussões de gênero são cada vez mais frequentes como políticas dentro do local de trabalho (havendo, inclusive, reuniões e cursos em torno do assunto), este foi, de longe, o ano em que mais sofri violência de gênero no trabalho.
Com Fernando Pessoa, estou farta de símbolos. Queria políticas socioeconômicas mais efetivas.
*Luciana Molina é doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp. Atualmente, é professora de Língua Portuguesa e Literatura da Secretaria do Estado de Educação do Espírito Santo.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA