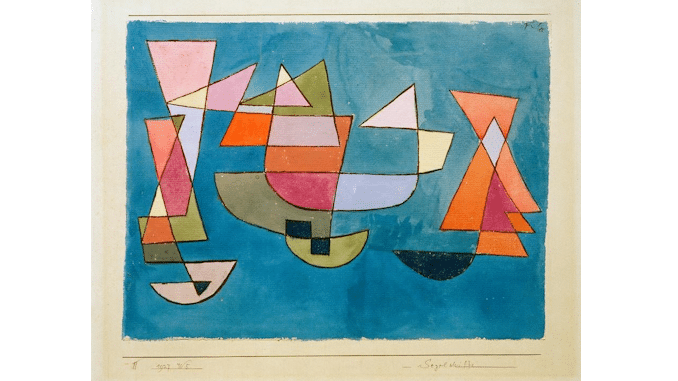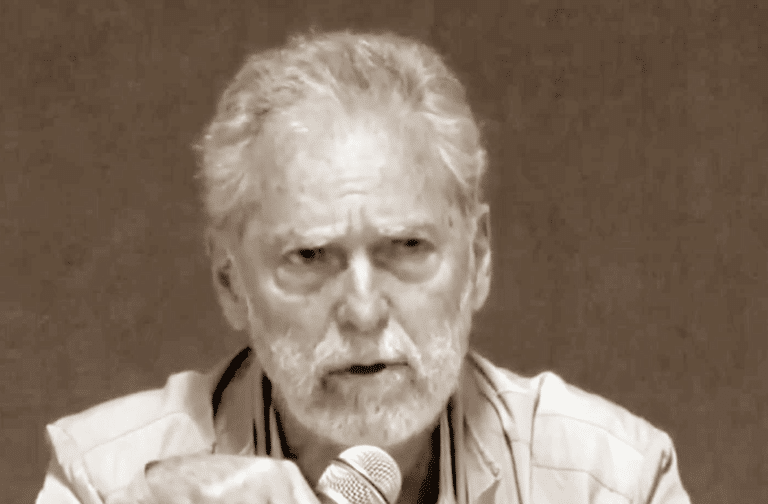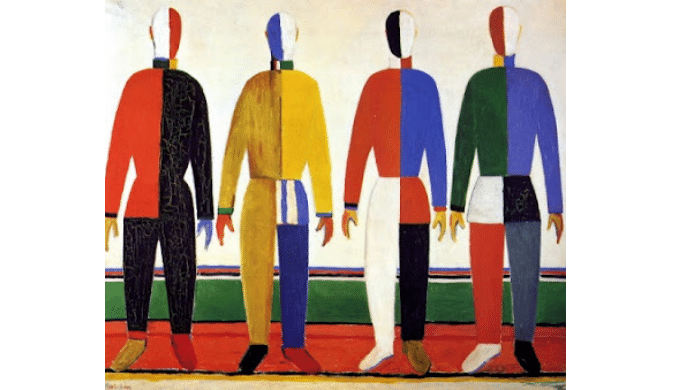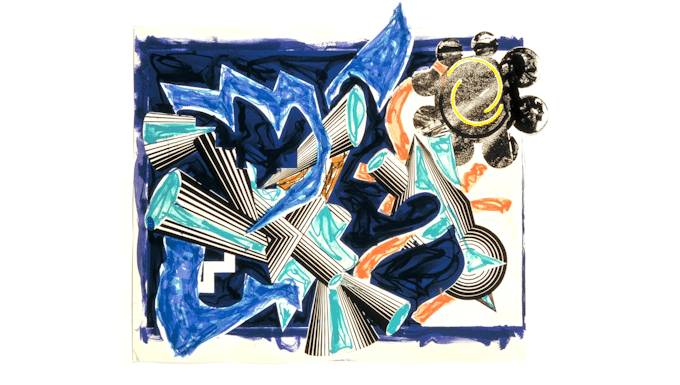Por FLÁVIO R. KOTHE*
A grande obra se constrói a partir de horizontes mais amplos do que a dominação presente: permite ao leitor que voe sobre abismos
Há algo que distingue a arte, mas que escapa à definição, embora se perceba quando se está diante de um bom texto. A definição dada por Kant para o belo, “aquilo que sem conceito agrada”, é uma contradição: o conceito é aí não ter conceito; a definição, não ter definição. Querendo ser analítico, Kant tornou-se dialético. Foi além dos seus pressupostos.
Sua preocupação na Crítica do juízo era mostrar que nem tudo se resolve pela razão conceitual: ela perde razão ao não ver sua limitação. Não só o belo e o sublime se dão, porém, sem conceituações. Também a imaginação, a paixão, o divino, a afinidade seletiva etc.
Os artistas trabalham com o concreto ente que constroem, mas este é sempre mais que apenas um ente: nele se concentram significações diversas que se conjugam num ente singular, conferindo-lhe singularidade. A partir de inquietações que se apoderam deles, trabalham obsessivamente na obra, mas não necessariamente ela acaba sendo boa arte. A obra se obra nele, fazendo-se nele, usando-o para se fazer. O grande artista não faz obras ruins, embora deixe algumas inacabadas ou outras sejam menores. Ele é um perigo para as obras, pois é tentado a refazê-las ao voltar a elas.
Hans-Georg Gadamer propôs o conceito de “horizonte de expectativa”, uma variante do que Aristóteles fez ao sugerir que todo novo entendimento se faz à base do já entendido. Se o entendimento de algo novo é feito à base do que já se conhece, a tendência é reduzir o novo ao antigo, diluindo-o nele e perdendo, assim, a noção da diferença.
Se existe um horizonte de expectativa, tanto pode significar que a obra é reduzida a esse horizonte já delineado quanto significar que se delimita um espaço que precisa ser ultrapassado por uma obra que pretenda ser nova por ter algo diferente a dizer. A grande obra se constrói para lá do horizonte vigente numa época e num meio, mas consegue dizer algo aos horizontes de diversas épocas.
O estranho mistério dos grandes textos que, leitura após leitura, vão revelando novos níveis de significação como se cada página se abrisse para novas páginas, não é mistério para o leitor comum: ele sequer percebe isso, reduz o complexo ao simplório, quer um texto que apresente às claras um significado simples e direto, feito um artigo de jornal.
O leitor médio de jornal não percebe, em geral, que isso que lhe é repassado vem filtrado pela vontade dos donos do jornal: tanto destacam certos informes quanto escondem outros. No destacado há um mostrar que mais serve para ocultar do que revelar.
Não se captando o mistério da grande arte, não se capta o mister do jornalismo. Também não é percebido na leitura de textos ditos sagrados, em que ele foi treinado a crer que tudo ocorreu conforme é contado. Esse pendor tem sido exacerbado nas telinhas dos celulares. Seu modelo melhor é a Wikipédia: a informação curta e rápida, com a pretensão de resolver de modo simples algo complexo. Seu modelo é o catecismo.
Uma piada funciona quando, no fim, frustra uma expectativa e apresenta uma relação surpreendente entre vetores diversos. O problema é que, quando contada de novo, a relação já se conhece e não há mais surpresa. Ela perde a graça. É como riscar um fósforo já riscado. No grande texto, a toda releitura se apresentam novas correlações, gerando níveis de significação não captados antes.
Sigmund Freud leu no texto onírico o afloramento da contradição entre ânsia de dizer e repressão ao que quer ser dito e não se deve. Carl Jung viu no sonho a reaparição de eventos olvidados do cotidiano, mas já recarregados de uma carga simbólica que não se havia percebido. Essa carga é uma conexão de um evento com outros, uma pessoa com outras.
O escritor reelabora lembranças, como se fosse um operador do mimético. Se começa como um operário que copia algo visto ou imaginado, ao perceber as necessidades próprias do seu texto vai fazendo operações que geram algo que se torna cada vez mais estranho ao ponto de partida: a obra se obra no autor. Ele “mente” para dizer verdades que talvez de outros modos não possam ser ditas.
Como o que mente é o mais recôndito da mente, acaba tendo fidelidade ao que parece estar traindo. Não significa se ater às singularidades do autor, mas captar “universalidades” que se entrecruzam com outros seres e eventos. Não são “universais” abstratos, vazios, e sim concretudes de outros entes e que vão além deles.
Tanto é possível uma leitura refinada e complexa de um texto “simples” quanto uma “leitura simplória” de um texto denso e significativo. Aos doutrinadores dogmáticos não interessa que se faça a desconstrução dos procedimentos textuais, a reavaliação de seus gestos semânticos, a desmontagem de mentiras consolidadas. A questão transcende o texto, pois quem aprende a decifrar textos também é inclinado a fazer uma leitura politizada dos impasses históricos, das propostas em curso, do que é melhor para a oligarquia e do que mais interessa ao bem-comum. Não se sustenta a democracia se não tiver a sustentação de uma população esclarecida.
Há autores conformistas, que procuram reiterar e reproduzir o perfil delineado pelo cânone nacional, mesmo em variantes regionais, e há também autores mais rebeldes, que se põem a procurar o que fique fora do seu horizonte de expectativa. A atitude pessoal do autor não garante por si qualidade ao texto, assim como gênero, opção sexual, religião, cor da pele são garantias. Não basta o autor querer fazer algo bom. Boas intenções não redundam em bons textos, assim como podem ser dados exemplos de mau caratismo em autores de obras geniais. Ser maluquete não garante obra de qualidade.
Embora se possam delinear dois horizontes diferentes – um mais conformista, de autoajuda, que não tem embates com a repressão, mas é aceito pela grande mídia; outro, marginal, marginalizado, que não aceita o mando e comando de quem sempre está com o poder –, nenhum deles é garantia de qualidade literária.
Há obras de dominação que são consideradas elevadas por aqueles que aplaudem processos de controle e domínio. A grande obra se constrói, porém, a partir de horizontes mais amplos do que a dominação presente: permite ao leitor que voe sobre abismos.
Uma grande obra pode ser ignorada e se perder, assim como obras menores podem ser premiadas e badaladas exatamente por não darem sustentação a voos mais elevados. Ela é intrinsecamente una com a busca de liberdade. Ela nos diz, porém, que ninguém é dono da verdade: ela é uma busca sem dono.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Alegoria, aura e fetiche (Editora Cajuína). [https://amzn.to/4bw2sGc]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA