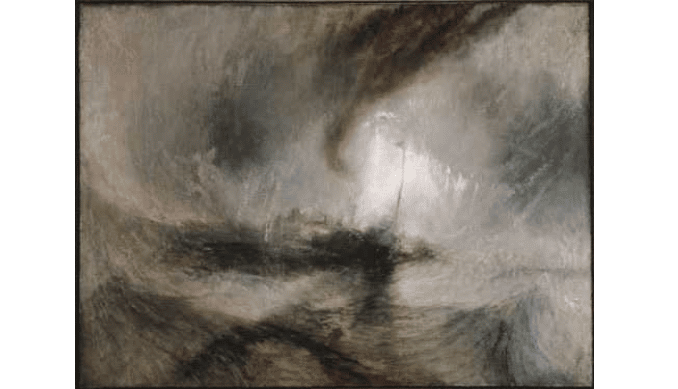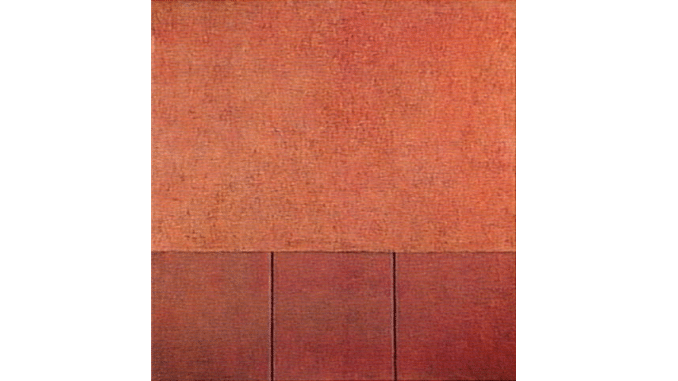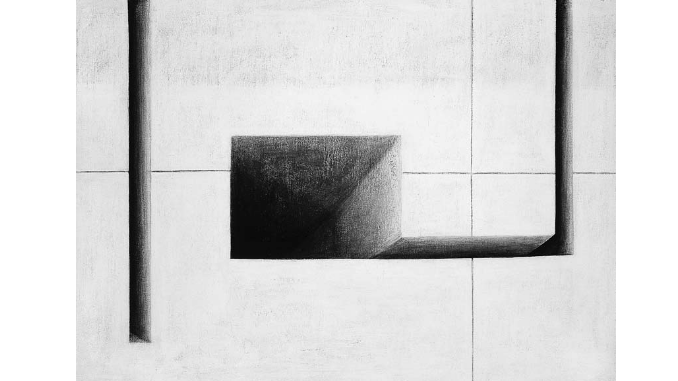Por JEAN-PAUL SARTRE*
Texto de abertura do primeiro número da revista, de outubro de 1945
Todos os escritores de origem burguesa conheceram a tentação da irresponsabilidade: há um século ela é tradição na carreira literária. O autor raramente estabelece uma ligação entre suas obras e a remuneração em dinheiro. De um lado, ele escreve, canta, suspira; de outro, dão-lhe dinheiro. Eis dois fatos sem relação aparente; o melhor que se pode dizer é que lhe é dada uma pensão para que suspire. Ele se julga mais parecido com um estudante a quem é atribuída uma bolsa, do que com um trabalhador que recebe o preço de seu trabalho.
Os teóricos da Arte pela Arte e do Realismo vieram ancorá-lo nessa opinião. Nota-se que eles têm o mesmo objetivo e a mesma origem? O autor que segue os ensinamentos dos primeiros tem como preocupação principal fazer obras que não sirvam para nada: se forem gratuitas, isentas de raízes, estarão mais próximas de serem por eles consideradas como belas. Ele se coloca assim à margem da sociedade; ou, melhor, ele só consente pertencer a esta como mero consumidor: precisamente, como um bolsista. O Realista, por sua vez, consome à vontade. Quanto a produzir, é outro caso: disseram-lhe que a ciência não tinha necessidade de ser útil e ele visa à imparcialidade infecunda do cientista. Já se disse várias vezes que ele “se inclinava” sobre os meios que queria descrever. Ele se inclinava! Onde estava ele? No ar?
A verdade é que, sem saber qual é sua posição social, demasiado comportado para se levantar contra a burguesia que o paga, demasiado lúcido para aceitá-la sem reservas, escolheu julgar seu século e se convenceu assim que se encontrava exterior a este, assim como o experimentador é exterior ao sistema experimental. Assim, o desinteresse da ciência pura se junta à gratuidade da Arte pela Arte. Não é por acaso que Flaubert seja ao mesmo tempo puro estilista, amante puro da forma e pai do naturalismo; não é por acaso que os Goncourt se vangloriam de saber, ao mesmo tempo, observar e de ter escrita de artista.
Esta herança de irresponsabilidade perturbou muitas mentes. Sofrem da má consciência literária e não sabem bem se escrever é admirável ou grotesco. Outrora o poeta se julgava um profeta, era honroso; em seguida, tornou-se pária e maldito, ainda passava. Mas hoje, ele se encontra no time dos especialistas e não é sem certo desconforto que menciona nos registros de hotel a profissão “homens de letras” após seu nome. Homem de letras; essa sequência de palavras, em si mesma, tem algo que tira a vontade de escrever, pensa-se num Ariel, numa Vestal, num enfant terrible e também num maníaco inofensivo aparentado aos halterofilistas ou aos numismatas. Tudo isso é bem ridículo.
O homem de letras escreve quando se luta; num dia ele se orgulha, sente-se sacerdote e guardião dos valores ideais; no outro ele se envergonha, acha que a literatura se parece com um tipo de afetação especial. Junto aos burgueses que o lêem, tem a consciência de sua dignidade; mas adiante dos operários, que não o lêem, sofre de um complexo de inferioridade, como se viu em 1936 na Maison de la Culture. É certamente esse complexo que se encontra na origem do que Paulhan nomeia “terrorismo”, foi isso que levou os surrealistas a desprezarem a literatura de que viviam.
Depois da outra guerra, foi o momento de um lirismo particular, os melhores escritores, os mais puros, confessavam publicamente aquilo que mais os humilhava e se mostravam satisfeitos quando atraíam sobre si a reprovação burguesa; havia produzido uma escrita que, por suas consequências, lembrava um pouco um ato. Essas tentativas isoladas não puderam impedir as palavras de se depreciar a cada dia. Houve uma crise de retórica e, em seguida, uma crise de linguagem. Às vésperas desta guerra, a maior parte dos literatos se resignavam a ser apenas rouxinóis. Houve até autores que levaram ao extremo seu asco de produzir: aumentando a aposta de seus precursores, julgaram que aqueles tinham feito muito pouco ao publicar um livro simplesmente inútil, sustentaram que o objetivo secreto de toda literatura era a destruição da linguagem e que, para atingi-lo, bastava falar para não dizer nada.
Este silêncio inesgotável esteve na moda durante algum tempo e as Messageries Hachette distribuíram nas bibliotecas de estações de trem os comprimidos desse silêncio sob a forma de romances volumosos. Hoje, as coisas chegaram ao ponto em que se viram escritores, repreendidos ou punidos por terem alugado suas plumas aos alemães, demonstrarem uma surpresa dolorosa: “O quê?”, dizem eles, “então a gente se engaja com o que escreve?”.
Não queremos ter vergonha de escrever e não temos vontade de falar para não dizer nada. E, aliás, se o quiséssemos, não conseguiríamos: ninguém consegue. Tudo o que é escrito possui um sentido, mesmo se esse sentido é bastante diverso daquele que o autor sonhara. Para nós, com efeito, o escritor não é nem Vestal nem Ariel: ele está, de qualquer maneira, envolvido, marcado, comprometido até o dia final de sua aposentadoria. Se, em certa época, ele utiliza sua arte para forjar bibelôs insípidos, isto é em si um signo de que há uma crise nas letras e, sem dúvida, na sociedade, ou de que as classes dirigentes o orientaram, sem que ele desconfiasse, para uma atividade de luxo, temendo que ele fosse engrossar as tropas revolucionárias.
Flaubert, que tanto praguejou contra os burgueses e que se acreditava à parte da máquina social, seria para nós algo além do que um usurário de seu talento? E sua arte minuciosa não pressupõe o conforto de Croisset, a solicitude de uma mãe e de uma sobrinha, um regime de ordem, um comércio próspero, uma renda regular? São necessários poucos anos para que um livro se torne um fato social que me examina como uma instituição ou que comece a aparecer nas estatísticas; é necessário certo distanciamento para que ele se confunda com os móveis de uma época, com suas roupas, seus chapéus, seus meios de transporte e sua alimentação. O historiador dirá de nós: “Eles comiam isso, liam aquilo, vestiam-se assim”. As primeiras ferrovias, o cólera, a revolta dos Canuts, os romances de Balzac, o progresso da indústria, concorrem igualmente para caracterizar a Monarquia de Julho.
Tudo isto foi dito e repetido, desde Hegel: queremos tirar disso conclusões práticas. Já que o escritor não tem nenhum meio de fugir, queremos que ele abrace inteiramente sua época; ela é sua única chance: ela se fez para ele e ele é feito para ela. Lamentamos a indiferença de Balzac diante dos acontecimentos de 48, a incompreensão amedrontada de Flaubert diante da Comuna; lamentamos por eles: foram coisas que eles perderam para sempre. Não queremos perder nada do nosso tempo: talvez haja tempos mais bonitos, mas este é o nosso; só temos esta vida para viver, no meio desta guerra, desta revolução talvez. Mas não se conclua daí que estejamos pregando algum tipo de populismo: é justamente o contrário. O populismo é filho de velhos, o triste rebento dos últimos realistas; é outra tentativa de tirar o corpo fora. Estamos, ao contrário, convencidos de que não se pode tirar o corpo fora. Se fossemos quietos e mudos como as pedras, nossa própria passividade seria uma ação. A abstenção daquele que dedica sua vida a fazer romances sobre os hititas é, em si, uma tomada de posição.
O escritor está em situação na sua época; cada palavra tem ressonância. Cada silêncio também. Considero Flaubert e Goncourt como responsáveis pela repressão que se seguia à Comuna porque não escreveram sequer uma linha para impedi-la. Não era problema deles, dirão. Mas o processo de Calas era problema de Voltaire? A condenação de Dreyfus era problema de Zola? A administração do Congo era problema de Gide? Cada um desses autores, em uma circunstância particular de sua vida, teve a medida de sua responsabilidade de escritor. A ocupação alemã ensinou-nos a nossa. Já que agimos sobre nosso tempo e por nossa própria existência, decidimos que esta ação será voluntária. É ainda necessário deixar claro: não é raro que um escritor se preocupe, por sua modesta parte, de garantir seu futuro. Mas há um futuro vago e conceitual que diz respeito à humanidade inteira e sobre o qual não temos nenhuma luz: a história terá um fim? O sol se apagará? Qual será a condição do homem no regime socialista do ano 3000?
Deixemos esses devaneios para os escritores de ficção científica: é o futuro de nossa época que deve ser objeto de nossas atenções: um futuro limitado que dificilmente se distingue, pois uma época, como um homem, é antes de tudo um futuro. Ele é feito de suas obras, seus empreendimentos, seus projetos a médio ou longo prazo, de suas revoltas, de seus combates, de suas esperanças: quando terminará a guerra? Como se reequipará o país? Como se organizarão as relações internacionais? Quais serão as reformas sociais? As forças da reação triunfarão? Haverá uma revolução e como ela será?
Esse futuro, nós o fazemos nosso, não queremos ter outro. Sem dúvida, certos autores têm preocupações menos atuais e visão mais curta. Passam no nosso meio como ausentes. Onde estão eles? Com seus afilhados, eles se voltam para julgar essa era extinta que foi a nossa e da qual eles são os únicos sobreviventes. Mas calculam mal: a glória póstuma funda-se sempre sobre um mal-entendido. Que sabem eles desses afilhados que virão pescá-los entre nós! A imortalidade é um álibi terrível: não é fácil viver com um pé no túmulo e o outro fora. Como tratar das tarefas correntes quando elas são vistas de tão longe! Como se apaixonar por um combate, como gozar uma vitória! Tudo é equivalente. Eles nos olham sem nos ver: aos seus olhos já estamos mortos e se voltam para o romance que escrevem para homens que nunca verão. Deixaram sua vida ser roubada pela imortalidade. Nós escrevemos para nossos contemporâneos, não queremos olhar nosso mundo com olhos futuros, seria a maneira mais segura de matá-lo, mas com nossos olhos de carne, com nossos olhos que a terra há de comer. Não desejamos ganhar nosso processo em apelação e não temos nada para fazer com uma reabilitação póstuma: é aqui mesmo e em nossa vida que os processos são ganhos ou perdidos.
Não sonhamos, entretanto, em instaurar um relativismo literário. Temos pouco gosto pela história pura. Aliás, existe história pura além dos manuais de Seignobos? Cada época descobre um aspecto da condição humana, a cada época o homem se escolhe em face de outrem, do amor, da morte, do mundo; e quando os partidos se enfrentam sobre o desarmamento das F.F.I. ou da ajuda a ser fornecida aos republicanos espanhóis, é esta escolha metafísica, este projeto singular e absoluto que está em jogo. Assim, ao tomar partido da singularidade da nossa época, atingimos finalmente o eterno e é nossa tarefa de escritor fazer entrever os valores da eternidade que estão implicados nesses debates sociais ou políticos. Mas não nos preocupamos em ir buscá-los em um céu inteligível: eles só apresentam interesse em seu invólucro atual.
Longe de sermos relativistas, afirmamos em alto e bom som que o homem é um absoluto. Mas ele o é em sua hora, no seu meio, na sua terra. O que é absoluto, o que mil anos de história não podem destruir, é que esta decisão insubstituível, incomparável, que ele toma neste momento a propósito destas circunstâncias; o absoluto é Descartes, o homem que nos escapa porque está morto, que viveu em sua época, que a pensou no dia-a-dia com os meios que tinha, que formou sua doutrina a partir de certo estado das ciências, que conheceu Gassendi, Caterus e Mersenne, que em sua infância amou uma moça suspeita, que guerreou, que engravidou uma criada, que atacou não apenas o princípio da autoridade em geral, mas precisamente a autoridade de Aristóteles, e que se postou em sua época, desarmado mas não vencido, como um marco; o que é relativo é o cartesianismo, essa filosofia portátil que passeia de século em século e na qual cada um encontra o que quer. Não é correndo atrás da imortalidade que nos tornaremos imortais: não seremos absolutos por ter refletido em nossas obras alguns princípios desencarnados, suficientemente vazios e nulos para passar de um século a outro, mas porque combatemos com paixão em nossa época, por que teremos gostado dela apaixonadamente e porque teremos aceitado perecer inteiros com ela.
Em resumo, nossa intenção é de propiciar a produção de certas mudanças na sociedade que nos envolve. Não queremos dizer com isso uma mudança nas almas: deixamos a direção das almas aos autores que têm uma clientela especializada. Para nós que, sem sermos materialistas, nunca distinguimos a alma do corpo e que só conhecemos uma realidade indecomponível: a realidade humana colocamo-nos ao lado daqueles que querem mudar ao mesmo tempo a condição social do homem e a concepção que ele tem de si mesmo. Nossa revista também tomará posição, em cada caso, sobre os acontecimentos políticos e sociais que virão. Ela não o fará politicamente, isto é, não servirá a nenhum partido; mas se esforçará para depreender a concepção de homem de que se inspirarão as teses presentes e dará seu parecer conforme sua própria concepção. Se pudermos manter o que prometemos, se pudermos compartilhar nossas visões com alguns leitores, não conceberemos um orgulho exagerado; nós nos felicitaremos simplesmente por ter achado uma boa consciência profissional e que, pelo menos para nós, a literatura tenha voltado a ser o que ela nunca devia ter deixado de ser: uma função social.
E qual é (perguntarão) essa concepção de homem que pretendem descobrir para nós? Responderemos que ela está nas ruas e que não pretendemos descobri-la, mas simplesmente ajudar a torná-la mais precisa. Esta concepção, eu a denominarei, totalitária. Mas como a palavra pode parecer infeliz, já que nos últimos anos não serviu para designar a pessoa humana, mas um tipo de Estado opressivo e antidemocrático convém dar algumas explicações.
A classe burguesa, me parece, pode ser definida intelectualmente pelo uso que faz do espírito analítico, cujo postulado inicial consiste em que os componentes devem necessariamente se reduzir a um arranjo de elementos simples. Em suas mãos, esse postulado constitui-se numa arma ofensiva que lhe serviu para desmantelar os bastiões do Antigo Regime. Tudo foi analisado: reduziu-se num mesmo movimento o ar e a água a seus elementos, a mente à soma das impressões que a compõem, a sociedade à soma dos indivíduos que a fazem. Os conjuntos se apagaram: eram apenas somas abstratas ao acaso das combinações. A realidade se refugiou nos termos finais da decomposição. Estes, efetivamente – é o segundo postulado da análise – guardam inalteradas suas propriedades essenciais, quer pertençam a um composto, quer existam um estado livre. Existiu uma natureza imutável do oxigênio, do hidrogênio, do azoto, das impressões elementares que compõem nossa mente, existiu uma natureza imutável do homem.
O homem era o homem como o círculo era o círculo: de uma vez por todas; o indivíduo quer tenha sido transportado para o trono, quer tenha mergulhado na miséria, permanecia profundamente igual a si próprio, pois era concebido sobre o modelo do átomo de oxigênio, que pode se combinar com o hidrogênio para fazer a água, com o azoto para fazer o ar, sem que sua estrutura interna seja mudada. Esses princípios presidiram a Declaração dos Direitos Humanos. Na sociedade que concebe o espírito analítico, o indivíduo, partícula sólida e indecomponível, veículo da natureza humana, reside como uma ervilha numa lata de ervilhas; redondo, fechado em si mesmo, incomunicável. Todos os homens são iguais: é preciso entender que todos participam da essência do homem.
Todos os homens são irmãos: a fraternidade é uma ligação passiva entre moléculas distintas, que ocupa o lugar de uma solidariedade de ação ou de classe que o espírito analítico sequer pode conceber. É uma relação somente exterior e puramente sentimental que mascara a simples justaposição dos indivíduos na sociedade analítica. Todos os homens são livres: livres de serem homens, nem é preciso dizer. Isso significa que a ação do político deve ter toda negativa: não deve tratar da natureza humana; é necessário excluir os obstáculos que poderiam impedir-lhe de desenvolver. Assim, desejosa de destruir o direito divino, o direito do nascimento e do sangue, o direito do primogênito, todos esses direitos que se fundavam sobre a ideia de que há diferenças naturais entre os homens, a burguesia confundiu sua causa com o universal. Ao contrário dos revolucionários contemporâneos, ela só pôde realizar suas reivindicações ao abdicar de sua consciência de classe: os membros do Terceiro Estado na Constituinte eram burgueses porque se consideravam simplesmente como homens.
Após cento e cinquenta anos, o espírito analítico continua sendo a doutrina oficial da democracia burguesa, mas tornou-se uma arma defensiva. A burguesia tem todo interesse em se omitir a respeito das classes como outrora sobre a realidade sintética do Antigo Regime. Ela insiste em ver apenas homens, em proclamar a identidade da natureza humana através de todas as variedades de situação: mas é contra o proletariado que ela proclama isso. Um operário, para ela, é antes de mais nada um homem – um homem como os outros. Se a Constituição concede a este homem o direito de voto e a liberdade de opinião, ele manifesta sua natureza humana como burguês. Uma literatura polêmica muitas vezes representou o burguês como um calculista e desgostoso cuja única preocupação é defender seus privilégios.
De fato, alguém se constitui de burguês ao escolher, de uma vez por todas, certa visão de mundo analítica que tenta impor a todos os homens e que exclui a percepção das realidades coletivas. Assim, a defesa burguesa é, em certo sentido, permanente e se confunde com a própria burguesia; mas ela não se manifesta por cálculos; no interior do mundo que ela construiu para si, há lugar para as virtudes de desprendimento, altruísmo e mesmo de generosidade; apenas as boas ações burguesas são atos individuais que se dirigem à natureza humana universal, personificada no indivíduo. Neste sentido, elas têm tanta eficácia quanto uma boa propaganda, pois o titular das boas ações é coagido a recebê-las como elas lhe são propostas, isto é, como uma criatura humana isolada diante de outra. A caridade burguesa entretém o mito da fraternidade.
Mas há outra propaganda que nos interessa mais particularmente aqui, uma vez que somos escritores e que os escritores são seus agentes inconscientes. Essa lenda da irresponsabilidade do poeta, que denunciávamos há pouco, tem sua origem no espírito analítico. Uma vez que os autores burgueses se consideram a si próprios como ervilhas numa lata, a solidariedade que os une aos outros homens lhes parece estritamente mecânica, isto é, simples justaposição. Mesmo que tenham um sentido elevado de sua missão literária, pensam ter feito o bastante ao descrever sua própria natureza e a de seus amigos: já que todos os homens não são do mesmo jeito, eles servem a todos iluminando a si próprios. E como o postulado do qual partem é o da análise parece-lhes simples utilizar o método analítico para se conhecerem a si próprio.
Tal é a origem da psicologia intelectualista da qual as obras de Proust nos oferecem o exemplo mais complexo. Pederasta, Proust acreditou poder valer-se de sua experiência homossexual quando quis descrever o amor de Swann por Odette; burguês, ele apresenta o sentimento de um burguês rico e ocioso por uma mulher que ele mantém como o protótipo do amor; acredita na existência das paixões universais cujo mecanismo não variaria sensivelmente quando se modificasse o caráter sexual, a condição social, a nação ou a época dos indivíduos que as sentem. Após ter “isolado” assim esses afetos imutáveis, ele poderá começar a reduzi-los, por sua vez, em partículas elementares. Fiel aos postulados do espírito analítico, ele sequer imagina que possa haver uma dialética dos sentimentos, mas somente um mecanismo. Assim, o atomismo social, posição de recuo da burguesia contemporânea, acarreta o atomismo psicológico. Proust escolheu-se burguês e tornou-se cúmplice da propaganda burguesa, já que sua obra contribui para irradiação do mito da natureza humana.
Estamos persuadidos de que o espírito analítico sobreviveu e que seu único ofício hoje é o de turvar a consciência revolucionária e isolar os homens em proveito das classes privilegiadas. Não acreditamos mais na psicologia intelectualista de Proust e a consideramos nefasta. Uma vez que escolhemos como exemplo sua análise do amor-paixão, esclarecemos sem dúvida o leitor ao mencionar os pontos essenciais sobre os quais recusamos qualquer entendimento com ele.
Em primeiro lugar, não aceitamos a priori a ideia de que o amor-paixão seja um afeto constitutivo da natureza humana. Poderia ser como sugeriu Denis de Rougemont, que houvesse uma origem histórica em correlação com a ideologia cristã. De uma maneira geral, estimamos que um sentimento é sempre a expressão de certo modo de vida e de certa concepção de mundo que são comuns a toda uma classe ou a toda uma época, e que sua evolução não é o efeito de sabe-se lá qual mecanismo interior, mas desses fatores históricos e sociais.
Em segundo lugar, não podemos admitir que um afeto seja composto de elementos moleculares que se justapõem sem se modificar uns aos outros. Nós o consideramos não como uma máquina bem acertada, mas como uma forma organizada. Não concebemos a possibilidade de fazer a análise do amor porque o desenvolvimento desse sentimento, como o de todos os outros, é dialético.
Em terceiro, recusamo-nos a acreditar que o amor de um homossexual apresente as mesmas características que o de um heterossexual. A característica secreta, proibida de primeiro, seu aspecto de missa negra, a existência de uma maçonaria homossexual, e essa maldição na qual ele tem consciência de arrastar consigo seu parceiro: tantos fatos que nos parecem influenciar o sentimento inteiro e mesmo os detalhes de sua evolução. Afirmamos que os diversos sentimentos de uma pessoa não são justaposições, mas que há uma unidade sintética da afetividade e que cada indivíduo se move num mundo efetivo que lhe é próprio.
Em quarto: negamos que a origem, a classe, a nação do indivíduo, sejam simples concomitantes de sua vida sentimental. Estimamos ao contrário que cada afeto, com toda outra forma de sua vida psíquica, manifesta sua situação social. Esse operário que recebe um salário, que não tem os instrumentos de seu ofício, isolado pelo seu trabalho diante da matéria e que se defende da opressão tomando consciência de sua classe, não poderia em nenhuma circunstância sentir como esse burguês, de espírito analítico, cuja profissão o coloca em relação de polidez com outros burgueses.
Assim, contra o espírito analítico, recorremos a uma concepção sintética da realidade cujo princípio é que um todo, qualquer que seja, é diferente por natureza da soma de suas partes. Para nós, o que os homens têm em comum não é uma natureza, é uma condição metafísica: entendemos assim o conjunto de restrições que os limitam a priori, a necessidade de nascer e de morrer, a de ser finito e de existir no mundo em meio a outros homens. Para o resto, eles constituem totalidades indecomponíveis, cujas ideias, humores e atos são estruturas secundárias e dependentes, e cuja característica é a de estarem situadas e eles diferem entre si como suas situações diferem entre elas. A unidade desses todos significantes é o sentido que eles manifestam.
Quer escreva, quer trabalhe na linha de produção, quer escolha uma mulher ou uma gravata, o homem manifesta sempre: ele manifesta seu meio profissional, sua família, sua classe e, finalmente, como está situado em relação ao mundo inteiro, é o mundo inteiro que ele manifesta. Um homem é toda a terra. Está presente em todos os lugares, age em todos eles, é responsável por tudo. É em todos os lugares, Paris, Postdam, Vladivostok, que seu destino está em jogo. Aderimos a esta visão porque elas nos parecem verdadeiras, porque nos parecem socialmente úteis no momento presente, e porque a maior parte das pessoas nos parecem pressenti-las e reivindicá-las. Nossa revista gostaria de contribuir, por sua modesta parte, para a constituição de uma antropologia sintética. Mas não se trata somente, repitamos, de preparar um progresso no domínio do conhecimento puro: a meta longínqua a que visamos é uma libertação. Já que o homem é uma totalidade, não basta apenas dar-lhe o direito de voto, sem tocar nos outros fatores que o constituem: é necessário que ele se liberte totalmente, isto é, que se faça outro, agindo tanto sobre sua constituição biológica quanto sobre seu condicionamento econômico, sobre seus complexos sexuais e sobre os dados políticos de sua situação.
Entretanto, esta visão sintética apresenta um grave risco: se o indivíduo é uma seleção arbitrária operada pelo espírito analítico, não nos arriscaríamos de substituir, ao renunciar às concepções, o reino da consciência coletiva pelo reino da pessoa? Não se faz parte do espírito sintético: o homem-totalidade, entrevisto a custo, vai desaparecer, tragado pela classe; somente a classe existe, e é apenas a ela que é necessário libertar. Mas, dirão, ao livrar a classe, não se liberta os homens que ela contém? Não necessariamente: o triunfo da Alemanha hitlerista terá sido o triunfo de cada alemão? Além do mais, onde termina a síntese? Amanhã, virão nos dizer que a classe é uma estrutura secundária, dependente de um conjunto mais vasto do que será, por exemplo, a nação.
A grande solução que o nazismo exerceu sobre certas mentes da esquerda vem, sem nenhuma dúvida, do fato de ter levado a concepção autoritária ao absoluto: seus teóricos também denunciavam os malefícios da análise, o caráter abstrato das liberdades democráticas, sua propaganda também prometia forjar um homem novo, ela conservava as palavras Revolução e Libertação: mas no lugar do proletariado de classe colocava-se o proletariado das nações. Reduziam-se os indivíduos apenas a funções dependentes da classe, as classes apenas a funções da nação, as nações apenas a funções do continente europeu. Se, nos países ocupados, a classe trabalhadora levantou-se inteiramente contra o invasor, é sem dúvida porque ela se sentia ferida em suas aspirações revolucionárias, mas ela também tinha uma repugnância invencível contra a dissolução da pessoa na coletividade.
Assim, a consciência contemporânea parece despedaçada por uma antinomia. Os que prezam acima de tudo a dignidade da pessoa humana, sua liberdade, seus direitos imprescritíveis, tendem, por isso mesmo, a pensar segundo o espírito analítico que concebe os indivíduos fora de suas condições reais de existência, que os dota de uma natureza imutável e abstrata, que os isola e fecha os olhos sobre sua solidariedade. Aqueles que compreenderam que o homem é enraizado na coletividade e que querem afirmar a importância dos fatores econômicos, técnicos e históricos, se atiram sobre o espírito sintético que, não enxergando as pessoas, só tem olhos para os grupos. Essa antinomia pode ser demonstrada, por exemplo, na crença de que o socialismo se encontra no extremo oposto da liberdade individual.
Assim, aqueles que prezam a autonomia da pessoa estariam encurralados num liberalismo capitalista cujas consequências nefastas conhecemos; os que reivindicam uma organização socialista deveriam reclamá-la a sabe-se lá qual autoritarismo totalitário. O desconforto atual provém do fato de que ninguém pode aceitar as consequências extremas desses princípios: há um componente “sintético” nos democratas de boa vontade; há um componente analítico nos socialistas. Basta lembrar, por exemplo, o que foi na França o partido radical. Um de seus teóricos publicou uma obra que se intitulava: “O cidadão contra os poderes”. Este título indica bem como ele concebia a política: tudo funcionaria melhor se o cidadão isolado, representante molecular da natureza humana, controlasse seus representantes eleitos e, caso necessário, exercesse contra eles seu livre julgamento.
Mas, precisamente, os radicais não puderam deixar de reconhecer seu fracasso; esse grande partido não tinha mais, em 1939, nem vontade, nem programa, nem ideologia; ele se afundou no oportunismo: quis resolver politicamente problemas que não admitiam soluções políticas. As melhores cabeças se mostravam atônitas: se o homem é um animal político, como pode acontecer que, ao lhe ser dada a liberdade política, seu destino não tenha sido acertado de uma vez por todas? Por que o jogo aberto das instituições parlamentares não conseguiu suprimir a miséria, o desemprego e a opressão dos trustes? Como pode acontecer que encontremos a luta de classes acima das oposições fraternais entre os partidos? Não foi necessário ir muito longe para entrever os limites do espírito analítico. O fato de que o radicalismo buscasse constantemente a aliança dos partidos de esquerda mostra claramente a via através da qual se encaminhavam suas simpatias e suas aspirações desordenadas, mas faltava-lhe a técnica intelectual que lhe teria permitido não só resolver, mas até mesmo formular os problemas que ele pressentia confusamente.
No outro campo, as dificuldades não são menores. A classe operária se fez herdeira das tradições democráticas. É em nome da democracia que ela reivindica sua alforria. Ora, como vimos, o ideal democrático se apresenta historicamente sob a forma de um contrato social entre indivíduos livres. Assim, as reivindicações analíticas de Rousseau interferem frequentemente nas consciências com as reivindicações sintéticas do marxismo. Aliás, a formação técnica do operário desenvolve nele o espírito analítico. Semelhante ao cientista, é pela análise que ele deve resolver os problemas da matéria. Se ele volta para as pessoas, tendo a, para compreendê-las, fazer uso dos raciocínios que lhe servem em seu trabalho, ele aplica assim às condutas humanas uma psicologia de análise semelhante àquela do século XVII francês.
A existência simultânea desses dois tipos de explicação revela certa hesitação; esse perpétuo recurso ao “como se” mostra bem que o marxismo não dispõe ainda de uma psicologia de síntese apropriada à sua concepção totalitária de classe.
No que nos diz respeito, nós nos recusamos a ficar divididos entre a tese e a antítese. Concebemos sem dificuldade que um homem, ainda que sua situação o condicione totalmente, possa ser um centro de indeterminação irredutível. Esse setor de imprevisibilidade que se destaca no campo social é o que denominamos liberdade, e a pessoa não é nada além do que sua liberdade. Essa liberdade não deve ser confundida como um poder metafísico da “natureza” humana, nem é permissão para se fazer o que se quiser, ou tampouco algum refúgio interior que nos restaria até mesmo sob amarras. Não fazemos o que queremos e, no entanto, somos responsáveis por aquilo que somos: eis o fato; o homem que se explica simultaneamente por tantas causas é apesar disso o único a suportar o peso de si mesmo.
Nesse sentido, a liberdade poderia passar por maldição, ela é uma maldição. Mas é também a única fonte de grandeza humana. Os marxistas estarão de acordo conosco, pois eles não se privam que eu saiba, de apresentar condenações morais. Falta explicá-la: mas isso é problema dos filósofos, não nosso. Notaremos somente que se a sociedade faz a pessoa, a pessoa, por uma reviravolta análoga àquela que Augusto Comte denominava passagem para a subjetividade, faz a sociedade. Sem seu futuro, uma sociedade não passa de um amontoado de material, mas seu futuro não é nada mais do que o projeto que de si próprio fazem, além do estado de coisas presente, os milhões de homens que a compõem.
O homem é apenas uma situação: um operário não é livre de pensar ou de sentir como um burguês; mas para que essa situação seja um homem, um homem completo, é necessário que ela seja vivida e superada por meio de um objetivo especifico. Ela permanece em si mesma, indiferente já que a liberdade humana não a dota de sentido: ela não é nem tolerável nem insuportável já que a liberdade não se resigna, nem se rebela contra ela, tanto que um homem não se escolhe nela, ao escolher sua significação. E é só então, no interior dessa livre escolha, que ela se faz determinante porque ela é sobredeterminada. Não, um operário não pode viver como burguês; é necessário, na organização social de hoje, que ele suporte até o fim sua condição de assalariado; nenhuma evasão é possível, não há recurso contra isso. Mas um homem não existe da mesma maneira que uma árvore ou uma pedra: é preciso que ele se faça operário.
Totalmente condicionado por sua classe, seu salário, a natureza de seu trabalho, condicionado até mesmo em seus sentimentos, até em seus pensamentos, é ele que decide o sentido de sua condição e da de seus camaradas, é ele que, livremente, dá ao proletariado um futuro de humilhação sem trégua ou de conquista e de vitória, segundo ele escolha ser resignado ou revolucionário. E é por essa escolha que ele é responsável. Não é livre para não escolher: ele está engajado, é preciso apostar, a abstenção é uma escolha. Mas livre para escolher num mesmo movimento, seu destino, o destino de todos os homens e o valor que é preciso atribuir à humanidade. Assim, ele se escolhe ao mesmo tempo operário e homem, atribuindo uma significação ao proletariado. Tal é o homem que nós concebemos: homem total. Totalmente engajado e totalmente livre. É, entretanto esse homem livre que é necessário libertar, alargando suas possibilidades de escolha. Em certas situações, só há lugar para uma alternativa cujo um dos termos é a morte. É preciso fazer de tal sorte que o homem possa, em qualquer circunstância, escolher a vida.
Nossa revista se dedicará a defender a autonomia e os direitos da pessoa. Nós a consideramos antes de tudo como um órgão de pesquisa: as ideias que acabo de expor nos servirão de tema diretor no estudo dos problemas concretos da atualidade. Nós todos abordamos o estudo desses problemas num espírito comum; mas não temos programa político ou social; cada artigo expressará somente a opinião de seu autor. Desejamos apenas fazer sobressair, em longo prazo, uma linha geral. Ao mesmo tempo, recorremos a todos os gêneros literários para familiarizar o leitor com nossas concepções: um poema, um romance de imaginação, se for inspirado nelas, poderão, mais que um escrito teórico, criar o clima favorável a seu desenvolvimento.
Mas este conteúdo ideológico e suas novas intenções correm o risco de reagir sobre a própria forma e os procedimentos das produções romanescas: nossos ensaios críticos tentarão definir em suas grandes linhas as técnicas literárias – novas ou antigas – que melhor se adaptarão aos nossos propósitos. Nós nos esforçaremos em apoiar o exame das questões atuais, publicando tão frequentemente quanto pudermos em estudos históricos que, como os trabalhos de Marc Bloch ou de Henri Pirenne sobre a Idade Média, apliquem espontaneamente esses princípios e o método que deles resulta aos séculos passados, isto é quando renunciarem à divisão arbitrária da história em histórias (política, econômica, ideológica, história das instituições, história dos indivíduos) para tentar restituir uma época desaparecida como uma totalidade e que considerarão ao mesmo tempo em que a época se expressa nas e pelas pessoas e que as pessoas se escolhem na e pela sua época.
Nossas crônicas tentarão considerar nosso próprio tempo como uma síntese significante e para tanto vislumbrarão num espírito sintético as diversas manifestações da atualidade, os modos e os processos criminais assim como os fatos políticos e as obras do espírito, buscando antes descobrir os sentidos comuns do que analisá-las individualmente. Por essa razão, ao contrário do costumeiro, não hesitaremos em ficar em silêncio sobre um livro excelente, mas que, do ponto de vista em que nos colocamos, não acrescenta nada de novo sobre nossa época, enquanto que nos debruçaremos sobre um livro medíocre que nos parecerá, em sua própria mediocridade, revelador.
A esses estudos acrescentaremos todos os meses documentos brutos que escolheremos tão variados quanto possível com a única exigência de que demonstrem com clareza a implicação recíproca do coletivo e da pessoa. Reforçaremos esses documentos por pesquisas e reportagens. Parece-nos, efetivamente, que a reportagem faz parte dos gêneros literários e que pode se tornar um dos mais importantes. A capacidade de perceber intuitiva e instantaneamente as significações, a habilidade de agrupá-las para oferecer ao leitor conjuntos sintéticos imediatamente decifráveis são as qualidades mais necessárias ao repórter; são aquelas que pedimos a todos os nossos colaboradores.
Sabemos que entre as raras obras de nossas épocas que deverão durar, encontram-se várias reportagens como Os dez dias que abalaram o mundo e, sobretudo o admirável Testamento espanhol. Enfim, em nossas crônicas daremos lugar aos estudos psiquiátricos desde que sejam escritas na perspectiva que nos interessa. Vê-se que nosso projeto é ambicioso: não poderemos levá-lo a cabo sozinho. Somos uma pequena equipe no início, teremos fracassado se, em um ano, ela não tiver crescido consideravelmente.
Conclamamos as pessoas bem-intencionadas; todos os manuscritos serão aceitos, de onde quer que venham desde que se inspire em preocupações que se juntem às nossas e que apresentem, além disso, um valor literário. Relembro, com efeito, que na “literatura engajada” o engajamento não deve, em nenhum caso, fazer esquecer a literatura e que nossa preocupação deve ser a de servir à literatura, infundindo-lhe um sangue novo, assim como servir à coletividade tentando dar-lhe a literatura que lhe convém.
*Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo, ensaísta e escritor, é autor, entre outros livros, de O ser e o nada (Vozes).
Tradução: Oto Araújo Vale.