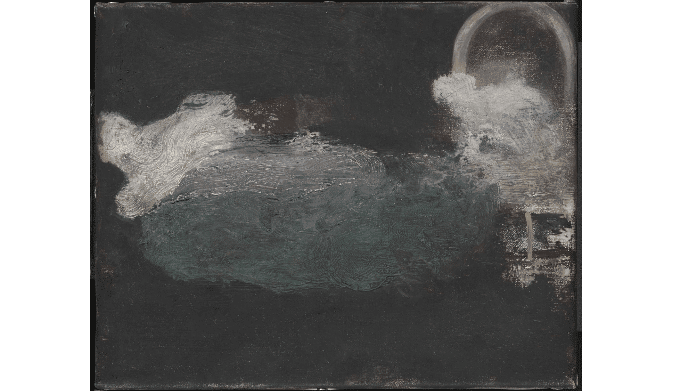Por JOÃO QUARTIM DE MORAES*
O processo que levou da ditadura militar à atual hegemonia do pensamento liberal na política e na cultura
Entender o presente como história significa entendê-lo como prolongamento do passado. Na sequência de artigos que estamos iniciando, desenvolveremos a análise concreta dos principais episódios que marcaram o rumo da impropriamente chamada “transição democrática”, isto é, o processo que levou da ditadura militar à atual hegemonia do pensamento liberal na política e na cultura.
A despeito das lutas persistentes, muitas delas grandiosas, algumas heroicas, travadas pela resistência popular ao regime ditatorial implantado pelo golpe reacionário de 1964, foram as ideias e, sobretudo, os interesses da direita liberal que prevaleceram na reformulação das instituições políticas brasileiras anunciada pelo general Ernesto Geisel ao assumir em 15 de março de 1974 o mandato de presidente da ditadura militar.
Todo plano estratégico se caracteriza por seus objetivos e pelos meios a serem empregados para atingi-los. Elaborado por Ernesto Geisel e por seu conselheiro político, o general Golbery do Couto e Silva, o projeto de “normalização” institucional pretendia promover a reconversão liberal do regime através de uma “distensão” política “gradual e controlada”. Tratava-se, pois de uma política de abertura, não de uma abertura política, a qual só se delinearia, aos trancos e barrancos, na década seguinte.
Naquele momento quase nada se sabia da vasta operação militar que o Exército, com apoio da Aeronáutica, desfechara em 1972 para aniquilar o movimento guerrilheiro do Partido Comunista do Brasil na região do Araguaia, a mais consistente contestação revolucionária que a ditadura militar tinha enfrentado. Rígida censura aos meios de comunicação isolou do resto do país a região dos combates. Esmagadora superioridade numérica e de material bélico, bombardeios com napalm, tortura e execução sumária dos prisioneiros, asseguraram o êxito das operações de cerco e aniquilamento desfechadas pelo Exército, que se prolongaram até 1974.
A credibilidade da abertura anunciada por Ernesto Geisel ao tomar posse exigia manter completamente fechadas as informações sobre o que estava ocorrendo na região conflagrada. A mordaça funcionou, mas a distensão anunciada pela retórica oficial não durou muito. As eleições legislativas marcadas para 15 de novembro de 1974 anunciavam-se difíceis para o regime. O MDB, partido da oposição tolerada, tinha adquirido certa credibilidade como veículo de expressão das aspirações de liberdade difundidas amplamente através do país, mas o sucesso que ele obteve ultrapassou suas expectativas mais otimistas.
No Senado, onde o voto pode assumir caráter mais plebiscitário, ele elegeu seu candidato em 16 Estados, em um total de 22. Na Câmara Federal ele passou de 87 a 160 deputados, em um total de 364. Nos Estados mais urbanizados, a vitória da oposição foi particularmente expressiva pelo contraste com os resultados de 1970. No Estado de São Paulo, notadamente, o MDB passou de 902 713 votos em 1970 a 3 413 478 em 1974, ao passo que a ARENA recuou de 2 627 422 a 2 028 581.
Ao frisar que o ritmo da “distensão” política deveria ser “gradual e controlado”, Ernesto Geisel estava pensando no controle da oposição democrática. Mesmo fragorosamente derrotado nas urnas, ele não perdeu o rumo. Não lhe escapava que a despeito do custo político, a derrota eleitoral trazia um efeito de legitimação para o regime, por ter garantido à oposição um mínimo de liberdade de reunião e de expressão.
Ele sabia, porém que seu projeto estava longe de ser aceito por todos os oficiais das forças armadas. O avanço eleitoral do MDB em novembro de 1974 assustou muitos deles e exacerbou os maus instintos dos esbirros e beleguins que faziam parte daquilo que o jornalismo bajulador chamava “comunidade de segurança”.
Não era segredo que havia militantes e simpatizantes do PCB atuando no MDB. Tendo condenado como “equivocadas” as ações armadas da resistência clandestina, eles se atinham estritamente aos métodos não violentos de luta política. Nem por isso se livraram da sanha dos torturadores. Aniquilados, uns depois dos outros, os movimentos de luta armada, os farejadores dos serviços de repressão política concentraram-se no rastreamento dos comunistas “infiltrados” no MDB.
Logo após a posse de Ernesto Geisel, bem antes, portanto, das eleições legislativas, desencadeou-se uma ofensiva policial-militar visando a prender, torturar e assassinar os dirigentes mais conhecidos do PCB, um partido, vale insistir, que se abstivera de recorrer à luta armada contra o regime ditatorial. Muitos desses crimes hediondos foram cometidos antes da derrota sofrida pela ditadura em novembro de 1974, o que comprovaria, se preciso fosse, que a nova operação de extermínio havia sido ativada independentemente de considerações eleitorais.
Quatro generais da cúpula do Exército se destacaram na promoção dessa nova escalada do terrorismo de Estado: os comandantes do II (SP) e do III Exército (RGS), respectivamente Ednardo D’Avila Melo e Oscar Luiz da Silva; o chefe do Estado-Maior do Exército, Fritz Manso e o ministro do Exército, Silvio Frota. Os assassinatos seletivos promovidos por esse quarteto sanguinário prosseguiam. O Brasil já era conhecido, pelo menos desde o início da década, como um país onde os presos políticos eram sistematicamente torturados. Mas à sombra do Ato Institucional nº5, de 13 de dezembro de 1968, a censura bloqueava toda e qualquer referência às atrocidades nos porões do DOI-CODI e de outras “casas da morte”.
Até que, em 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, convocado pelo DOI-CODI de São Paulo para explicar suas possíveis ligações com o PCB, foi submetido a um “interrogatório” com porretadas de madeira espessa e descargas elétricas que só terminou com sua morte. Mas desta vez o assassinato não ficou circunscrito à cena do crime. A convocação de Vladimir Herzog pelos militares, bem como a de seus colegas de trabalho, era pública e notória. Não era possível fazê-lo “desaparecer”, como era costume dos torturadores e assassinos do aparelho de repressão montado pela ditadura.
No dia 31 de outubro de 1975, um silencioso “ato ecumênico” convocado pelo cardeal Paulo Evaristo Arns na Catedral da Sé, ao qual se associaram chefes religiosos protestantes e judeus, reuniu cerca de 8.000 participantes, que não se deixaram intimidar pela presença ostensiva de tropas do Exército ocupando as principais rotas de acesso ao centro e por centenas de policiais postados na praça da Sé. O impacto moral e político dessa manifestação ecumênica foi profundo e durável.
Porta-vozes do regime emitiram, no mesmo dia, um comunicado sobre o “lamentável episódio”, avisando que não permitiriam que ele fosse usado para perturbar a ordem, conclamando a “desarmar os espíritos” e prometendo “impedir que ocorram novos incidentes dessa natureza”. Essa fraseologia juntava hipócritas condolências, ameaças explícitas e um recado ao quarteto sanguinário cuja interpretação mais plausível era evitar torturas e assassinatos suscetíveis de provocar escândalos públicos.
O que importava — antes de mais nada — para Ernesto Geisel era a preservação de sua autoridade no comando supremo das Forças Armadas e do poder político e no controle dos “serviços especiais” do terrorismo de Estado, ao longo das turbulências e contradições da “normalização”.
*João Quartim de Moraes é professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de A esquerda militar no Brasil (Expressão Popular) [https://amzn.to/3snSrKg].
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA