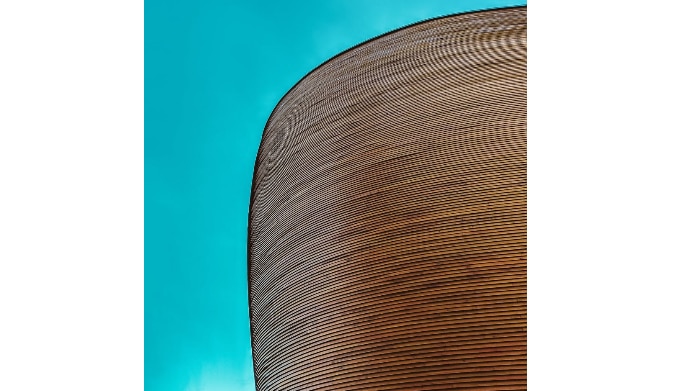Por MARIA RITA KEHL*
Prefácio do livro homônimo, relatos de mulheres em busca de justiça por familiares mortos pela ditadura
A dinâmica da vida social exige que as práticas de linguagem se renovem continuamente. Novas invenções, novos estilos artísticos, novas práticas sociais exigem novas nomeações. Algumas nascem como gírias e se incorporam ao repertório cotidiano. Outras nascem eruditas, mas o povo se apropria delas e exige que saiam do panteão. No entanto, alguns fenômenos existentes no mundo são impronunciáveis. Talvez pelo horror que evocam, permanecem num estado de exceção em que não podem ser nomeados.
Esse é o caso de mães e pais que perdem seus filhos. Qual o nome disso? Quem perde os pais é órfão ou órfã. Quem perde o cônjuge é viúvo ou viúva. Mas a perda de um filho não se chama nada. É algo que não deveria acontecer. Evoca uma dor única, impossível de se transmitir com precisão a quem nunca a sentiu. A perda de um filho ou uma filha desafia a ordem natural – muito anterior à ordem social – da vida.
Que dizer, então, das mães de filhos assassinados? “Mães de Maio” é como se autodenomina o grupo de mulheres cujos filhos foram executados em uma ação policial em São Paulo e Santos em 2006. São “Mães de Maio” desde então, e continuarão sendo até morrer, a indicar a impossibilidade de se encerrar um luto como esse.
Assim aconteceu com dona Elzita Santa Cruz, mãe do militante político Fernando Santa Cruz, desaparecido em fevereiro de 1974 aos 26 anos. Durante quatro décadas, dona Elzita nunca usou luto, porque esperou pela volta do filho. Trocou o luto pela luta: politizou-se. Dos agentes da repressão, dizia que “eram monstros que matavam jovens idealistas”. Quando a filha, Rosalina, também foi presa, dona Elzita não a aconselhou a delatar os companheiros para amenizar a fúria dos torturadores: “Quer que eu diga para minha filha ser dedo-duro?”. Perto da morte, aos 105 anos, ainda insistia em pelo menos saber as circunstâncias do desaparecimento de Fernando. A Comissão Nacional da Verdade não conseguiu apurar todas as circunstâncias, mas reconheceu que o Estado brasileiro cometeu crimes de lesa-humanidade, como a tortura e o desaparecimento de corpos. Dona Elzita, entretanto, morreu sem saber o que fizeram com o filho. É preciso, agora, que se faça Justiça.
Fruto de uma experiência de vida radicalmente diferente, a luta de Carolina Rewaptu, da terra indígena Xavante Marãiwatsédé, no Mato Grosso, tem conquistado importantes frutos. Na redemocratização do Brasil, seu povo obteve a demarcação de suas terras, embora em uma área muito menor do que o território original. No período da ditadura a Terra Indígena Marãiwatsédé teve parte de seu território “doada” a apoiadores do regime – às famílias Ometto e Da Riva, por exemplo.
Os Xavante, até então isolados, foram levados à força em aviões da Força Aérea Brasileira para longe de suas terras. “Separaram famílias”, conta Carolina. “Levaram crianças para viver em internatos…”. Vale observar a hipocrisia de setores da elite que marcharam, contra o governo Goulart, “com Deus e pela família” – e não tiveram nenhum pudor em destruir as famílias de seus opositores. As terras demarcadas com muito custo agora estão sob as ameaças do governo Bolsonaro – de volta à velha prática de oferecer território em troca de apoio político. Carolina nasceu em 1960, quando os Xavante de Marãiwatsédé ainda eram isolados. Hoje, ela continua a lutar, como cacica de sua aldeia e líder de uma rede de mulheres coletoras de sementes do Xingu. Replantar para não deixar destruir. Replantar para reflorestar.
Muito longe da aldeia de Carolina, se encontra o bairro de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, onde, em 1979, durante uma greve, a Polícia Militar assassinou o operário Santo Dias e tentou fazer seu corpo desaparecer. Foi a coragem de Ana Dias, viúva de Santo, que impediu que isso acontecesse. Superado o trauma, Ana continuou na luta: “Acharam que iam matar e acabar com a greve. A luta só aumentou”. “Por causa dela, o corpo de nosso pai não desapareceu”, disse o filho de Ana e Santo. “Fui mais teimosa do que tudo”, disse Ana, que, antes de se casar pela segunda vez, impôs uma condição ao noivo: nunca deixaria de lutar.
Mulheres como Ana, Carolina, dona Elzita e tantas outras desmentem a convicção de Freud de que as mulheres seriam incapazes de participar das “grandes obras da cultura”, ficando assim limitadas às tarefas do lar. Perdoemos Freud – assim lhe pareceram as mulheres que ele conheceu, filhas da moral oitocentista que perdurou até o início do século 20. Lacan, um psicanalista contemporâneo da luta das heroínas que se apresentam neste livro, foi bastante crítico ao que considerava a “desmesura” feminina. Seremos nós, mulheres, menos capazes de seguir as regras impostas pela cultura do que nossos companheiros? Ora essa: a coragem das personagens deste livro mostra que a desmesura feminina foi fundamental para enfrentar a brutalidade desmesurada dos governos ilegítimos do período militar. Por que deveriam ter sido mais contidas?
Se tivesse se comportado dentro dos limites impostos pela ordem ditatorial, Clarice Herzog jamais teria conseguido desmascarar a farsa de suicídio que tentaram forjar sobre o seu marido, torturado e assassinado numa cela do DOI-CODI. Ela não recuou diante das ameaças anônimas que recebeu por telefone depois da morte de Vlado. Sua casa era vigiada por policiais. Décadas depois conseguiu, por recomendação da Comissão Nacional da Verdade, retificar a certidão de óbito de Vladimir Herzog. Não mais suicida, e sim vítima da violência do Estado brasileiro, que cometeu contra ele e tantos outros combatentes da ditadura crimes considerados de lesa-humanidade.
Se tivesse agido como mulher submissa, Eunice Paiva teria engolido calada as várias mentiras que os agentes tentaram lhe contar sobre o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva. Quatorze anos depois, no governo de FHC, Eunice conseguiu finalmente a emissão da certidão de óbito. “É uma sensação esquisita, sentir-se aliviada com uma certidão de óbito…”.
Se tivesse o temperamento de uma “recatada e do lar”, Elizabeth, viúva de João Pedro Teixeira (líder da Liga Camponesa de Sapé, assassinado em 1962), teria desmoronado. Perdeu cinco de seus onze filhos – a mais velha, Marluce, suicidou-se aos 18 anos, depois da morte do pai. O filho Abraão foi preso. Elizabeth entregou-se à polícia: quatro meses de prisão. Pedro Paulo, de 11 anos, foi baleado por um jagunço quando disse que um dia vingaria a morte do pai. Felizmente sobreviveu. Elizabeth estava firme quando participou de uma audiência da Comissão Camponesa da Verdade em 2013, em Sapé.
As tristes histórias vividas pelas mães, irmãs e esposas que o leitor ou leitora há de encontrar nas páginas deste livro nos parecem, hoje, mais perto de nós do que durante as primeiras décadas após a anistia. Embora a aprovação da Lei de Anistia no Brasil tenha excluído o julgamento e a punição de torturadores e mandantes – único país a anistiar torturadores e torturados como se os crimes de uns e outros fossem da mesma natureza, as décadas de 1980 a 2010 ainda foram marcadas inicialmente pela esperança. E pelo engajamento de grande parte da sociedade na construção de uma via democrática, de justiça social e diminuição das desigualdades. De alguma forma, as gerações pós-ditadura honraram a memória de quem morreu lutando contra ela
Mas hoje o Brasil coloca-se na via oposta, da negação dos crimes de lesa-humanidade cometidos pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Hoje o Brasil trai a luta e a memória daquelas mulheres que dedicaram a vida a lutar pela democracia e pela redução da desigualdade.
Daí a importância e, infelizmente, a grande atualidade das histórias de vida dessas heroínas da causa democrática.
Maria Rita Kehl, psicanalista, jornalista e escritora, participou, entre 2012 e 2014, da Comissão Nacional da Verdade. É autora, entre outros livros, de Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem para a modernidade (Boitempo).
Referência
Carla Borges e Tatiana Merlino (orgs.). Heroínas desta história – Mulheres em busca de justiça por familiares mortos pela ditadura. Belo Horizonte, Autêntica, 2020.