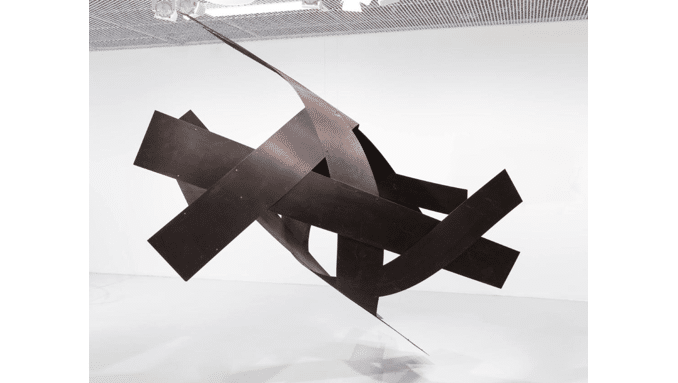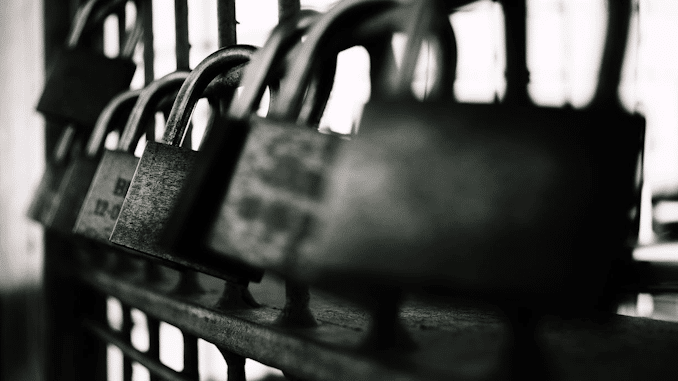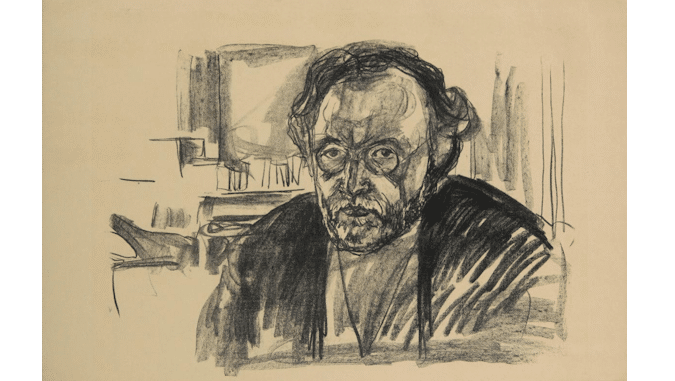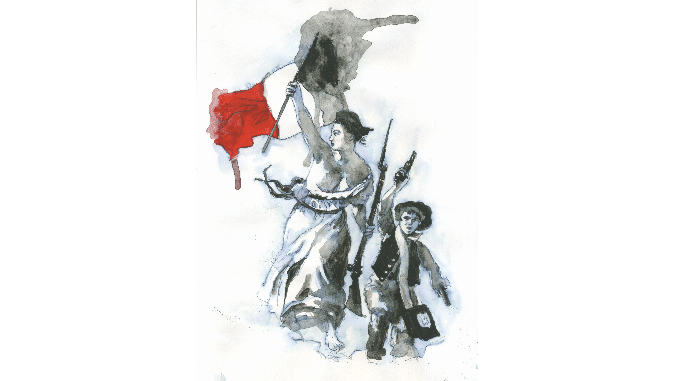Por GILBERTO LOPES*
Guerras sem fim, sem responsáveis pelos crimes cometidos
“O abandono do Afeganistão e de seu povo é trágico, perigoso, desnecessário, não serve para eles nem para nós”, disse o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair (1997-2007), num texto publicado no portal da organização que ele criou e dirige, o Institute for Global Change. Vinte anos depois, o Talibã está de volta, o mesmo grupo que os Estados Unidos expulsaram do poder em 2001, com o apoio da Inglaterra, da qual Blair era então primeiro-ministro.
Tal como ocorreu quando decidiu somar-se à invasão do Iraque em busca de armas de destruição em massa, que ele, o presidente norte-americano George W. Bush e o chefe do governo espanhol, o conservador José María Aznar, afirmavam existir. “Acreditem, há armas de destruição em massa no Iraque!”, dizia Aznar na véspera do ataque a esse país. Em 24 de setembro de 2002, sete meses antes da invasão do Iraque, o governo inglês tinha publicado seu próprio relatório sobre essas armas. Na introdução, Blair declarava que Saddam Hussein continuava produzindo armas de destruição em massa, “muito além de qualquer dúvida”.
Hoje o trabalhista inglês lamenta o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão “numa forma que parece concebida para tornar evidente nossa humilhação”. “O Ocidente perdeu sua visão estratégica; pode aprender com esta experiência; pensar estrategicamente? O longo prazo é um conceito que ainda somos capazes de compreender?
O presidente Joe Biden, em seu agora famoso discurso de segunda-feira, 16 de agosto, reafirmou as razões de sua decisão de retirar-se do Afeganistão. Disse que os objetivos da intervenção tinham sido dois: liquidar Osama bin Laden – o organizador do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque – e impedir que o Afeganistão continuasse sendo uma base de operações para grupos terroristas. “Esses objetivos não incluíam a ideia de reconstruir um Estado”, assegurou. Ele acreditava, portanto, que a missão proposta tinha sido cumprida. Era tempo de trazer seus soldados de volta para casa.
Um slogan político imbecil
Mas Blair tem outra visão. O compromisso era “transformar o Afeganistão de um Estado terrorista falido numa democracia funcional”, escreve ele. Hoje parece que vemos o esforço para impor a democracia a um país “como uma ilusão utópica” e “qualquer intervenção, de qualquer tipo, como uma tolice”.
E depois vêm as palavras mais duras, referindo-se à decisão de Biden de retirar as tropas do Afeganistão: “Não era necessário fazê-lo. Decidimos fazê-lo. Nós o fizemos em obediência a um slogan político imbecil de acabar com as ‘guerras sem fim’”. “Nós o fizemos porque a política parecia exigi-lo, não por razões estratégicas”, diz ele. “A Rússia, a China e o Irã veem isto e vão tirar proveito”. Ele citou o caso da Líbia como exemplo. Uma intervenção que levou ao caos, à guerra civil e a um aumento dos refugiados em busca de asilo na Europa. Lembrou que tinham sido eles que puseram fim ao governo de Muammar al-Gaddafi, mas eram os russos que estavam tomando conta do futuro do país. Agora, com a crise no Afeganistão, todos se perguntam: “Será que esta retirada do Ocidente representa uma mudança de época? Penso que não, mas teremos que mostrá-lo”, responde Blair.
Sua proposta é cercar os talibãs. Enfrentarão decisões difíceis, que os dividirão. Suas finanças, seu setor público, dependem fundamentalmente da ajuda norte-americana, do Japão, do Reino Unido e de outros países do G7. Juntamente com outras nações deveriam criar um grupo de contato para coordenar iniciativas com o povo afegão, vigiar o regime Talibã, criar uma lista de incentivos e sanções. “Que saibam que os estamos vigiando!”
O G7, reunido de forma virtual e com urgência na terça-feira 24 de agosto, convocado pela presidência britânica, aprovou uma resolução advertindo os talibãs de que serão responsáveis por impedir ações terroristas a partir de seu território e pela garantia dos direitos humanos, em particular os das mulheres, meninas e minorias étnicas. A “legitimidade de qualquer governo futuro” dependerá disso, afirmaram em sua declaração.
Numa conferência de imprensa, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que a primeira exigência do G7 foi prolongar, pelo tempo necessário, as garantias para que aqueles que queiram abandonar o país possam fazê-lo. Mas, apesar da pressão europeia, não houve acordo com Washington para estender a presença de tropas norte-americanas em Cabul e assegurar a evacuação dos que querem deixar o país. “Alguns nos dirão que não, mas espero que outros o vejam de forma positiva, porque o G7 tem uma influência econômica, diplomática e política muito considerável” no Afeganistão, incluindo o controle de uma quantidade considerável de fundos afegãos, depositados principalmente nos Estados Unidos.
Blair, uma perigosa arma de destruição em massa
Para Blair, os talibãs fazem parte de um cenário político mais amplo, de uma preocupação estratégica. O que ele chama, “por falta de uma melhor definição”, de uma “ideologia islâmica radical” que, a seu critério, alimenta um vasto processo de desestabilização no Sahel, no norte da África subsaariana.
Embora alguns países islâmicos oponham-se à violência, “todos compartilham das mesmas características ideológicas”, como o Paquistão, que felicitou os talibãs por seu triunfo. O inimigo, para Blair, é o islamismo: o desafio estrutural, a longo prazo, de uma ideologia que ele considera “inconsistente com as sociedades modernas”. “Se assim for, se isso é um desafio estratégico, nunca devemos tomar a decisão de sair do Afeganistão. Durante 70 anos, reconhecemos o comunismo revolucionário como uma ameaça de natureza estratégica e a ninguém ocorreu dizer que deveríamos abandonar essa luta. É isso que devemos decidir sobre o islamismo radical: é uma ameaça estratégica?”
Blair sugere a manutenção de várias formas de intervenção. “Se o Ocidente quer um século XXI na sua medida, de acordo com seus valores e interesses, deverá assumir compromissos”, exigiu Blair, deixando de lado qualquer necessidade de comprovar se seus inimigos têm ou não armas de destruição em massa. “Aprendemos os riscos de intervenções como as do Afeganistão, Iraque ou Líbia. A intervenção requer compromissos que respondam aos nossos objetivos, e não restrições de tempo impostas pela agenda política”.
Fica evidente, assim, que, se há armas de destruição em massa neste mundo, uma das mais perigosas é o próprio Tony Blair! Suas ideias não agradam a todos, nem mesmo na Inglaterra. “Blair condena a retirada do Afeganistão, mas seria melhor que demonstrasse um pouco de remorso”, disse o colunista do The Guardian Simon Jenkins, num artigo publicado em 23 de agosto. “Ele foi um ardente defensor da invasão do Afeganistão por George W. Bush, seguida pela do Iraque. Isso foi imbecil, trágico, perigoso e desnecessário. Foi Blair que impulsionou a relutante OTAN a dar legitimidade a essa aventura presunçosa dos líderes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ele foi um cãozinho de colo que, trotando nos calcanhares dos Estados Unidos, deixou a Grã-Bretanha fora do que, ironicamente, chamou ‘a primeira divisão’” da política mundial.
“Não culpem os afegãos”
“Por que os Estados Unidos, possivelmente a sociedade mais bem sucedida do mundo, desperdiça tanto sangue e recursos em aventuras no estrangeiro – do Camboja e Vietnã ao Afeganistão e Iraque – e fracassa tão espetacularmente?”, pergunta o diplomata e acadêmico de Cingapura Kishore Mahbubani. “Deve haver razões estruturais profundas para isso”, diz ele, que acredita que podem ser explicadas pelos três “c’s”: controle, cultura e compromisso.
Há três anos, Mahbubani publicou seu livro Has the West lost it? Um título ao qual acrescentou: “uma provocação”. Mais recentemente, em março do ano passado, publicou Has China won? The chinese challenge to American primacy. Além dos livros, escreve frequentemente sobre temas da atualidade, confrontando a ideia do Ocidente com a visão asiática do mundo, um conflito que se expressa bem nos títulos desses livros. “Os Estados Unidos foram para o Afeganistão para construir e alimentar a democracia. Mas não poderiam ter agido de forma mais antidemocrática do que assumindo o controle do país durante 20 anos”, diz ele. Incapazes de assumir os valores culturais do país, os norte-americanos consideravam o governo do presidente Ashraf Ghani democrático. “Isso está correto?”, pergunta Mahbubani, lembrando-nos que apenas 1,8 milhão de afegãos votaram, num colégio eleitoral formado por 9,7 milhões de eleitores, num país de 32 milhões de pessoas.
“Sem considerar que, como explicam analistas familiarizados com o país, o Afeganistão ‘não existe’ como um Estado-nação. Ao contrário, o país é constituído por grupos locais”, diz numa entrevista à alemã DW o jornalista brasileiro Lourival Sant’Anna, que esteve três vezes no Afeganistão durante os anos da ocupação norte-americana preparando reportagens.“Os afegãos são muito inclinados a fazer acordos”, diz ele. “Eles não têm interesse em provocar problemas com outros países”. “É isso que estão tentando fazer novamente agora. Eles só querem consertar seu país, um emirado islâmico, e ter boas relações com o resto do mundo”, diz ele.
A entrevista ilustra bem o que Mahbubani define como “realidades culturais” que ajudam a entender por que os Estados Unidos acabam derrotados quando invadem esses países. Fracassa ao impor suas próprias, em vez de tentar compreender as locais. O terceiro “c” citado pelo estudioso de Cingapura refere-se ao “compromisso”. Mahbubani ilustra sua ideia indicando que o Afeganistão é uma sociedade antiga com um vizinho ainda mais antigo: o Irã. “Após milênios de convivência, deve haver muito conhecimento na história e cultura do Irã sobre como conviver com o Afeganistão”. Independentemente de todas as diferenças, uma aproximação entre Washington e Teerã sobre esta questão poderia ter sido útil para ambos. “Mas a própria ideia de um compromisso com o Irã parece impensável para os Estados Unidos”, afirma ele. “Há poucos sinais de que os Estados Unidos estejam dispostos a rever seu comportamento”.
Pelo contrário, “muitas pessoas em Washington culpam o Afeganistão por este fracasso catastrófico, apontando em particular para a corrupção”. Mas a corrupção, conclui ele, “requer tanto a oferta como a demanda”. “Se os Estados Unidos não tivessem afogado o Afeganistão num tsunami de dólares quase sem controle, a corrupção poderia não ter ocorrido”.
Os mesmos vendedores pouco confiáveis
A colunista do The Guardian Nesrine Malik também pergunta-se por que o Ocidente não tira lição alguma do que aconteceu no Afeganistão. “São os mesmos vendedores, que nos ofereceram uma guerra falsa há décadas, que estão aqui novamente, tentando vender-nos as peças de reposição para manter o carro rodando”, diz Malik.
Lembra-nos do caso do ataque da Al-Qaeda às embaixadas norte-americanas no Quênia e na Tanzânia em agosto de 1998. O então presidente Bill Clinton ordenou um ataque de mísseis em retaliação à maior fábrica de medicamentos do Sudão, um país submetido a sanções, onde os medicamentos eram escassos. Foi acusado de produzir secretamente agentes nervosos para a Al-Qaeda. A fábrica foi destruída. Um homem morreu e outros 11 ficaram feridos. Mas, pouco depois, funcionários da administração norte-americana admitiram que a “evidência” do caso não era tão sólida como parecia. Tal como as bombas de Saddam Hussein.
Nunca houve qualquer admissão de erro, nenhum pedido de desculpas, nenhuma indenização para as pessoas afetadas. Ninguém se responsabilizou pelo erro. Durante mais de duas décadas, “esta tem sido a lógica da guerra ao terror: os líderes norte-americanos e ingleses tomam as decisões morais corajosas e difíceis e depois alguém se encarrega das consequências”.
O caos em Cabul, salientou Malik, “é apenas o último acontecimento de um longo drama, cujos protagonistas nunca mudam”. Guerras sem fim, sem responsáveis pelos crimes cometidos.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves.