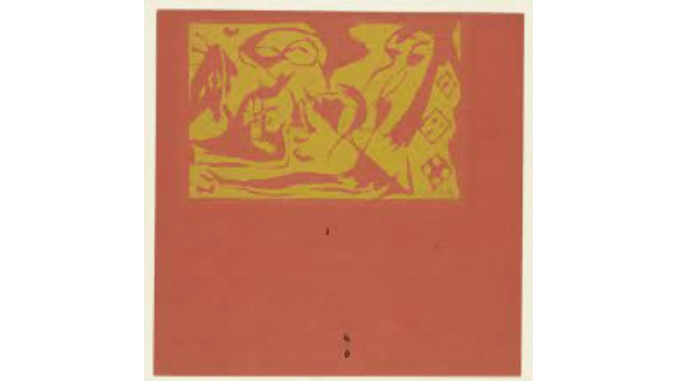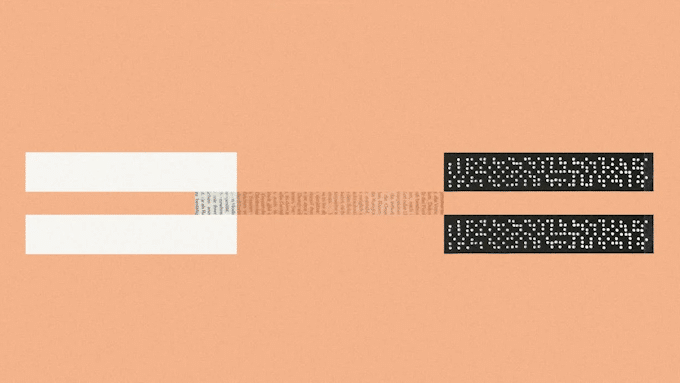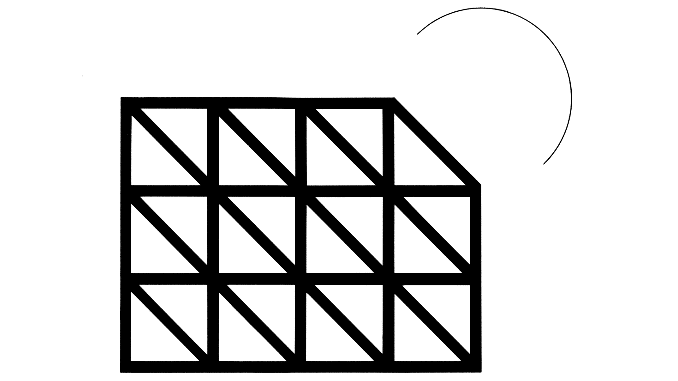Por JALDES MENESES*
Considerações sobre a obra de Caetano Veloso
Dos sobrados de Santo Amaro e Salvador ao trem de sampa nordestina
Caetano Veloso completa oitenta anos em pleno vapor e notável reconhecimento público como um dos grandes artistas brasileiros vivos, compondo canções, percorrendo o Brasil e a Europa em shows lotados, muito ativo nas redes sociais e criando fatos políticos e memes em tempo integral. Aproveitou as portas fechadas da pandemia para gravar o atualizado disco Meu coco, lançado nas plataformas no ano passado (2021), que já vinha concebendo antes. O espírito de criação deve ajudar a saúde.
Certamente por isso temos hoje o privilégio de ser contemporâneos de uma geração de grandes artistas populares brasileiros, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Milton Nascimento e o próprio Caetano Veloso, que atravessou ou se avizinha do seleto clube dos octogenários. Permitam-me, de começo, uma analogia aparentemente despropositada. A morte é um dos temas mais frequentes do pequeno livro de poemas de Manuel Bandeira a Lira dos Cinquent’anos.
Em versos de intenso lirismo, escreve o poeta aos cinquent’anos: “morrer tão completamente/que um dia ao lerem teu nome num papel/perguntem: “quem foi?…”. Mas, de fato, Manuel Bandeira morreu bem mais tarde (1968). Naquele tempo já se preparava para a chegada da indesejada das gentes aos cinquenta. Hoje é possível viver uma lira dos oitenta anos, ou seja, conviver em vez de subsumir a temática dominante das canções nos dramas metafísicos do absoluto e da finitude, que existe balanceada (mais em Gilberto Gil que em Caetano Veloso), mas não predomina.[i]
Numa rápida pincelada, Caetano nasceu e se reconhece na identidade – cinzelada pela vivência em um ambiente letrado que traduz experiências sociais viscerais em arte –, de um “mulato democrático do litoral” vivido em um sobrado de baixa classe média e família aconchegante de Santo Amaro da Purificação.[ii] Em curto depoimento a uma entrevista de Caetano para o Programa Roda Viva, a mana Maria Bethânia diz que Santo Amaro – e suas questões imaginárias – estão “todas lá” desdobradas em Meu coco (álbum e canção).[iii]
Desdobrando e interpretando o argumento de Maria Bethânia, um personagem de dor e prazer, talvez de tonalidades mais freyreanas (“mulato democrático do litoral”) que um euclidiano “mestiço neurastênico do litoral”. Trata-se de um compositor de obra biográfica, até telúrica, mas que pensa na canção com o cérebro de um ensaísta. Por isso, a coleção de canções de Caetano Veloso, reunidas completas em Letras,[iv] é uma maneira inusitada de interpretação do Brasil, em diálogo íntimo com nossos grandes autores da riquíssima tradição do pensamento social brasileiro.
Santuza Cambraia Naves, estudiosa da música brasileira, que morreu precocemente, em mais um dos muitos estudos sobre o tropicalismo, indicou que esse movimento começou um processo de desconstrução da canção brasileira, com o surgimento do que denominou de “canção crítica”.[v] A nova canção crítica seria um tipo aberto de canção. Até o advento da bossa nova no Brasil, a canção popular era tradicionalmente fechada em gênero e forma (frevo, samba, samba-canção, valsinha, baião, rock, etc.), ao passo que a canção tropicalista, num misto de construção e desconstrução, constitui-se “aberta” às formas brasileiras e às influências estrangeiras.
Exatamente por ser aberta são mais variados em subtipos a canção tropicalista. Sem excluir a forma aberta da canção crítica, na correta formulação de Santuza Cambraia Naves, é possível aduzir, pelo menos, mais dois subtipos: uma canção de tipo “conceitual” – à lá as vanguardas artísticas do século passado – e a canção “manifesto” – que guarda reminiscências dos manifestos políticos da modernidade, a começar, soi-disant, pelo marco histórico incontornável do Manifesto Comunista de 1848.
Araçá Azul, lançado em1973, ano-auge do milagre econômico da ditadura, é o álbum das canções-conceituais por excelência, mas também ocupa especial relevo, no caleidoscópio de inovações vanguardistas e comportamentais (a começar da fotografia da capa), a saga da migração do trabalhador nordestino rumo a São Paulo em processo de industrialização. O ritmo, a voz e o passinho do samba baiano de Dona Edith do Prato, feito a arribaçã, migrou para o sul. O álbum provocou, na época que foi lançado, um proposital choque nos ouvintes educados pelas melodias da canção popular do rádio.
O objetivo de Caetano Veloso era o esgarçamento, de dentro da própria indústria musical, do automatismo da audição pasteurizada das canções – até certo ponto uma intenção adorniana bastarda. Nada menos popular. A “canção-conceito” tropicalista deve no nascedouro inspiração – e não imitação – em problematizações estéticas de vanguarda erudita que Caetano descobriu no ambiente universitário de Salvador (o movimento Música Nova, poesia concreta, Walter Smetak, etc.). Só foi possível devido à pesquisa computacional e recursos de estúdio de gravação, que depois se generalizaram.
Vale observar, enfim, que essas monções de desconstrução e reconstrução da tradição da canção popular brasileira também se abeberou de múltiplas linguagens extramusicais, nos cortes e no aproveitamento poético das montagens cinematográficas do cinema novo brasileiro e da nouvelle vague francesa. Enquanto seu Lobo não vem,[vi] uma canção de letra/montagem cinematográfica, benjaminiana, inspirada na experiência das grandes passeatas de 1968, e Lindonéia (magistral interpretação de Nara Leão),[vii] inspirada nas inovações das artes plásticas, são dois bons exemplos.
A tradição-inovação da canção-manifesto tropicalista teve sua pia batismal na própria canção-título do movimento, Tropicália, canção carro-chefe, vinda a luma pouco antes, no disco Caetano Veloso (1968), logo em seguida aprofundada no clássico álbum coletivo-conceito-manifesto brasileiro mais célebre – o nosso Sgt. Pepper’s Lonely-Hearts Club Band! – Tropicália ou Panis et Circencis.[viii] Seguiram-se, ao longo dos anos, muitas outras canções e álbuns conceituais (são tantos que me abstenho de citar, por notório, a extensa lista), projeto que desembocou agora na retrospecção crítica da lira d’oitenta anos condensada na reflexão amadurecida e atualizada do álbum e da canção Meu coco.
Escreveu recentemente Caetano Veloso no Instagran: “observo o que se passa, mas cresci pensando em canções que chegam para ficar, em discos de longa duração que têm um repertório coerente, em obra que formem um conjunto significativo.”[ix] As canções manifesto de Caetano Veloso, via-de-regra, foram tematizando os choques do Brasil profundo e de sua relação com o mundo. Língua (1984), O estrangeiro (1989), etc., são canções emblemáticas dessa atitude planejada. Canção-conceito + canção-manifesto podem se reunir perfeitamente numa equação mais ampla: uma canção-pensamento, o que tem a ver – e Caetano assume esse diálogo com afinco – com a história e a antropologia, especialmente a tradição dos interpretes do Brasil.
O tropicalismo não significou a retomada, em termos intrínsecos de contribuição à teoria musical, da evolução da linha da música popular – este foi o papel, pouco antes, da bossa nova – , “mas uma elucidação conceitual (…) Tal elucidação destrói as bases sobre as quais se consideravam como essencial ou privilegiadamente brasileiros determinados gêneros ou formas, em detrimento de outros”. Uma elucidação, diga-se, não somente da “modernidade” musical, mas também da informação multitemática da modernidade.[x]
Não é o caso de empreender aqui a mais uma reconstituição do Tropicalismo histórico, objeto de vários trabalhos jornalísticos e acadêmicos (alguns de excelente qualidade), mas de constatar a intrigante persistência, a longevidade, a atualidade e o interesse pelo projeto tropicalista no Caetano d’oitenta anos. A propósito, em entrevista recente a Nelson Motta, Caetano Veloso insiste no “não-abandono” do “núcleo duro” do antigo projeto tropicalista: “volta no disco e na canção Meu coco um otimismo messiânico-salvacionista do Brasil muito ligado à nossa miscigenação (…) O meu projeto de Brasil volta com tudo na canção. Permanece vivo dentro de mim esse sonho de uma missão salvadora do Brasil. Essa perspectiva não morreu em mim apesar de tudo que a gente está vendo”.[xi]
O tropicalismo é um historicismo da civilização brasileira
Postulo que a obra de Caetano evoluiu na forma de um ancestral vanguardista, o Tropicalismo histórico – uma espécie de filho temporão da antropofagia oswaldiana, entre outras influências e referências. Na passagem do tempo do mundo brasileiro e internacional, desembocou, através de um processo dialético de renovação/conservação, em um atualizado Tropicalismo amadurecido. O cume das alturas da lira dos oitenta anos ajuda a descortinar a evolução e as mutações havidas.
Para mim – essa é a tese principal deste artigo –, o tropicalismo, em Caetano Veloso, plasmou-se e se consolidou, ao fim e ao cabo de seis décadas de presença ativa, nas ambições de prospecção do passado e na projeção de futuro, como uma tentativa de produzir um historicismo latu sensu da civilização brasileira (que, se não existe como fato inteiramente palpável, ou virou um holograma do que poderia ter sido e não foi, existe como uma aristotélica potência).
A ambição de Caetano Veloso, em chave otimista, é construtiva. No Brasil, a fruição da música popular, na vertente da cultura de massas do capitalismo tardio pós-guerra, adquiriu uma importância invulgar. Certamente, como em nenhum outro lugar do mundo, a arte da música popular de massas obteve o merecido e curioso status de uma arte-bússola degraus para além do simples entretenimento mundano. Uma arte especialmente reveladora de nosso particular lugar no mundo, como foi o romantismo na cultura germânica oitocentista. Enfim, uma das expressões mais cultuadas de uma hipotética e original “civilização brasileira”.
A visão de mundo de Caetano reúne um material de pesquisa ponderável e disperso, em toneladas de letras de canções densamente poéticas, happenings artísticos, manifestos, artigos de jornal e centenas de entrevistas provocadoras. Com certeza, o livro, de estrutura autobiográfica proustiana, Verdade Tropical –, especialmente a última parte – Vereda –, condensa os traços fortes, amadurecidos nos anos de aprendizagem e peregrinação do autor e herói problemático, da interpretação de Brasil do autor. Não interessa a ele criar um sistema fechado.
A estilosa interpretação de Brasil de Caetano, como cabe num texto proustiano, opera numa zona de fronteira entre a intuição (a literatizarão da experiência vivida) e o modus operandi do gênero da ensaística moderna brasileira – a maioria dos textos de Gilberto Freyre (um autor fundamental em Caetano Veloso, nem tão visível no tempo do tropicalismo histórico) também se realizam nesta zona. Ou seja, deslizam entre a estética e o ensaio, mas não pretendem conclusão no método cientifico mainstream (e burro) encharcado de desvios positivistas das ciências sociais universitárias.
O crítico literário paulista Roberto Schwarz, para quem o Brasil virou um grande findumundistão (que não deixa de ter sua contraparte de razão), enxergou em Caetano Veloso um narrador indulgente e problemático à maneira de um Brás Cubas de Machado de Assis, o que não deixa de ser um grande elogio na crítica. O crítico divide Verdade Tropical em duas partes contrastantes existencialmente: uma marcada pela experiência de uma tenra juventude em Santo Amaro e Salvador, cujo pano de fundo era o governo “populista” de Jango, e outra, por contraste, de decepção e amargor, devido ao golpe de 1964, com as promessas de alianças de classes em torno de um futuro nacional brasileiro.
A cena de ruptura clássica e acionada pela reação de Caetano ao assistir Terra em Transe, o filme de Glauber Rocha. Numa cena alegórica clássica do cinema brasileiro, Paulo Martins cala a boca de um parvo servil e interpela o público: “Estão vendo quem é o povo? Um analfabeto, um imbecil, um despolitizado!”. Aí onde, segundo Roberto Schwarz, vê um “beco histórico”, um impasse para a revolução, Caetano Veloso viu “a morte do populismo”, com efeitos liberadores para sua interpretação e ação sobre a realidade. Schwarz lê a passagem como uma apostasia, a partir da qual Caetano Veloso se opõe ao campo da esquerda nacional-revolucionária.
O tropicalismo se originaria aí, como uma manifestação pós-moderna avant la lettre, “nascido já no chão da derrota do socialismo”. O astro pop-tropicalista nascia, portanto, de uma desobrigação com a dívida social histórica com os desfavorecidos. Daí em diante concertar uma aliança faustica ao deus ex-machina mercado é o passo lógico, numa alegoria bem adequada ao neoliberalismo de “fim da história” dos anos 1990. A leitura do crítico paulista é estimulante e problemática, por vários motivos. Em primeiro lugar, nem Caetano Veloso (nem o próprio Glauber) romperam totalmente a casaca da matriz “populista”, nem com o “terceiro mundismo”.
Sem desconsiderar a existência de períodos de vais-e-vens, ambiguidades, concessões e estranhamentos na relação com a esquerda organizada (as brigas com a esquerda da segunda metade dos anos 1970, no tempo em que o cineasta Cacá Diegues cunhou o termo das “patrulhas ideológicas” é o período mais evidente desse estranhamento), há um tipo de coerência íntima, em vez de rupturas políticas radicais com o campo da esquerda, na trajetória do artista.
Não por acaso, Caetano foi um admirador à distância de Marighella, a quem dedicou a canção, também dedicada à influência política exercida por seu, seu pai (seu Zeca), Um comunista, no álbum Zii e Zie (2009).[xii] Escreve o autor: “sem que eu estivesse certo do que poderia resultar uma revolução armada, o heroísmo dos guerrilheiros como única resposta radical à perpetuação da ditadura merecia meu respeito assombrado. No fundo, nós sentíamos com eles uma identificação a distância, de caráter romântico, que nunca tínhamos sentido com a esquerda tradicional e o Partido Comunista. Nós nos víamos – e um pouco nos sentíamos – à esquerda da esquerda”.[xiii]
A divisão, a nítida clivagem, entre um anterior Caetano Veloso telúrico, em transformação pelo nacional-popular e a graciosa modernidade baiana, e outro desenganado de todo projeto de esquerda nas desilusões em cascata produzidas pelos balanços do que foi 1964, proposta por Roberto Schwarz, parece uma forçada de mão. Em apertado resumo, Caetano Veloso foi um herdeiro de primeira hora da tradição criada da modernidade da canção popular. Em vez do rock, que assimilou mais tarde, não tinha “uma vontade fela da puta de ser americano”.[xiv]
Caetano Veloso sempre declarou altissonante ser um herdeiro da bossa nova, de sua revolução harmoniosa, da tentativa de integrar esteticamente a informação sofisticada e cosmopolita com o local e o nacional. Esse caminho implica em pensar o Brasil como uma utopia de civilização. Assim, não deixaram de ressoar totalmente no compositor os argumentos “populistas” e “nacional-revolucionários” do Brasil. Mal comparando duas viagens redondas de mesma geração, sucedeu fenômeno parecido na história de Lula e do PT.
Nascido a partir de uma crítica pesada ao nacional-desenvolvimentismo, em outro diapasão, a ação prática de Lula (e de resto do PT) no governo federal predominou – quem diria? – um conjunto da obra que não estava clara nos primeiros anos: o líder operário e sindical do fordismo periférico, que fundou um partidos dos trabalhadores, transformou-se num líder carismático latino-americano (um caudilho?), bem como o antigo partido operário transformou-se num partido de massas popular entre os mais pobres – me desculpem a falta de outra expressão –, nacional-popular. Uma vez no governo, foi atrás dos fundamentos teóricos de uma economia política de estilo nacional-desenvolvimentista – tudo isso na forma de um conteúdo histórico adaptado à realidade e os nominalismos ao século XXI. [xv]
O tropicalismo amadurecido de hoje – cujos índices mais palpáveis são as intervenções de Caetano Veloso no período da ascensão de Jair Bolsonaro ao poder – abriu a possibilidade de uma visão teleológica sobre o tropicalismo histórico de 1968. Recentemente, gerando surpresas do cosmopolita e decadente circuito “neoliberal de esquerda” do Leblon e da Faria Lima, Caetano assumiu um reposicionamento polêmico, mais à esquerda. Em entrevista a Pedro Bial na Globo, ele fez questão de esclarecer que ele transitou de opinião sobre a vulgata conceitual liberal do totalitarismo.
Assim falou Caetano Veloso: “Quando ouço pessoas como você dizendo ‘o comunismo e o nazismo são igualmente horríveis, são autoritários’, essa equalização das tentativas socialistas com o nazismo eu não engulo mais como engolia. ‘A extrema esquerda é igual à extrema direita’. Eu não acho mais, não consigo”, disse ao entrevistador. Não se tratou de uma declaração de adesão ao socialismo, o marxismo ou até (como alguns viram) ao stalinismo. O foco de Caetano, que os liberais brasileiros desconversaram, foram os pontos cegos da teoria liberal.[xvi]
A leitura recente do filósofo italiano Domenico Losurdo, com certeza, ajudou. Mas o socialismo, o anti-imperialismo e o terceiro mundismo não-alinhado – me desculpem o vocabulário de palavras dos anos 1960 –, e até mesmo a crítica do liberalismo e da categoria totalitarismo esboçada pelo marxismo não ocidental, já se insinuavam no tropicalismo histórico, em virtude do “lugar de fala” nacional brasileiro em que Caetano Veloso sempre se localizou na arte de atualizá-lo.
Esse reposicionamento de crítica antiliberal já estava latente desde sempre. Em Vereda (a parte de conclusões de Verdade Tropical), depois de uma breve análise de palavras críticas sobre a visão de “ocidente fechado” de O choque de civilizações, de Samuel P. Huntington – uma das peças de propaganda do “novo século XXI americano –,[xvii] o compositor escreve que o Brasil vive “uma eterna indefinição entre ser o aliado natural dos Estados Unidos” e “ser o esboço de uma nova civilização… suas características de país gigantesco e linguisticamente solitário contribuem para as duas tendências. O caráter único de sua música popular – tanto em sua beleza quanto em sua precariedade – vem disso. O tropicalismo pode tentar extrair energia original dessa tensão. Livros como o de Huntington (ou o Trust de Fukuyama, que aparentemente se lhe opõe) me fazem sentir – e pensar o tropicalismo – posicionado mais nitidamente à esquerda do que me seria possível em 67.”[xviii] Antes de escrever as palavras contidas em Vereda – a meu ver na contramão da discreta aquiescência por ele emprestada ao governo FHC –, Caetano colocou sua arte contra a parede da “nova ordem internacional” depois da sensacional implosão geopolítica da União Soviética.
A primeira faixa do álbum Circuladô (1991) começa com um brado de constatação do lugar subordinado do Brasil na globalização neoliberal. Canta o compositor no refrão da canção Fora da Ordem – “alguma coisa está fora da ordem/Fora da ordem mundial”. Em outra canção do mesmo álbum, ele lembra que nós e outros povos do sul global habitamos nada mais nada menos que as veias abertas do Cu do Mundo, “onde o cujo faz a curva/(o cu do mundo este nosso sítio).”[xix] Acredito que essas duas canções de Caetano Veloso, escritas no calor da hora, perceberam uma outra camada, de lúgubre incerteza, na teoria do “fim da história”. Havia nela um subtexto de universalismo, paradoxalmente relativo e limitado, a ser levado em consideração: a vitória liberal sobre o socialismo na versão soviética resolvia a questão da história.
Contudo, persistia a questão da margem, na qual se localiza o Brasil, o estranhamento no reconhecimento do outro, a escumalha habitante no cu mundo, os povos não integrados à soberba cultura política histórica dominante no Ocidente. Rousseau escreveu que Maquiavel era um ironista (ou um sátiro) – fingindo dar lições à prática política dos reis absolutistas, deu-as, grandes, aos povos. Sempre desconfiei – não tenho certeza – que Fukuyama é mais um ironista. De todo modo, se não foi irônica a sua intenção, uma ironista tem sido a história em si.
Nestas últimas páginas de Verdade Tropical, o autor comenta a recepção e a descoberta da música experimental de Tom Zé (e também da inventividade de Caetano Veloso) nos Estados Unidos, na clintoniana década de 1990. A atratividade da música, segundo ele, não vinha mais do deleite proporcionado pelo exótico, ao estilo Zé Carioca nos tempos da política colonialista de “boa vizinhança” de F. D. Roosevelt na América Latina (1933-1945). O meio musical e a indústria fonográfica buscavam a “originalidade e pertinência” da “visão de nossa música moderna”. Não buscavam apenas “folclore”, primitivismo naif, novos ritmos ou gêneros, mas informação e conceitos concentrados na contemporaneidade do modo de fazer música.[xx]
O diagnóstico esboçado em Vereda ressoa no refrão da canção-manifesto, âncora de abertura do disco Meu coco, segundo Caetano Veloso, soprada no ouvido por João Gilberto num bate-papo preparatório de um show com Gal Costa no Brasil em 1971, num momento difícil da ditadura escancarada, depois de um retorno rápido do exílio em Londres, negociado com os militares – “Nós somos diferentes, Caîtas. Nós somos chineses.” O verso da canção ficou assim: “João Gilberto falou/ E no meu coco ficou/ Quem é, quem és e quem sou?:/ ‘Somos chineses’”. [xxi] Ou não somos? Em questão, nada mais nada menos que o “ser” do Brasil.
A historinha não é apenas uma sacada delirante sinotropicalista de João Gilberto. Por coincidência nem tão incrível, é possível estabelecer, na comparação de grandezas entre China e Brasil, uma correlação com as intenções condensadas, por exemplo, por Gilberto Freyre no livro China Tropical. [xxii] Trata-se de um apanhado de artigos reescritos em outros livros, nos quais o intelectual pernambucano enfatiza as influências orientais na cultura luso-brasileira e influências ibero-lusitanas na China e na Índia. Preste-se atenção que Caetano repete o brado gilbertiano em pleno século XXI. “Somos chineses” no exato momento em que a China virou o “inimigo estratégico” na doutrina geopolítica dos Estados Unidos.
Subtender que somos brasileiros nascidos numa China Tropical, um equivalente termos de possibilidade de grandeza à potência já demonstrada pela China, é sempre um ato de afirmação nacional da incerta potência de uma civilização brasileira. Quando denominou o Brasil “China tropical”, Freyre estava embaralhando – esse é o objetivo do escritor pernambucano – as fronteiras tradicionais e fechadas entre “ocidente” e “oriente”, numa projeção que deve ser vista avant la lettre avesso às teses do “choque das civilizações”.
Antes de ser um Estado Nacional moderno, como não se cansam de saber e repetir historiadores, antropólogos e diplomatas, a China é também um Império muito antigo autocentrado – outros diriam “ensimesmado” – incrustado no centro do mundo, o “Império do Meio”. Em virtude de ocupar o centro, o meio, nesta ideologia nacional, deve ter alguma missão para o mundo.
Esses vislumbres de Caetano, João Gilberto e Gilberto Freyre dialogam por contraste, em chave otimista (apesar de tudo) com o Brasil, com a chave cética de um “país à parte”, introspectivo, fornecida por Perry Anderson. Estrangeiro de aguda percepção, o historiador marxista inglês morou no Brasil dois anos e estudou o colonialismo português, aliás objeto de seu primeiro trabalho acadêmico relevante.[xxiii]
Passando em revista os anos recentes de nosso país, o historiador, interessado em relações internacionais, conclui que “o Brasil é um caso à parte na galeria dos principais Estados do mundo (…) No entanto, sua história e geografia também fizeram desse país o mais isolado e ensimesmado entre os gigantes mundiais (…) Nenhum outro Estado-nação exibe ainda com tanta naturalidade a ideia de que constituiria uma civilização em si mesmo – a expressão civilização brasileira não é mero apanágio prepotente da direita, mas um termo usado espontaneamente por historiadores e jornalistas de esquerda (…) Uma cultura nacional cujo horizonte natural do pensamento permanece ao tal grau de autossuficiência se assemelha até certo ponto, bem ou mal, a uma exceção do século XIX no mundo contemporâneo”.[xxiv]
Perry Anderson, cita, à guisa de reflexão, em tom de anedota, o caso que a clássica coleção de História do Brasil organizada pelo historiador decano, Sérgio Buarque de Holanda – “figura da esquerda socialista” –, titulou com inusitada soberba, um país jovem de menos de 600 anos, ora vejam, de História Geral da Civilização Brasileira – “uma série especial dedicada à história do Brasil ou, segundo o plano anteriormente estabelecido, à história da “civilização” brasileira”. Alguns acham pretensão demais para o caminhãozinho do Brasil. Mas tem ocorrido invariavelmente um paradoxo histórico, quando expulsam a história das civilizações pela porta da historiografia, ela quase sempre retorna pelas margens do museu das grandes novidades perdidas. [xxv]
Paradoxalmente à crítica delirante do “populismo” de Terra em Transe, aliás, ainda mais delirante em outro filme de Glauber Rocha, A Idade da Terra, o cerne do “historicismo do tropicalismo”, em oposição e numa viagem redonda, mantém, refaz e atualiza os diagnósticos de muitos autores influentes no período de construção do Brasil industrial e urbano na “era Vargas”, qual seja: a antiga colônia dos primeiros cronistas coloniais, o Brasil, que se tornou, paradoxalmente, o ambiente de encontro e de combustão de culturas e uma nação-continente extraordinários. A realização da missão messiânica do “sentido” histórico futuro e emancipador da cultura brasileira a vocaciona a se tornar uma nova civilização dotada de uma contribuição original no horizonte visando ter alguma lição a ensinar a um mundo habitualmente dividido em civilizações guerreiras.
Verdade Tropical foi um livro que nasceu sob a encomenda de um editor de Nova Iorque, depois da publicação de um artigo, também no New York Times, de um ícone plástico tropicalista, Carmem Miranda. O primeiro impulso do tropicalismo – que rendeu a acerba polêmica de Roberto Schwarz –, em resumo, foi de acomodar a informação estrangeira, especialmente da cultura de massas do capitalismo tardio, na montagem tropicalista nacional. Realmente, a abordagem crítica de Roberto Schwarz, neste aspecto, se tornou canônica.
Talvez valha a pena repeti-la, mais uma vez, a crítica central que ele faz ao tropicalismo – de certa maneira reiterada até hoje. A crítica que o tropicalismo configurou uma criação artística engenhosa, mas frívola: apanhava elementos dispares do fundo do baú do Brasil arcaico e os punha sob a luz prismada do ultramoderno das vanguardas artísticas internacionais, bem como, em lance de oportunismo mercantil, da música pop – “não se passa universal ao particular, mas de uma esfera a outra”. Em vez disso, A especialidade do tropicalismo era o comentário de superfície de uma grande alegoria cafona (a alegoria Brasil). Travado nesta passagem do particular ao universal, em suma, o crítico paulista, embora destaque a criatividade, observa o tropicalismo não consegue produzir uma síntese do atraso e do progresso no solo da realidade brasileira.
Roberto Schwarz estava falando, é claro, do ponto de partida da obra dos tropicalistas, que eu chamo de “tropicalismo histórico”. Talvez hoje a questão esteja datada. Na sua obra, que se tornou enorme, Caetano Veloso não fez o uso apenas da “alegoria Brasil”, ou seja, não expressou tão somente uma dificuldade de passagem entre o universal e o particular, como se aproximou firmemente, certo ou errado, da tradição dos “interpretes do Brasil” e dos dilemas mais agônicos da nação (da “civilização brasileira”) e do sul global.[xxvi] Por sua vez, a escrita de Verdade Tropical correspondeu, no tempo, a um segundo impulso, de dentro para fora, ou seja, de exportação da montagem tropicalista como conteúdo a ser endereçado e recebido “por eles” da notória “grande nação do norte”.
Há um diálogo de tempos brasileiros distintos – Nietzsche e Benjamin escreveram que os grandes de uma geração dialogam com os grandes de outra, lembram-se? –, pode-se dizer, no começo secundário, e hoje intenso já há muito tempo, de Caetano Veloso com Gilberto Freyre. Esse diálogo é muito citado por Caetano Veloso, mas permanece um assunto relativamente marginal na exegese crítica, muitas vezes acomodada com a narrativa tradicional, mil e uma vezes repetida, do tropicalismo como a última floração do modernismo paulista. [xxvii] Numa abordagem de exegese, são evidentes as afinidades e as influências, certamente modificadas e adaptadas, entre o tropicalismo e muitas das projeções de Brasil, e do papel do Brasil no mundo, do pernambucano. O polêmico intelectual pernambucano já tinha desde o começo a intuição de alguma afinidade entre a sua verdade tropical e a do emergente compositor baiano. Ao ser perguntado sobre se havia alguma semelhança com o “movimento tropicalista, no contexto da cultura brasileira, com o seu neotropicalismo?”, assim respondeu o pernambucano: “Creio que não deixa de haver alguma afinidade”.[xxviii]
Por sua vez, Caetano Veloso reconheceu a afinidade em várias oportunidades, especialmente a partir dos anos 1990: “Freyre sempre me agradou em cheio. Nunca achei que ele negligenciasse os aspectos horrendos da nossa formação”[xxix] “(…) Eu gosto de Gilberto Freyre sobretudo por suas consequências políticas (as consequências históricas do mito luso-tropicalista se tornaram mais palpáveis a FH [Fernando Henrique Cardoso] quando ele teve de enfrentar o Brasil real), considero a crítica que o ex-presidente sustenta antes aquém da intuição mais lúcida do significado da experiência brasileira. E toda teimosia em manter os termos dessa crítica hoje me parece caricatural” (2009). [xxx] A consciência de Caetano Veloso sobre a importância de Gilberto Freyre a respeito da elucidação de si mesmo (sobrados de Santo Amaro têm a ver com sobrados e mocambos de Recife) voltou, em chaves que não deixam de transparecer antagônicas, no período do governo FHC e nos primeiros anos do governo Lula.
A problemática da escravidão reflete em muitas canções, especialmente quatro canções encorreadas do disco Noites do Norte (Zera a Reza; Noite do Norte [musicalização de trecho pungente de Joaquim Nabuco em “O Abolicionista”]; 13 de Maio; Zumbi [composição de Jorge Bem Jor]), que, em si mesmas, valem a escrita de um ensaio à parte, que deixo para outra oportunidade.[xxxi] Sobre a problemática, impossível deixar de citar os “Os pobres de tão pretos e pretos de tão pobres”, da já clássica Haiti, não por obra do acaso a canção de abertura do álbum Tropicália 2, gravado com a ambição de reatualizar, naquele novo momento de ascensão liberal (1993), as questões políticas e culturais postas pelo tropicalismo nos anos 1960.[xxxii]
Assim, o baiano e o pernambucano são carne e água de coco de um coqueiral de indubitáveis afinidades eletivas. O projeto de abordar em música popular a questão racial, um dos temas que foi crescendo no tropicalismo, reaparecendo com força novamente neste Meu coco. Sim, o compositor baiano foi preso e perseguindo, enquanto o consagrado “Mestre de Apipucos” apoiou a ditadura. Depois, ditadura exaurindo, passou a exorbitar de um estilo lúdico-divertido e bem-humorado de vaidosas desconversas recheadas de paradoxos, perífrases e circunlóquios, algumas vezes nem tão engraçados assim.
Parece-me que Gilberto Freyre, nesta época, pretendeu encarar o papel canastrão de uma espécie de voz da sociedade em direção ao regime, e não vice-versa. Talvez mais, o papel de portador de um diagnóstico de país com desmedida ambição em se considerar um intelectual da sociedade brasileira, mesmo que a sociedade estivesse se modificando e não dando muita bola para isso. Aí entra a questão da “democracia social”, uma expressão que, não certamente por obra do acaso, José Sarney resgatou para denominar o partido do regime (PDS) que sucedeu a carcomida Arena.
Aqui vale corrigir um pequeno erro que pode se tornar gigante. Importante observar que Gilberto Freyre não criou originalmente o termo democracia racial – a pia batismal coube a autores estrangeiros como Charles Wagley e depois Roger Bastide. Contudo, é correto dizer que o termo habita in nuce nas implicações de seus escritos relativas ao presente e os destinos do Brasil. Nas conferências coligidas em Interpretação do Brasil, ele descreve uma democracia étnica ou uma democracia social.[xxxiii]
Na interpretação de Gilberto Freyre a democracia social brasileira deixava a desejar em termos de democracia econômica e política. Assunto atualíssimo no debate nacional hoje, Gilberto Freyre escreveu o Brasil passava por uma transformação otimista no sentido de constituir uma estrutura metarracial, uma “além-raça” parelha à antevisão do “amalgamação”, proposta por José Bonifácio, entre os negros e os demais povos presentes no Brasil. Em termos de tropicalistas, a canção que mais bem expressa o projeto do “amálgama” bonifaciano, Outros viram, não é de Caetano, mas de Jorge Mautner e Gilberto Gil – “O que Walt Whitman viu/ Maiakovski viu/ Outros viram também/ Que a humanidade vem/ Renascer no Brasil!”[xxxiv]
Gilberto Freyre não era nem de longe um puritano que foi estudar muito jovem nos Estados Unidos (puritano realmente ele não era) fixado na manutenção do patriarcalismo. Reconheceu a decadência do patriarcado e a assunção e a legitimidade de novos arranjos familiares. Para ele, a missão do regime, militar, no presente, como também de uma futura democracia liberal, deveria ser equalizar a plenitude da convivência social de base (que nunca houve no Brasil, e esse um dos grandes erros de seu diagnóstico), visando superar incompletudes e distorções plasmadas no regime econômico e nas instituições políticas.
Para tanto – questão importante a considerar neste diagnóstico –, a possibilidade de os militares cumprir, em determinadas conjunturas de transição, um papel proativo. Sempre é o caso de imaginar como Gilberto Freyre veria hoje o culto à ignorância de Jair Bolsonaro e figuras lamentáveis como o general Eduardo Pazuello. Mais: há significado proativo numa “transição” ao fascismo? [xxxv]
O sociólogo-antropólogo pernambucano pretendeu jogar o papel de uma espécie de tertium non datur entre as duas correntes mais influentes da ditadura. Se um lado, tínhamos os reacionários responsáveis pela guerra cultural e moral regressiva do Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País) – que novamente saíram agora do armário agora sob Jair Bolsonaro – e os tecnocratas desenvolvimentistas ordoliberais, representados por Roberto Campos e Octávio Gouveia de Bulhões.
As autobiografias de Francisco de Oliveira – Noiva da Revolução[xxxvi] – e Celso Furtado – A Fantasia Organizada[xxxvii] – comprovam em diversos episódios a má vontade e o mal-estar de Gilberto Freyre, investido no cargo de membro do Conselho Deliberativo, com o impulso regional renovador do Projeto da SUDENE. A explicação dos dois grandes intelectuais progressistas nordestinos é semelhante: a má vontade é resultado das relações de Freyre com as oligarquias incomodadas. Correto. Havia, no entanto, à socapa, mais um ingrediente, finalmente esclarecido no pensamento freyreano no período da ditadura: o planejamento de Celso Furtado, de sinal ideológico “esquerdista”, era visto na condição de um parente, dissidente que seja, mas parente, da mesma árvore genealógica dos tecnocratas mandarins da política econômica da ditadura.
Neste aspecto, a démarche freyreana aparenta a visão de Alexis de Tocqueville (Meneses, 2004) – especialmente no muito conhecido na exegese freyreana de “equilíbrio de antagonismos” como o modelo das relações políticas na civilização brasileira. O “equilíbrio de antagonismos” sem dúvida lembra a visão política tocquevilliana, muito depois criticada por Gramsci a propósito dos liberais italianos.[xxxviii]
Para mim, quem melhor definiu política e filosoficamente o “equilíbrio de antagonismos” foi Antonio Gramsci: é sempre uma espécie dialética sem síntese, um rinque eterno de uma luta que nunca tem fim, uma eterna luta de domínio do Senhor que não supera, para si e para o outro, a dominação do Escravo, embora possa fazer concessões. Na decantação e louvação dos “equilíbrios de antagonismos” como “programa de ação”, e não simplesmente com um “critério de interpretação histórica”, os dois intelectuais, o brasileiro e o francês, sabiam que a velha aristocracia feudal normanda e a açucarocracia pernambucana não reencenariam as velhas glórias, como de fato nunca mais voltaram, em nosso caso, ao centro do bloco no poder brasileiro. Tocqueville e Freyre, por outro lado, estavam empenhados em encontrar um espaço de permanência cultural na nova concertação para os valores aristocráticos, por ambos considerados moralmente duradouros.
A seu modo e no seu ritmo, Gilberto Freyre não era um reacionário que pura e simplesmente não aceitava a transformação social. Ademais – como propus na comparação com Tocqueville –, ele tinha consciência que as transformações são inevitáveis. Mas propunha que a transformação fosse “além do apenas moderno”, ou seja, a transformação, enfim, a modernização, não fosse exclusivamente ditada pelo tipo “frio” do planejamento econômico em voga da tecnocracia. Para ele, um antecedente histórico da tecnocracia no Brasil deitava raízes naquilo que parecia pretender evitar, a antiga e ancestral linguagem bacharelesca do padrão jurídico formalista.
Neste sentido, vale a pena repetir mais uma vez que o “realismo nostálgico” do diagnóstico da inevitabilidade exalava o menino com saudades do engenho. Essa inusitada sensibilidade conservadora permitiu antecipar a “crises dos paradigmas das ciências sociais” e a assunção da “ciência social pós-moderna”. Pois sim, o “Mestre de Apipucos”, da periferia pernambucana para o mundo, foi um dos pioneiros na problemática do pós-moderno,[xxxix] inclusive numa acepção que se tornou mais tarde um maneirismo comum – a chave crítica de propor uma fusão e bricolagem das fronteiras entre o discurso científico e a narrativa literária, uma meta-história, em Gilberto Freyre na forma engenhosa de uma história das mentalidades politizada da açucarocracia do litoral nordestino.
O Brasil contemporâneo afastou-se da sensibilidade dessa utopia freyreana (a obra de Darcy Ribeiro, muito mais à esquerda, também pode ser incluída neste rol). Para ele, as raízes do Brasil eram ibéricas e católicas, e foram essas raízes que deram sustança a um projeto de inclusivo de miscigenação. Essa interpretação, aliás, já foi muito poderosa e hegemônica no país, compôs as bases do projeto varguista e de rebentos culturais, entre os quais um dos mais ilustres a corrente principal da MPB – a que são filiados Caetano e Gil.
Vale ressaltar, pois isso é de capital importância, que o projeto de Gilberto Freyre, sempre em busca de uma “China tropical”, é visceralmente antifordista e antiamericanista. [xl] Nesse aspecto, o título do livro de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke, que pinta Gilberto Freyre como “um vitoriano nos trópicos” é equivocado e pode induzir a um erro grasso (apenas a leitura e influência em Gilberto Freyre da literatura inglesa, um aspecto estilístico exagerado em sua importância conduz a autora ao erro).[xli] Vendo o Brasil de hoje, embora o velho fordismo periférico (a forma de infraestrutura do americanismo) esteja ultrapassado como forma de organização do trabalho, por outro lado o país americanizou de mais e iberizou-se de menos. O país é hoje menos católico e mais neopentecostal. A MPB perdeu a hegemonia na cultura, transformou-se em mais uma vertente entre da cultura musical de massas – e não “a” vertente –, concorrendo por conquistar um lugar ao sol com outras tantas.
Sempre lembrando, a MPB, e a nascente indústria cultural americanista-fordista que lhe deu suporte em passado recente, emergiu, junto à literatura, o cinema, a arquitetura, o cinema, etc., na condição de uma fração estética do bloco estético de 1930. Nesta temporalidade, aliás, é que a discussão da “linha evolutiva” da MPB tinha algum sentido. Do repouso da ditadura em diante (1985), houve uma mudança na chave social. O bloco estético dispersou e desmilinguiu. Nu e cruamente, desonerou antes de tudo por força da superação do bloco histórico. Os artistas de MPB que despontaram na última década do século XX (a década em que FHC anunciou o fim da “Era Vargas”), Lenine, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto e Chico César, etc., representam, tanto a força criativa, como o canto de cisnes de um bloco estético colado a um compacto bloco histórico. É preciso não confundir MPB e música. Continua, obviamente indestrutível, a polifônica diversidade de sons, ritmos e poesia de música no Brasil e música brasileira.
Sinal dos tempos, a audição da música mudou no Brasil e no mundo, tanto do ponto de vista do suporte (internet) como do conteúdo da fruição social. Sugiro, a respeito, a leitura das reportagens, feitas com base em duas detalhadas pesquisas de campo, Música muito popular brasileira[xlii] e Brasileiros são os que mais ouvem a própria música entre todos os países.[xliii] Mesmo que sejam os brasileiros os que mais ouvem a música do país, a MPB não tem – já teve – força agregadora de veio principal da indústria cultural. Continua a ter o seu espaço, é verdade. Veja-se: segundo os dados das pesquisas, os fãs de MPB estão concentrados em capitais e cidades litorâneas.
Transformou-se, de polo de agregação de um bloco estético, em um gênero constante no cardápio de estilos musicais concorrentes, nas gondolas de mercados musicais segmentados por classe e região. À exceção poucos artistas, que se contam nos dedos, a MPB recolheu-se das multidões de estádios e ginásios (territórios por excelência dos sertanejos), equidistando-se nos teatros e nas salas de concerto. Uma nova tradição concertista foi criada: os encontros e reencontros de eternas amizades no palco. As novas amizades são mais raras, os estilos novos e velhos se comunicam escassamente, mimetizam o comportamento das bolhas de internet. Isso explica o fato de muitos ouvintes da “bolha MPB” nunca haver escutado, antes da morte, o nome da cantora mais executada em rádio e internet do país, a goiana Marília Mendonça. A estratégia de Caetano Veloso procurou o tempo inteiro romper essas bolhas, numa ação de abrigar essas coisas novas no leito materno acolhedor das coisas nossas da MPB.
A matriz freyreana reaparece descrito numa das mais importantes canções de Caetano Veloso sobre a questão racial como a vivência de um dilema agônico, a condição racial no Brasil é vista como impasse trágico que precisa de resolução social urgente, contudo essa via de resolução é adotada pela via de um discurso alienígena. Será? Prestem atenção à letra da canção O Herói, última faixa do disco Cê (2007). Resplandece neste herói atormentando mais uma reencarnação (des)reconhecida da dialética sem síntese brasileira.
Escreve Caetano Veloso o seguinte na letra sobre o impasse do protagonista, um jovem negro oprimido da periferia de uma grande cidade brasileira, entre duas sensibilidades conflitantes nos caminhos de enfrentamento da questão racial: “Quero ser negro 100%, americano/ Sul-africano, tudo menos o santo/ Que a brisa do Brasil, briga e balança/ (…) Vi que o meu desenho de mim/ É tal e qual/ O personagem pra quem eu cria que sempre/ Olharia/ Com desdém total/ Mas não é assim comigo/ É como em plena glória espiritual/ Que digo:/ Eu sou o homem cordial/ Que vim para instaurar a democracia racial.”[xliv]
Em entrevista recente comemorativa dos oitenta anos, afirma Caetano Veloso que o mito da “democracia racial”, apesar de tudo “o que se discutiu sobre Casa-Grande e Senzala, a reação contra Gilberto Freyre e esse apelido de “democracia racial”, que ficou como uma expressão muito atacada. Para mim, não funcionou muito, porque eu acho que a democracia tout court, não a democracia racial, é um mito, mas ‘o mito é o nada que é tudo’. Não é por ser mito que você despreza a ideia de democracia racial”.[xlv]
Caetano Veloso acresceu, no âmbito do paradigma messiânico e tropical da utopia de uma civilização brasileira, a contribuição utópica e messiânica do sebastianismo do Espírito Santo ibérico-católico antiliberal ou iliberal de Agostinho da Silva (aliás, um dos primeiros professores estrangeiros na fundação do Departamento de História da UFPB, em 1953), que, por sua vez, remonta a uma leitura muito particular do Padre Vieira e de Fernando Pessoa.[xlvi]
*Jaldes Meneses é professor titular do Departamento de História da UFPB.
Notas
[i] BANDEIRA, Manoel. A morte absoluta. In: BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira (poesias reunidas). Rio de Janeiro: José Olympio (11ª ed.), 1986, p. 140.
[ii] Caetano Veloso, Sugar Cane Fields Forever. In: Araçá Azul, 1973. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kqOx6EDAuAU.
[iii] VELOSO, Caetano. Meu coco (álbum completo), 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x9H3LO6cS0o&list=PLqKsVaEbxlkgXHUFzOoSdYz5Znhg5dver.
[iv] VELOSO, Caetano. Letras. Org. Eucanaã Ferraz. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
[v] NAVES, Santuza Cambraia. Canção popular no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
[vi] VELOSO, Caetano. Enquanto seu lobo nao vem (cançao). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=whJ1PZOJsHk.
[vii] VELOSO, Caetano. Lindonéia (canção). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C2dbCiH3nrc.
[viii] VELOSO, Caetano Et al. Tropicália ou Panis et Circensis (cançao). Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=FioKcbXmhFo&list=PL1n9WCjA7Kz6S5hnYGHfx5sVuLFGuaT3C
[ix] Post no Instagran de Caetano Veloso, publicado em 13/6/2022. Disponível em: https://www.instagram.com/p/ChLHXyUpAQ6/.
[x] CICERO, Antonio. Finalidades sem fim. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 72.
[xi] Entrevista de Caetano Veloso a Nelson Motta no canal Amazon Music em 11/11/2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZryaQ6xqobg.
[xii] VELOSO, Caetano. Um comunista (canção). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pM-V3f28Oqc.
[xiii] VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 427.
[xiv] VELOSO, Caetano. Rock ‘n’ Raul (canção). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Iy87–nNJJo.
[xv] SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia (ensaios e entrevistas). São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 52-110.
[xvi] VELOSO, Caetano. “Entrevista a Pedro Bial”, em 4/9/2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oCBRTQDGp30.
[xvii] HUNTINGTON, Samuel P. O choque das civilizações e a recomposição da ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
[xviii] VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 498.
[xix] VELOSO, Caetano. Circuladô (álbum). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eqMcE2lEFWg&list=PLrt7VbxNS8rfwyMRFwufMhQspVRs8QmsM.
[xx] VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 495-510.
[xxi] LEAL, Claudio. “Caetano Veloso ataca Bolsonaro e celebra amores carnais em seu novo álbum”, in: Folha de S Paulo, 22/10/2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/10/caetano-veloso-ataca-bolsonaro-e-celebra-amores-carnais-em-seu-novo-album.shtml
[xxii] FREYRE, Gilberto. China Tropical – e outros escritos sobre a influência do Oriente na cultura luso-brasileira. São Paulo: Global (2ª ed.), 2011.
[xxiii] ANDERSON, Perry. Portugal e o fim do ultracolonialismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
[xxiv] ANDERSON, Perry. Brasil à Parte (1964-2019). São Paulo: Boitempo, 2020, p. 11-12.
[xxv] Sérgio Buarque de Holanda, História Geral da Civilização Brasileira (Livro Primeiro). Rio de Janeiro, Bertrand Brasil (19ª ed.), 2011, p. 14.
[xxvi] SCHWARZ, Roberto. O pai de família e outros estudos. São Paulo: Companhia das Letras (2ª ed.), 2008, p. 70-111.
[xxvii] Uma questão regional importante. Chamaram-me a atenção que o tropicalismo pernambucano nasceu em forte oposição crítica aos estudos de tropicologia de Gilberto Freyre, seu papel deletério de colaboração com os militares na ditadura e à condição férrea de manda-chuva da cultura pernambucana, exercida anos a fio com prazer pelo “Mestre de Apipucos”. Sao questões sobejamente conhecidas, que não invalidam a recepção das ideias de Freyre, certamente decantadas, por Caetano e até mesmo Darcy Ribeiro.
[xxviii] FREYRE, Gilberto. Encontros (entrevistas). Org. Sérgio Cohn. Rio de Janeiro: Azouge, p. 135.
[xxix] VELOSO, Caetano. “’Democracia racial’ rima com ‘homem cordial’’’, Folha de S. Paulo, 10/6/2006. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1006200612.htm.
[xxx] VELOSO, Caetano. “Caetano Veloso é verbo e adjetivo”, Revista Cult, 30/5/2009. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-caetano-veloso/ .
[xxxi] VELOSO, Caetano. Noite do norte (álbum). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8cHLAPgGUgk&list=PLTqJ9TvUNemXnoMmieKZQ2T3JmBr-dkhV.
[xxxii] VELOSO, Caetano & GIL, Gilberto. Tropicália 2 (álbum). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wfWiNJ8lmdc .
[xxxiii] FREYRE, Gilberto. Interpretação do Brasil (aspectos da formação social brasileira como de almalgamento de raças e culturas. São Paulo: Global, 2015, p. 160.
[xxxiv] MAUTNER, Jorge. Outros viram (canção). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HYosRzgHIwE.
[xxxv] FREYRE, Gilberto. Nação e exército. Rio de Janeiro: Bibliex (2ª ed.), 2019.
[xxxvi] OLIVEIRA, Francisco. Noiva da revolução/Elegia para uma re(li)gião. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 75.
[xxxvii] FURTADO, Celso. A fantasia desfeita. São Paulo: Paz e Terra, 1989, p. 179.
[xxxviii] MENESES, Jaldes. Gramsci e Tocqueville – a historiografia do século XIX e o conceito de revolução passiva. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, v. 80, 2004, p. 147-159.
[xxxix] FREYRE, Gilberto. Além do apenas moderno (sugestões em torno de possíveis futuros do homem, em geral, e do homem brasileiro, em particular). Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.
[xl] FREYRE, Gilberto. Americanidade e latinidade da América Latina e outros textos afins. Brasília: UnB, 2003.
[xli] PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Gilberto Freyre – um vitoriano nos trópicos. São Paulo: Unesp, 2005.
[xlii] “Música muito popular brasileira”, Pesquisa DeltaFolha, in: Folha de S. Paulo, 15/12/2021. Disponível em: https://arte.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/musica-muito-popular-brasileira/introducao/.
[xliii] BRÊDA, Lucas. “Brasileiros são os que mais ouvem a própria música entre todos os países”, Pesquisa DeltaFolha, In: Folha de S. Paulo, 14/10/2019.
[xliv] CAETANO, Veloso. O herói (canção). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J0tEkTNwWI4.
[xlv] “Ideia de democracia racial não deve ser desprezada, diz Caetano.” Entrevista da Claudio Leal, in: Folha de S. Paulo, 6/8/2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/08/ideia-de-democracia-racial-nao-deve-ser-desprezada-diz-caetano.shtml.
[xlvi] Para Caetano, Agostinho foi meu mestre… “a recusa da economia liberal é ponto dogmático no sistema do professor português” Agostinho da Silva. In: Caetano Veloso, O Paradoxo da Moderação, Quatro, Cinco, Um (a revista dos livros), 01/10/202. Disponível em: https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/ciencias-sociais/o-paradoxo-da-moderacao.
⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐
Clique aqui e veja como.