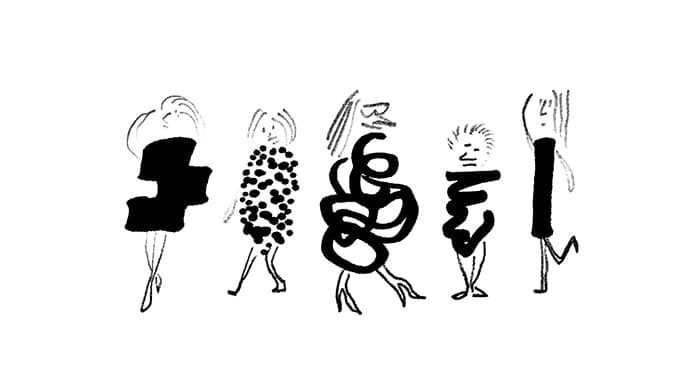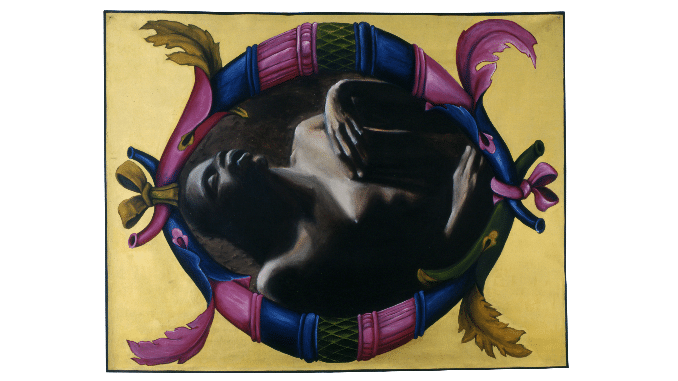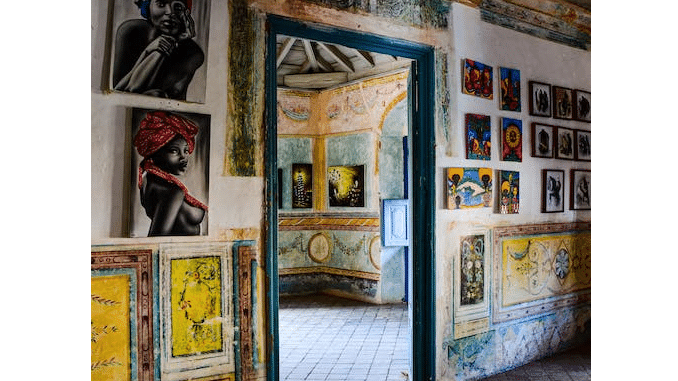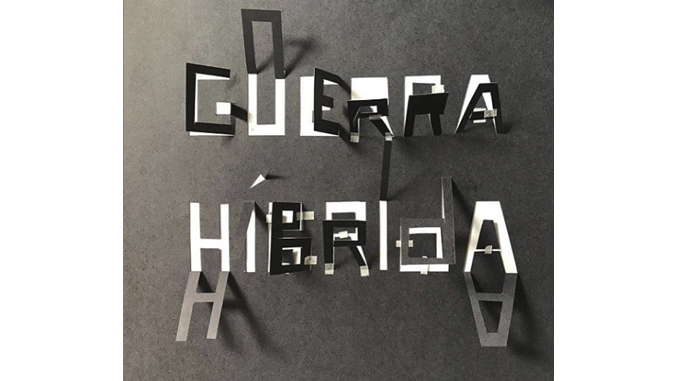Por MICHAEL ROBBINS*
Comentário sobre a obra da poetisa recém agraciada com o Prêmio Nobel de literatura
Quando um poeta americano atinge un certain âge, editores gostam de marcar a ocasião com antologias caras. Recentemente tivemos os Poemas Reunidos de John Ashbery 1956-1987, os Poemas de Frederick Seidel 1959-2009 e Poemas Reunidos de Jack Gilbert. Agora, Louise Glück, com quase setenta anos, tem sua própria lápide prematura: Poemas 1962-2012, um tijolo de emoção crua reunindo todos os livros da poetisa, de Firstborn de 1968 até A Village Life de 2009 (o título, portanto, tem algo de enigmático).
Glück é uma das mais importantes e influentes poetas que temos nos Estados Unidos, um slogan cuja estranheza torna-se mais profunda quanto mais a lemos. Ela ganhou todos os grandes prêmios; foi escolhida Poeta Laureada (quão incongruente pensar nessa poeta sombria e privada, em um papel tão risonho e público). Sua obra é ocasião para uma espécie de êxtase entre seus admiradores. Maureen McLane descreve o fervor pelo qual foi tomada lendo a obra de Glück, em termos com os quais milhares poderiam concordar: “The Wild Iris, de Louise Glück, foi um companheiro mais íntimo do que qualquer amigo, um murmúrio e uma aspereza e um bálsamo na mente naqueles meses as estruturas de vida que você mesmo havia erigido estavam colapsando, as fundações chacoalhadas por você mesmo”.
Eu me deparei com essa atitude devocional em lugares inesperados, um senso compartilhado e paradoxal de que os versos insulares e áridos de Glück falam a você, na medida em que você é o pior inimigo de “você mesmo”.
Agora que podemos ler a poesia de Glück como a obra de uma vida, tanto sua grandeza quanto sua limitação tornam-se mais evidentes. Ambas podem ser resumidas por essas linhas de The Wild Iris (1992), sua coletânea mais famosa e adorada:
A coisa grandiosa
não é ter
uma mente. Sentimentos:
ah, eu tenho esses: eles
me governam
Essas linhas, como muitas em The Wild Iris, são ditas por uma flor; ainda assim, alguém com uma mente as produziu. A fraqueza principal de Glück – ela marca todos os seus livros em alguma medida – é que muito frequentemente ela se permite ser tão governada pelos seus sentimentos que esquece que tem uma mente. Se ela não tivesse consciência dessa tendência – as linhas acima provam que ela tem – ela seria intragável. Em vez disso, ela é uma grande poeta, com uma amplitude limitada. Cada poema é A paixão de Louise Glück, estrelando o luto e o sofrimento de Louise Glück. Mas alguém envolvido na produção de fato sabe escrever muito bem.
Essa tensão anima quase todas as páginas de Poemas 1962-2012. Depois do trabalho de aprendizado de Firstborn – Glück depois afirmou sentir apenas “carinho envergonhado” em relação a esse livro – há uma consistência de tom desconcertante. Eu estaria tentado a chamar essa consistência de morta, se ela não costumasse estar escondida entre os picos e vales que indicam a existência de vida, ainda que atenuada. Desde o início, Glück esteve meio apaixonada com a morte apaziguadora. “Isso será o meu fim”, ela escreve em Firstborn, mas nunca é. Quarenta anos depois ela está escrevendo que “É natural estar cansado da terra”.
Por causa de seus pecados – o melodrama, as litanias da intimidade, a vida em primeira pessoa – Glück sempre foi incluída entre os poetas confessionais. Mas os melhores destes (Plath, Lowell, Berryman) são fissurados em palavras e estão sempre no palco. Suas vidas interiores, suas revelações pessoais embaraçosas, são cenários que abrigam uma performance com ingressos esgotados (“o grande strip tease”, como diz Plath). Na medida em que procuram a expiação, atingir aquilo que é a finalidade da confissão, eles o fazem de maneira teatral: orgulhosos, não muito capazes de se arrepender de verdade.
Mas isso não é Glück: diferente de Plath ou Berryman, ela depende da ficção da privacidade. Os poemas existem em uma ilusão de que aquele que fala se endereça precisamente a ninguém além de si mesmo – e talvez a algumas flores. Mesmo em sua apóstrofe frequente, eles parecem cartas nunca enviadas; mesmo Deus, quando ele aparece, parece ser apenas uma região menos acessível da psique de Glück. Ela não se importa com quem, se ela gritasse, iria escutá-la: “Não importa/ quem é a testemunha, / por quem você está sofrendo”.
Claro que isso é uma ficção: poemas são escritos para serem lidos por outros. Mas é uma ficção que sustenta o tom confinado dos poemas, sua intimidade estranhamente desprendida. O que salva os confessionalistas é o cuidado deles com as palavras na página, cuidado que em seus melhores poemas eles colocam à frente dos funerais em suas cabeças. Nisso, Glück é como eles, mas é o vocabulário que faz o strip tease: “tudo é despido”.
Mesmo as obras iniciais – antes dos ápices de The Wild Iris e Meadowlands (1996) -, mais encharcadas, contêm linhas que fazem você parar de repente, em reconhecimento admirado de como ela coloca nos lugares certos as palavras certas. “A lua pulsa em sua órbita”, diz ela em “12.6.71”, um poema tão esvaziado que só consegue suportar uma data acima dele. O final opera na menor escala da perfeição, como as microtexturas de Webern ou uma das salas em miniatura Thorn:
E a neve
que não cessou desde então
começou
A ausência não característica de pontuação mimetiza o começo do não cessar que é descrito. Glück alcança uma união entre forma e conteúdo que pareceria Zen se não fosse tão ranheta: claro que a neve não cessou; até o tempo é uma decepção. (“Há apenas a chuva, a chuva é interminável”, é como termina um poema de A Village in Life).
Por volta de Ararat, Glück já dominou um estilo austero, autopunitivo, quase um anti-estilo. Ela retorce o pescoço de substantivos e verbos esqueléticos até que eles se pendurem de modo não natural para um lado, suas línguas saindo pra fora. “Desse ponto em diante, nada muda”, ela escreve, e é verdade. Exceto que ela fica mais estranha e melhor. Em The Wild Iris, o talento esfolado e indignado de Glück finalmente oferece uma recompensa para os prazeres poéticos que ela recusa (adjetivos, descrição, amplitude, alegria). Que livrinho estranho ele continua sendo depois de vinte anos. A voz da poeta ainda é Velho Testamento em sua lamentação, mas ela permite que outras sensibilidades temperem-na.
Lá estão flores falantes e um arquideus; as linhas de ambos dramatizam a consciência de Glück acerca de sua própria suscetibilidade à autocomiseração. A própria poeta é uma jardineira cujo casamento está ruindo, estragado como os tomates de que ela está cuidando (de algum modo, isso permite que ela seja espirituosa, para variar: “Devo reportar/ fracasso em minha tarefa, principalmente/ a respeito das plantas do tomate”). Na amargura e na angústia, ela se dirige ao deus:
O que é meu coração para você
que você tem que quebrá-lo várias vezes
como um plantador testando
sua nova espécie? Pratique
em alguma outra coisa…
As flores não querem saber nada disso: “O que você está dizendo? Que você quer / vida eterna? Seus pensamentos são mesmo / tão convincentes quanto tudo aquilo?”. O sarcasmo da flora liberta a poeta-jardineira para se dirigir a deus ironicamente, de forma humilhante: “Eu vejo que com você é como com as bétulas: / Não devo falar a você / de maneira pessoal”. Ela está indignada com a “ausência / de todo sentimento” da divindade:
…Posso também ir adiante
me dirigindo às bétulas,
como na minha vida anterior: deixe
que elas façam seu pior, deixe
que elas me enterrem com os Românticos,
suas folhas amarelas pontudas
caindo e me cobrindo.
Isso se passa, no cenário escasso de Glück, por uma deliciosa ironia. Claro que ela sabe que convida a acusação de romantismo quando fica sangrando com os espinhos da vida. É precisamente essa consciência que a absolve.
Glück permite, assim, que o deus fique tão exasperado quanto o leitor com a histeria de sua criação; o breve poema “April” oferece um resumo do drama todo:
O desespero de ninguém é como o meu desespero –
Você não tem lugar nesse jardim
pensando esse tipo de coisa, produzindo
os sinais exteriores enfadonhos; o homem
capinando enfaticamente uma floresta inteira,
a mulher mancando, recusando-se a trocar de roupa
ou a lavar seu cabelo.
Você acha que eu me importo
se vocês se falam?
Mas queria que vocês soubessem
eu esperava mais de duas criaturas
dotadas de mentes: se não
que vocês de fato se importassem um com o outro
ao menos que vocês entendessem
a tristeza é distribuída
entre vocês, entre todos do seu tipo, para que eu
conhecesse vocês, como o azul profundo
marca a scila selvagem, o branco
a violeta.
Esse deus cáustico e grosso claramente deve algo ao judaísmo, que Glück em grande parte renegou, mas ele também sugere uma dívida com o misticisimo não-exatamente-Judaico-Cristão de Rilke. Na versão original e cancelada da décima elegia de Duino, Rilke descreve a inabilidade dos anjos para fazer algo além de imitar “os sinais exteriores enfadonhos” da tristeza:
você reprimiria, calaria, esperando que eles ainda pudessem estar curiosos,
um dos anjos (esses seres impotentes na tristeza)
que, enquanto o rosto dele escurecia, tentaria de novo e de novo
descrever o modo como você continuava a chorar, há muito tempo, por ela.
Anjo, como foi isso? E ele tentaria te imitar e nunca
entenderia que isso era dor, como depois de chamar um pássaro
tenta-se repetir a voz inocente que o preenche.
Uma vez que você esteja ciente da influência de Rilke, você a vê por todo lugar em Glück: a obsessão com o mito clássico; o anseio metafísico; o fetichismo da morte de quem está cansado do mundo. (William Logan, em sua resenha de A Village Life, chama o Rilke de Glück de “mitógrafo secreto”). Mas enquanto Rilke é normalmente tão florido quanto um D.H. Lawrence que tomou peiote, a linguagem de Glück é tão comum quanto a de [George] Oppen. Voos retóricos iriam simplesmente distraí-la de “Quão exuberante o mundo é, / quão cheio de coisas que não me pertencem”. Glück consegue ser superelaborada sem nenhuma filigrana, atenuando a linguagem ao mesmo tempo em que eleva a emoção, opondo a exuberância do mundo às poucas palavras que realmente pertencem a ela.
Esse é um risco que somente certos poetas devem correr. Para Glück ele é compensado no impiedoso, sombriamente cômico Meadowlands, no qual o casamento finalmente se despedaça e Homero assume os deveres metafísicos do Javista. (O Gênesis é sobre o exílio; a Odisseia é sobre tentar encontrar seu caminho para um lar que você não mais reconhece) Glück faz versos cômicos das brigas que dominam a conversação no fim de um relacionamento. “Ceremony” começa no meio de uma discussão, ostensivamente entre Glück e seu então marido John, sobre o jantar: “Eu parei de gostar de alcachofras quando parei de comer / manteiga. De funcho / eu nunca gostei.” A conversa que se segue é um pequeno triunfo do realismo, pois as respostas de um dos parceiros (presumivelmente as da esposa) vêm depois das acusações do outro:
Uma coisa que sempre odiei
sobre você: eu odeio que você não admita
ter pessoas na casa. Flaubert
tinha mais amigos e Flaubert
era um recluso.
Flaubert era louco: ele vivia
com a mãe.
Viver com você é como viver
num colégio interno:
frango Segunda, peixe Terça.
Eu tenho amizades profundas.
Eu tenho amizades
com outros reclusos.
***
Outra coisa: diga o nome de uma outra pessoa
que não tem móveis.
Nós comemos peixe Terça
porque está fresco na Terça. Se eu pudesse dirigir
poderíamos comê-lo em dias diferentes.
Não conheço nada na poesia contemporânea, além de Each in a Place Apart de James McMichael, que retrate de maneira tão minuciosa a fricção vã do desapaixonamento. Muito dela é certamente inventada, mas, como diz Plath, parece real.
Isso em si não é suficiente para fazer um bom poema, claro, mas os poemas de Meadowlands parecem os melhores que Glück já escreveu. É como se ela tivesse internalizado a crítica de seu marido; deixar a voz dele, ou as impressões dela sobre a voz dele, entrar nos poemas permite que ela sustente a perspectiva crítica adquirida em The Wild Iris: “Você não ama o mundo. / Se você amasse o mundo você teria / imagens nos seus poemas”. Então, no próximo poema, há uma imagem rara, ligada a um sorriso ainda mais raro: “as flores brancas / como faróis surgindo de uma cobra”.
É assim que se transmite a exiguidade de Glück: em pequenos sinais de maestria, os pontos e travessões do aprendizado de uma vida. Um gramado ao luar torna-se “um mundo inteiro / jogado fora na lua”. “White fire” [Fogo branco] está “saltando das montanhas vistosas” – você pode imaginá-la trocando o “nevosas”, transformando um adjetivo que qualquer um usaria em outro que contém uma epistemologia. Ou, justo quando você está começando a desejar que ela nunca tivesse lido uma palavra de Homero ou de Ovídio, ela deixa entrar um pouco de luz de um século em que você viveu:
Como os Giantes puderam chamar
aquele lugar de Meadowlands? Ele tem
quase tanto em comum com um pasto
quanto teria o interior de um forno.
Sim, Phil Simms aparece em um poema de Louise Glück. E o mundo exterior abre frestas nesses poemas, deixa sair um pouco de ar de seu sentimento inflado. Um poema inicial em Meadowlands começa, “Uma senhora pranteava em uma janela escura”. É claro que ela faz isso – e é uma senhora, não uma mulher; pranteando, e não chorando; uma janela escura, e não um Burger King. Mas algumas linhas depois, “do lado os Lights estão praticando música klezmer. / Uma noite boa: o clarinete está afinado”. Meadowlands é um livro amargo, mas engraçado. “Aniversário” se inicia, “Eu disse que você podia ficar de conchinha. Isso não significa / seu pé gelado em cima do meu pinto”, o que evoca a réplica:
Você devia prestar atenção aos meus pés.
Você devia imaginá-los
da próxima vez que você vir uma gatinha de quinze anos.
Porque há muito mais de onde vieram esses pés.
“Todos nós podemos escrever sobre sofrimento / de olhos fechados”, diz John à poeta, então ela escreve sobre isso de maneira mais oblíqua, de olhos abertos:
Eu quero fazer duas coisas:
Quero pedir carne do Lobel’s
e quero fazer uma festa.
Você odeia festas. Você odeia
qualquer grupo com mais de quatro.
Se eu odiar
eu vou lá pra cima. E também
só vou convidar pessoas que sabem cozinhar.
Bons cozinheiros e todos os meus antigos amores.
Talvez até suas ex-namoradas, exceto
as exibicionistas.
Se eu fosse você,
começaria pelo pedido da carne.
Devo dizer que sinto muito que eles se divorciaram. Eu gosto desse cara.
A felicidade de Glück nesses registros é o inverso de sua tendência às declarações grandiosas. Glück tem um ouvido fino para o óbvio, pelo que poderia parecer a um poeta menor como algo que não vale a pena ser notado: o nome de um estádio de futebol, as piadas internas de um casal. O óbvio é o que nós mais frequentemente subestimamos – “É preciso gênio para esquecer essas coisas” – preocupados que estamos com as imagens menores: “A vida é muito esquisita, não importa como ela termine, / muito cheia de sonhos”. É verdade que isso pode levar Glück a esquecer que a poesia deve ser pelo menos tão bem escrita quanto um cartão de Boas Festas
Posso verificar
que quando o sol se põe no inverno ele é
incomparavelmente bonito e a memória dele
dura um longo tempo.
Quando ela escreve assim, você não fica nem frustrado, a bem da verdade, só confuso. “Que?”, eu disse à página. (Eu acho que o “Posso verificar” seco deveria salvar a banalidade do que segue, mas a autoparódia não funciona se o leitor tem que desejar que é disso que se trata).
Mas há algo admirável nessa devoção extrema ao óbvio e pode ser que essa bobagem sobre a beleza do pôr-do-sol no inverno seja um preço pequeno a se pagar pela visão de Glück em seus momentos mais límpidos. Em sua obra tardia, especialmente em Averno (2006) e A Village Life, ela adotou um tom conversacional que resiste alegremente a sua atração pela sabedoria sumária: “A neve começou a cair, sobre a superfície de toda a terra. / Isso não pode ser verdade”. Ela sabe quais pequenas coisas notar e como notá-las: “um poste de luz tornando-se um ponto de ônibus” no amanhecer; um vizinho chamando seu cachorro. “O cachorro é educado; ele levanta a cabeça quando ela chama”, mas ele está ocupado vasculhando no jardim, “tentando chegar a uma decisão sobre as flores mortas”. Se tivermos sorte, encontramos um poema que deixa essas coisas todas em paz, sem sobrecargas morais mortificantes:
Criança acordando em um quarto escuro
chorando quero meu pato de volta. Eu quero meu pato de volta
em uma linguagem que ninguém entende nada –
Não há nenhum pato.
Mas o cachorro, todo coberto em pelúcia branca –
o cachorro está bem ali no berço ao lado dele
Anos e anos – isso é quanto o tempo passa.
Tudo em um sonho. Mas o pato –
ninguém sabe o que aconteceu com isso.
Ler essa antologia do início ao fim é exaustivo, mas purificante (viu, é contagioso), como assistir a uma maratona inteira de Robert Bresson. Críticos gostam de usar metáforas sobre o escalpelamento para descrever os efeitos dos poemas (o pai de Glück, todos sublinham isso, ajudou a inventar as facas X-Acto). Glück fatia, ela pica; ela corta e apunhala a si mesma, os leitores, as palavras que ela tem que usar mas das quais desconfia, as ilusões que ela despreza, mas nas quais se apoia. Um escalpelo danifica a fim de curar. Em um poema tardio, Glück sonha com
uma harpa, sua corda cortando
fundo na minha palma. No sonho,
ela tanto faz a ferida e sela a ferida.
Seu professor Stanley Kunitz uma vez perguntou “Como deve o coração ser reconciliado / com seu festival de perdas?”, mas é com Theodor Roethke, amigo próximo de Kunitz, que Glück, ao menos em espírito, mais se parece:
Eu conheço a pureza do puro desespero.
Minha sombra prensada contra uma parede suada.
Aquele lugar entre as rochas – é uma caverna,
Ou um caminho sinuoso? A beirada é o que eu tenho.
A obra de Glück é toda feita de beiradas – algumas, é verdade, pouco incisivas. Mas as mais afiadas podem infligir uma dor divina, onde estão os sentidos. Se você quer conhecer a poesia americana da última metade do século, você precisa ler esses poemas.
*Michael Robbins, poeta e crítico literário, é professor na Montclair State University (EUA). Autor, entre outros livros, de Equipment for Living: On Poetry and Pop Music (Simon & Schuster).
Tradução: Anouch Kurkdjian
[As versões originais dos trechos de poemas citados no texto podem ser encontradas em: https://lareviewofbooks.org/article/the-constant-gardener-on-louise-gluck/]
Publicado originalmente no Los Angeles Review of Books, em 4 de dezembro de 2012.