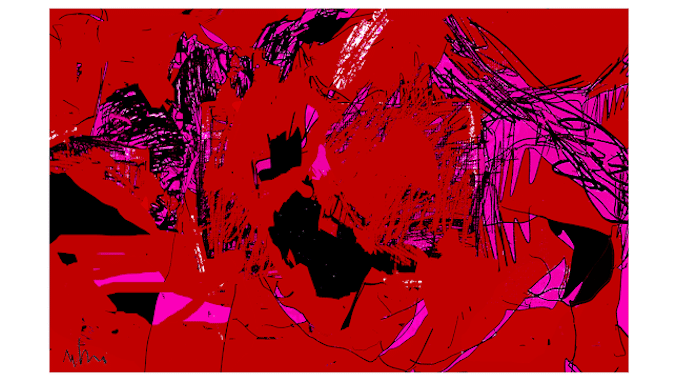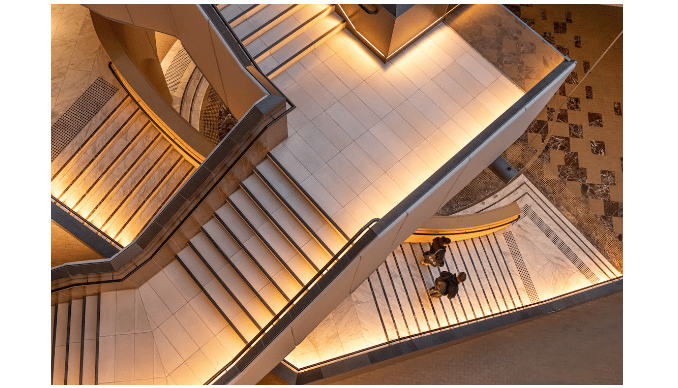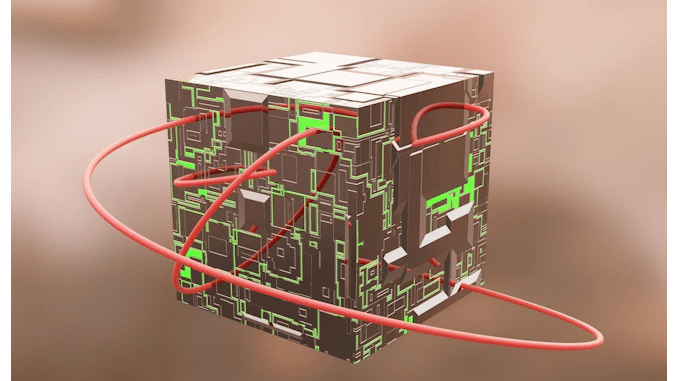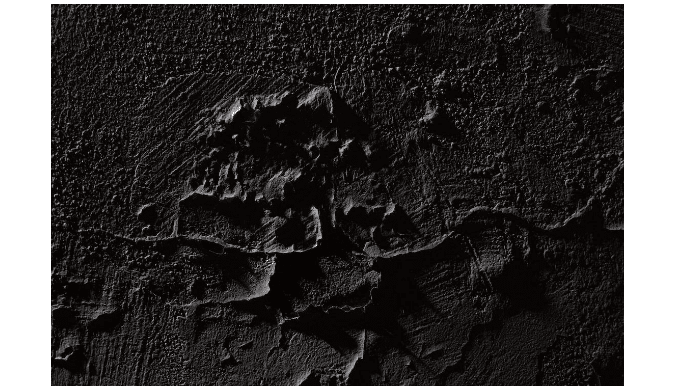Por GILBERTO LOPES*
Custos espantosos para uma guerra que não melhorou a ordem política e social nos países atacados
O mundo está cansado depois de 20 anos de luta contra o terrorismo. Sob os mandatos de quatro presidentes, o povo norte-americano suportou uma guerra interminável. Mas, pouco a pouco, o estado de espírito nacional foi “azedando”, disse Elliot Ackerman, um ex-marinee oficial de inteligência da CIA que atuou no Afeganistão e no Iraque.
O dia 11 de setembro de 2021 marcou os 20 anos do ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono por três células da Al-Qaeda, que transformaram aviões civis em armas de guerra. Outro ataque, contra o Capitólio, foi abortado por um confronto entre passageiros e sequestradores e o avião acabou caindo num campo da Pensilvânia. O aniversário multiplicou as análises na mídia norte-americana e em todo o mundo sobre a guerra declarada dias após o ataque pelo então presidente George W. Bush.
Um êxito?
“Feia vitória”, como Ackerman intitulou seu artigo na edição de setembro-outubro da revista Foreign Affairs sobre os 20 anos de uma guerra que mudou duas coisas: como os Estados Unidos se veem a si mesmos e como são percebidos pelo resto do mundo. Foi um sucesso? Isso depende, mas se poderia dizer que sim. “Mas a que custo?”, ele pergunta.
“O cansaço pode parecer um custo menor da guerra ao terror, mas é um risco estratégico evidente”. Como resultado, os presidentes adotaram políticas de inação e “a credibilidade dos EUA foi corroída”, de acordo com Ackerman. Ao contrário de outras guerras, esta foi travada sem recrutamento obrigatório ou novas cargas tributárias. Foi paga com um crescente déficit fiscal. Portanto, “não é surpresa”, diz Ackerman, “que este modelo tenha anestesiado a maioria dos norte-americanos, que não perceberam como a guerra ao terror sobrecarregou o cartão de crédito do país”.
Mas ele acrescenta algo mais: a ausência de um recrutamento obrigatório levou o governo a recorrer à contratação de uma casta militar, que se tornou cada vez mais segregada do resto da sociedade, “abrindo a brecha mais profunda entre civis e militares que a sociedade americana já conheceu”. Os militares constituem uma das instituições de maior confiança nos Estados Unidos. Para o povo, é uma instituição que não tem inclinações políticas. Ele está se referindo a inclinações político-partidárias. Mas, pergunta Ackerman novamente, “quanto tempo isso pode durar nas atuais condições políticas americanas?” Recriar a comunidade histórica muçulmana Nelly Lahoud, membro sênior do programa de segurança internacional da New America, uma acadêmica fluente em árabe, realizou um amplo estudo de milhares de documentos apreendidos pelo exército norte-americano após a invasão da casa em que Bin Laden se refugiava na cidade paquistanesa de Abbottabad. Ela procurou vasculhar os objetivos da Al-Qaeda, na visão de seu líder, e sua intenção ao lançar os ataques em território norte-americano, que não tinham objetivos militares, eram essencialmente políticos.
“A missão da Al-Qaeda era minar a atual ordem de estados-nações e recriar a umma histórica, a comunidade histórica muçulmana mundial, que alguma vez existiu sob uma única autoridade política”, disse Lahoud, que publicará um livro intitulado “The Bin Laden Papers” em abril próximo. Criada como uma rede de apoio logístico aos combatentes afegãos que tinham lutado contra a invasão soviética, a Al-Qaeda reorientou posteriormente seus objetivos. Os soviéticos já tinham partido, o inimigo agora eram os Estados Unidos.
Parece excessivo um objetivo tão amplo como recriar a comunidade muçulmana histórica, para o qual a Al-Qaeda não tinha forças suficientes. De acordo com Lahoud, Bin Laden acreditava, no entanto, que poderia conseguir isso ao dar um golpe decisivo nos Estados Unidos, forçando-os a se retirar dos países de maioria muçulmana.
Se esse era seu raciocínio, é claro que se mostrou completamente falho. É impossível não pensar que somente uma certa forma de pensamento mágico poderia aspirar a transformar o mundo na direção pretendida por Bin Laden.
Outra jihad
De todo modo, essa era a jihad islâmica à qual George W. Bush declarou a guerra ao terror. Para os Estados Unidos, esse foi um projeto de 20 anos. Mas na América Latina sua atividade pode ser rastreada quase 30 anos antes, quando uma cruzada semelhante – de caráter anticomunista – foi lançada, com o patrocínio norte-americano.
Do mesmo modo que a operação da Al-Qaeda, começou com um ataque aéreo, visando um palácio governamental: não a Casa Branca, mas o La Moneda em Santiago, Chile. Na manhã de 11 de setembro de 1973, os caças da força aérea chilena começaram seus ataques, lançando bombas sobre um edifício civil indefeso, incendiando uma de suas alas, enquanto unidades do exército o atacavam da rua ou de edifícios vizinhos. Dentro, o presidente chileno se defendia, com alguns poucos homens mal armados.
Se os talibãs foram a ponta de lança da luta de Washington contra os avanços soviéticos que invadiram o Afeganistão em 1979, no Chile foi o exército – apoiado política, econômica e militarmente (especialmente com operações de inteligência) por Washington – que se tornou uma formidável organização terrorista. Seu primeiro grande ato de terror foi o assalto e destruição da casa do governo e a morte do presidente Salvador Allende. Em seguida, transformou o país num enorme campo de concentração, fazendo do sequestro, desaparecimento, tortura e assassinato práticas habituais nas instituições militares.
Os assassinatos do ex-comandante em chefe do exército (o antecessor de Pinochet no cargo), general Carlos Prats e sua esposa, Sofía Cuthbert, em Buenos Aires em 30 de setembro de 1974 (um ano após o golpe militar), e o do ex-ministro das relações exteriores Orlando Letelier e sua secretária, Ronni Moffitt, dois anos mais tarde em Washington, em 21 de setembro de 1976, foram dois atentados terroristas cometidos pelo exército chileno usando o mesmo método: explodir uma bomba debaixo de seus carros. Desta forma, a organização estendia seus braços operacionais a Buenos Aires e à própria capital norte-americana, sem que, por essa razão, fosse declarada qualquer guerra ao terror.
O exército chileno organizou então uma internacional com os exércitos aliados da Argentina, Brasil e Uruguai, principalmente, para estender suas ações ilegais por todo o Cone Sul. A “Operação Condor” os reuniu, apagando fronteiras, operando como grupos clandestinos contra aqueles que consideravam inimigos políticos, para realizar sequestros, desaparecimentos, torturas e assassinatos. O apoio de Washington foi fundamental para todas essas operações. Na realidade, transformados em organizações terroristas, eles serviram como o braço longo da política externa de Washington na região, promovendo sua própria jihad: a anticomunista.
Entre julho e início de agosto de 1976, algumas semanas após o regime de Pinochet ter sediado uma reunião chave da Operação Condor em Santiago, a CIA obteve informações ligando o general Pinochet diretamente aos assassinatos planejados e executados pela rede Condor, segundo o portal do Centro de Investigação Jornalística (CIPER), uma organização chilena.
Num artigo intitulado “Operação Condor: os ‘assassinatos coletivos’ envolvendo Pinochet e Manuel Contreras”, o pesquisador Peter Kornbluh analisa a documentação norte-americana desclassificada sobre o assunto. Contreras, um general de confiança de Pinochet, organizou e chefiou a Direção Nacional de Inteligência (DINA) entre 1973 e 1977, quando ele ainda era coronel.
Uma fonte da CIA, diz Kornbluh, informou que entre os planos da Operação “Condor (coordenação dos serviços secretos das ditaduras do Cone Sul) estava a de ‘liquidar indivíduos selecionados’ no exterior”. “O Chile tem ‘muitos objetivos’ (que não são identificados) na Europa, disse uma fonte à CIA no final de julho de 1976”.
Durante 28 anos, operou uma máquina que, em 1973, foi promovida e apoiada por Henry Kissinger, então conselheiro de segurança nacional e secretário de estado na administração Nixon. Os documentos nos quais o próprio presidente aprovou o que mais tarde se tornaria uma grande operação terrorista na América do Sul são agora bem conhecidos.
Ackerman afirma ter tido “dificuldades para lembrar o que eram os Estados Unidos. Era como acreditar – principalmente naqueles anos eufóricos, logo após a Guerra Fria – que a versão da democracia dos Estados Unidos poderia continuar para sempre e que o mundo tinha chegado ao ‘fim da história’”. Hoje, ele acrescenta, “os Estados Unidos são diferentes”. São céticos quanto ao seu papel no mundo, mais despertos para os custos da guerra e menos ansiosos para exportarem seus ideais para o exterior, principalmente porque têm que lutar por eles em casa”.
Custos assombrosos
Os custos da guerra ao terror são espantosos. Mais de sete mil soldados norte-americanos mortos no Afeganistão e no Iraque; mais de 50 mil feridos em combate e (ainda mais trágico, se possível) mais de 30 mil veteranos de guerra cometeram suicídio, lembra o ex-conselheiro de segurança nacional de Barack Obama, Ben Rhodes.
O custo, em todo caso, foi muito superior para os países invadidos. “Centenas de milhares de afegãos e iraquianos perderam suas vidas; 37 milhões de pessoas foram deslocadas, de acordo com a pesquisa da Universidade Brown sobre os efeitos da guerra. A um custo total – incluindo o de cuidar daqueles que lá lutaram – de cerca de sete trilhões de dólares. A guerra também consumiu “uma quantidade incalculável da limitada largura de banda do governo norte-americano”, de acordo com Rhodes.
Os resultados dessas guerras e intervenções também não conseguiram melhorar a ordem política e social nos países atacados. Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, países que viveram os confrontos mais violentos na guerra ao terror, estão hoje envolvidos em conflitos de intensidade variável, diz o professor Daniel Byman, da Universidade de Georgetown e da Brookings Institution. “Onde houve progresso em direção à democratização”, diz ele, “como na Indonésia ou Tunísia, foi graças a movimentos e líderes nacionais, não por causa de iniciativas norte-americanas”.
Um desafio que também se enraizou na própria política interna norte-americana, expressa em ideias como o supremacismo branco, o movimento libertário ou expressões cristãs violentas, como enumera Cynthia Miller-Idriss, pesquisadora da Universidade Americana. O aumento da violência de extrema-direita e a normalização do extremismo de direita foram expressos nos ataques ao Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro. “Um assalto brutal alimentado por ideias de extrema-direita”, que se posicionaram no cenário político nacional. Não só a reação à jihad islâmica alimentou essas ideias; também a “guerra ao terror”, que concentrou sua atenção na ameaça islâmica, permitindo que o extremismo de direita crescesse sem controle no país.
Miller-Idriss chama a atenção para outro fator: um contingente pequeno, mas aguerrido de veteranos do Vietnã, que montaram campos de treinamento de forças paramilitares para estabelecer uma república separatista branca. Em 2016, os Proud Boys surgem com suas brigas de rua, alegando defender a “civilização ocidental”.
Outra guerra
Se uma certa visão fantasiosa da reconstrução da comunidade histórica muçulmana está expressa nos documentos de Bin Laden, outra pode ser encontrada na de uma certa elite política norte-americana, como quando Ben Rhodes afirma que os norte-americanos podem “ter orgulho, com razão, de sua liderança global e de sua aspiração a ser a ‘cidade na colina’”, cuja luz iluminaria o resto do mundo.
Numa tentativa de assumir esse papel, ele cita, como exemplo, a iniciativa da administração Biden, que justifica um orçamento com enormes gastos em infraestrutura para demonstrar que as democracias podem competir com sucesso com o que ele chama de “capitalismo de estado” do Partido Comunista Chinês. Para Elliot Ackerman, além da perda de vidas e de recursos financeiros, a “guerra ao terror” revelou outras coisas. Entre as mais importantes, em sua opinião, foi que, enquanto os Estados Unidos direcionavam seus recursos militares para operações massivas de contra-insurgência, “Pequim estava construindo uma rede militar capaz de lutar e derrotar um concorrente em seu nível”.
Sua conclusão é que os atores não estatais comprometeram a segurança nacional do país, não atacando os Estados Unidos, mas desviando a atenção dos atores estatais, como China, Irã, Coreia do Norte ou Rússia, que expandiram suas capacidades enquanto Washington olhava para o outro lado. É provável que isso não seja totalmente assim, mas a administração Biden está correndo para reorganizar suas forças na região Ásia-Pacífico, notadamente as relações com a Austrália. Mas seu anúncio destemperado de que forneceria ao país tecnologia nuclear para seus submarinos acabou parecendo a retirada desordenada do Afeganistão, provocando uma reação inusitada da França, que chamou seus embaixadores em Washington e Camberra para consultas, indignada por um acordo que arruinou o “contrato do século”, mediante o qual a França forneceria à Austrália 12 submarinos convencionais a um custo de 66 bilhões de dólares.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves