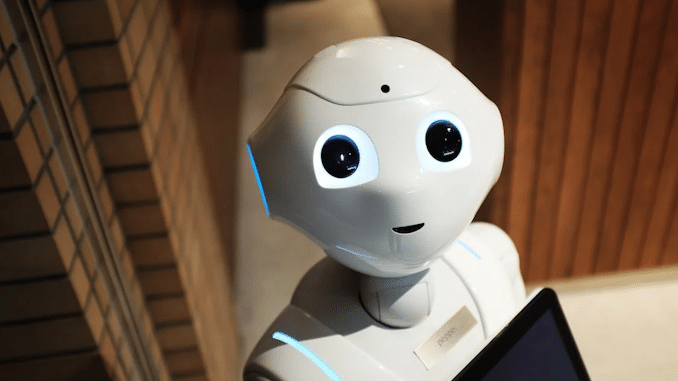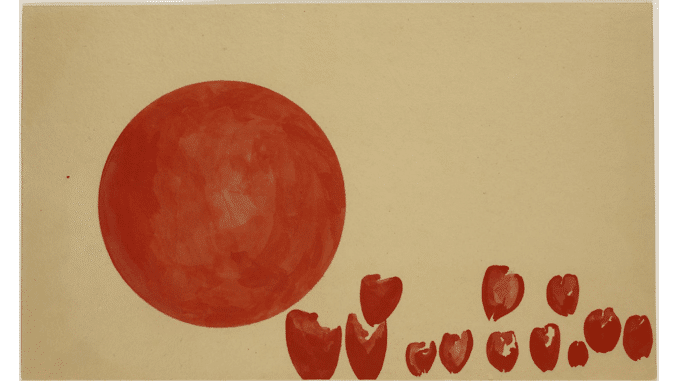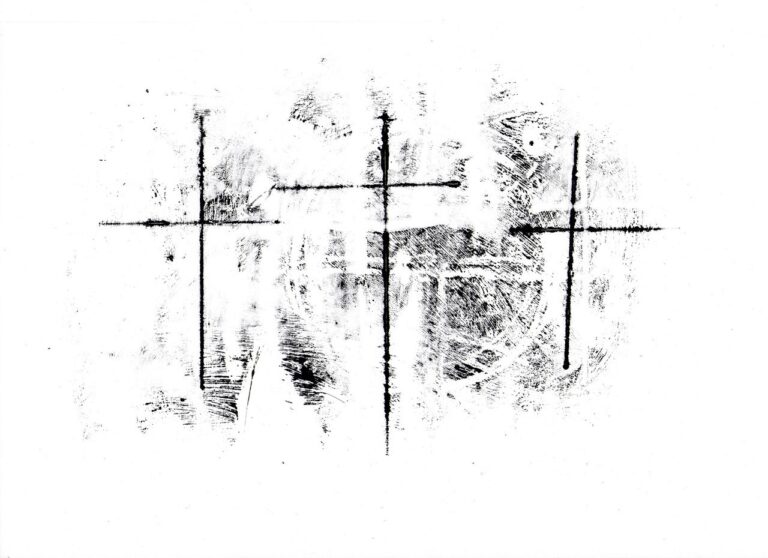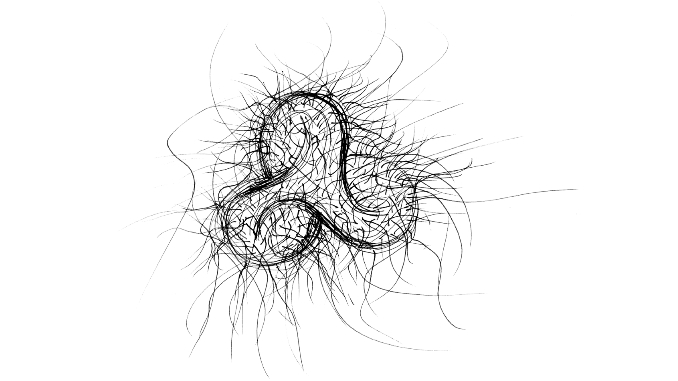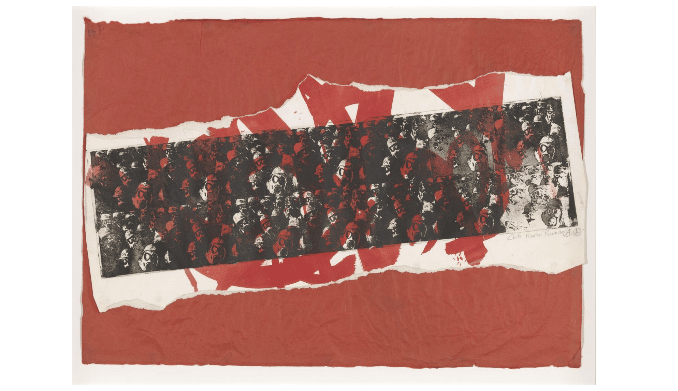Por LUCIANO GATTI*
Comentário sobre o livro de João Pedro Cachopo
A torção dos sentidos. Pandemia e remediação digital, do musicólogo e filósofo português João Pedro Cachopo, é publicado num momento em que a reflexão sobre a pandemia tornou-se um gênero à parte. Logo nos primeiros meses de 2020, acadêmicos globais, em geral filósofos vinculados a universidades europeias e estadunidenses, marcaram forte presença em sites de notícias e redes sociais, sendo lidos e compartilhados numa velocidade que evidenciava a necessidade de compreensão do fenômeno novo, o qual ia muito além de uma catástrofe sanitária, perpassando todas as dimensões da nossa vida, incluindo o trabalho, a educação, as relações afetivas, a arte e o consumo. De orientações teóricas diversas, Agamben e Zizek, Judith Butler e Rancière, Naomi Klein e Byung-Chul Han, David Harvey e Bruno Latour, entre muitos outros, arriscaram-se a interpretar a pandemia, chegando a conclusões muito distintas entre si, da consolidação de um regime de vigilância global ao colapso iminente do capitalismo.
Publicado em Portugal ainda em 2020, após essa primeira onda de intervenções, o livro de Cachopo tem antes de tudo o mérito de oferecer um balanço do debate acumulado, não se limitando a resenhar posições, mas buscando antes de tudo examiná-las à luz de uma nova perspectiva aberta pela pandemia, a saber, o modo como o distanciamento social transformou nossos modos de vida ao intensificar as interações humanas por meio da tecnologia. Se tal balanço permite a Cachopo avançar no desenvolvimento da hipótese de seu livro, inevitavelmente também evidencia que a resposta imediata de vários intelectuais à pandemia talvez tenha sido rápida demais, frequentemente incorporando um fenômeno novo a um diagnóstico de época previamente traçado, perdendo, portanto, a ocasião para pensar o que há de novidade na situação.
O caso mais gritante é, sem dúvida, a “invenção” da pandemia apontada por Agamben, que prontamente viu nela apenas a confirmação da tendência em curso de autoridades governamentais estenderem sua rede de controle sobre indivíduos com o intuito de manter o estado de exceção vigente. A hipótese, que passou ao largo do exame da gravidade sanitária, de modo algum dava conta das providências tomadas pelas democracias liberais europeias para conter a pandemia. Podemos acrescentar que suas colocações precipitadas mostram-se ainda mais deslocadas se confrontadas com a ausência de estrutura estatal e colaboração internacional em países africanos, tal como acabamos de observar, mais uma vez, pelo sequenciamento de mais uma variante na África do Sul.
No nosso caso, poderíamos questionar o que ele teria a dizer do negacionismo de estado praticado pelo governo brasileiro, que não apenas deixou a população à própria sorte, transferindo sua responsabilidade para governadores e prefeitos agirem sem coordenação conforme a conveniência e o interesse do momento, mas também recusou ofertas para a aquisição de vacinas? Seria simplesmente a aposta no caos para impor medidas de exceção? Se parte significativa da população europeia e estadunidense bloqueia o avanço da vacinação com base em suspeitas em relação ao estado, poderíamos identificar aí simplesmente a resistência a um poder cerceador de liberdades?
A síntese do debate inicial a respeito da pandemia permite notar que alguns diagnósticos não apenas foram mais coerentes com seus pressupostos teóricos do que com a situação a ser interpretada, mas também se mostraram pouco atentos à maneira como um fenômeno global tal como a pandemia assumiu configurações locais muito distintas entre si nas muitas regiões do planeta. Assumindo certa distância das intervenções iniciais, Cachopo abre espaço para examinar consequências menos óbvias do acontecimento, com potencial para se estenderem para além dele em alterações significativas de nossos modos de viver e interagir com outras pessoas.
Sua hipótese central nos diz que o “acontecimento” não seria a pandemia enquanto tal, mas a “torção dos sentidos” provocada pelo uso exacerbado dos meios de comunicação provocado medidas de distanciamento social tomadas para conter a pandemia em seu estágio inicial. Em outras palavras, uma reordenação do que chamamos de próximo e distante por um modo de vida intermediado pela tecnologia. Embora a revolução digital já fosse presente, Cachopo sustenta que a pandemia consumou de tal forma o processo que nos colocou de maneira inédita a questão de como lidar com esse novo grau de mediação tecnológica em todos os âmbitos da vida: nas relações pessoais, no trabalho, no estudo, na produção artística, na noção mesma de comunidade, inclusive em seu sentido global.
A publicação do livro no Brasil neste segundo semestre de 2021, quando o avanço da vacinação alimenta a expectativa de um pleno retorno às atividades presenciais, cria uma ocasião muito favorável para testar as hipóteses do livro. Se a “remediação digital” veio para ficar ou se tenderá a perder intensidade tão logo voltemos aos espaços usuais de convívio no trabalho, no ensino e no tempo livre, é algo que teremos em breve a ocasião para descobrir. O interesse do livro, contudo, não se esgota na interrogação a respeito da vida pós-pandemia. Seu interesse maior reside em mostrar como a exacerbação do uso da tecnologia para nos comunicarmos desde o início de 2020 constitui um prisma privilegiado para avaliar e repensar as relações que tínhamos antes da circulação do vírus.
Ao redimensionar o acontecimento, Cachopo alarga o escopo de seu livro e consegue vincular o debate a respeito da pandemia às discussões sobre a tecnologia que, em última instância, remontam a reflexões de décadas atrás sobre a cultura de massa. Não é à toa que a famosa polaridade proposta por Umberto Eco – apocalípticos e integrados – sirva agora não somente para caracterizar posicionamentos vários diante da revolução digital – da rejeição à adesão ingênua –, mas também as consequências para a “torção dos sentidos” levada a cabo pela pandemia. O termo chave aí é, de fato, a “remediação digital” que aparece no subtítulo do livro e propicia a substituição dos “integrados” de Eco pelos “remediados”.
O sentido aqui não é, porém, o de encontrar um paliativo ou uma reparação para a interação pela tecnologia em condições de distanciamento social, mas de explorar a potencialidade da confluência de diferentes meios ou mídias – “som, imagem e texto” – num único medium: “o conceito de ‘remediação’ fornece-nos um emblema do impacto da revolução digital sobre a experiência humana, e é nessa acepção que quase sempre o emprego neste livro” (p. 23). Se os meios tecnológicos afetam diretamente nossa percepção, como já afirmara Walter Benjamin, cuja reflexão sobre a reprodutibilidade técnica é constantemente retomada por Cachopo, a potencialização da revolução digital durante a pandemia coloca uma tarefa também à imaginação, tomada aqui no seu mais sentido prático de lidar com as novas coordenadas de proximidade e distância nos cinco sentidos destacados por Cachopo no livro: a alteridade no amor; o desconhecido no estudo; o enigmático na arte; o bem comum na comunidade; e o remoto na viagem. A situação extrema da pandemia serve assim tanto para questionar o que entendemos por cada um desses sentidos como para interrogar sua transformação pela mediação tecnológica.
A influência das medidas de distanciamento social sobre a vida amorosa foi um dos tópicos mais frequentes das reportagens sobre comportamento na pandemia. Enquanto os ambientes de sociabilidade que favorecem os novos encontros e o surgimento de novas relações foram interditados, muitos casais tiveram que lidar com o problema da distância, seja pela sua intensificação, quando residiam em casas separadas ou cidades distantes, seja pelo seu drástico encurtamento, quando passam não apenas a conviver diariamente sem os intervalos da vida fora de casa – sobretudo para trabalhar –, mas também a disputar locais adequados ao trabalho em apartamentos que nunca foram pensados como home offices.
Se a pandemia casou inúmeros namorados, também deve ter sido a responsável por muitas separações devido à convivência forçada. Cachopo retoma esse tópico para pensar o amor como “uma arte da boa distância, cujas regras não estão definidas a priori de antemão” (p. 94) e colocar em questão um pressuposto não suficientemente tematizado do que é viver junto: “ao mostrar que o amor é uma arte da aproximação e do distanciamento e ao lançar aos amantes o desafio da sua reinvenção, a pandemia abre – ou pode, pelo menos, abrir – uma discussão sobre a conjugalidade e um dos seus pressupostos menos discutidos: a coabitação” (p. 95).
As restrições severas às viagens na esteira do fechamento repentino de inúmeras fronteiras, gerando uma profusão de casos de pessoas tentando voltar para casa em meio a voos cancelados, servem de ensejo a Cachopo para chamar a atenção para o sentido da experiência de viajar. Sua tese é a de que a viagem e o viajante, e não apenas os moradores de locais turísticos, já sofriam das condições restritivas colocadas pela organização do turismo de massa e por seus inúmeros intermediadores (agências, hotéis, passeios, roteiros pré-definidos), impedindo um tipo de conhecimento definido como “experiência multisensorial”. Se a disseminação das viagens pelo Google Street View durante a pandemia, que serviram inclusive de base para o trabalho de muitos fotógrafos nesses últimos tempos, evidencia o quanto o deslocamento físico é uma experiência insubstituível, ou melhor, “irremediável”, também convida a imaginar maneiras melhores de viajar que aquelas facilitadas pelo turismo global.
Algo semelhante é dito do estudo. Se a universidade é um local de aprendizado e esclarecimento, ela também tem se revelado um local de “profissionalização do pensamento” crítico, seja pela invasão do mercado na organização dos cursos e carreiras, seja pela sujeição da pesquisa a métricas de produtividade na avaliação da carreira docente. As atividades remotas, com sua comodidade e baixo custo, permitindo que a universidade tenha funcionado à distância mesmo nos momentos mais restritivos da pandemia, podem perigosamente converter-se num passo a mais na direção da capitalização da vida universitária. Simultaneamente, a privação do convívio e do compartilhamento do espaço acadêmico exige uma reflexão a respeito do que seria o mais importante – e insubstituível – na experiência da universidade: uma instituição de produção e transmissão do conhecimento que também é modelo de uma forma de vida em comum.
Com seu poder de imaginação, a arte seria um dos melhores sismógrafos do que pode vir a ser a remediação digital em modos de convivência após a pandemia, tanto é assim que ela recebe o tratamento mais extenso dentre os sentidos considerados por Cachopo. De início, as artes do espetáculo – teatro, dança, música, além do próprio cinema – foram as mais atingidas pelo impedimento do trabalho coletivo e pela a interdição dos locais de apresentação ao vivo, o que levou muitos espetáculos a explorar a alternativa da apresentação online. Cachopo não se detém sobre o teatro de pandemia, apresentado para a câmera, mas destaca como grandes casas de Ópera, o Metropolitan de Nova York, por exemplo, souberam lidar com o distanciamento por já explorarem instrumentos de transmissão à distância, exportando espetáculos para exibição em salas de cinema mundo afora.
Se isso aproxima o espetáculo de um público distante, não garante porém a inovação ou a qualidade artística das produções, as quais podem restringir-se ao convencional, quando não à mera divulgação de grifes artísticas. Algo muito distinto se passa com o exemplo privilegiado por Cachopo e, vale dizer, ponto alto do livro, por conjugar inovação artística e tecnológica, no espírito da defesa por Walter Benjamin do desenvolvimento do meio de produção. Trata-se de The Encounter, um espetáculo teatral e multimídia dirigido por Simon McBurne em Londres, em 2015, a partir de uma viagem pela Amazônia feita pelo fotojornalista da National Geographic Loren McIntyre, o qual descobriu e fotografou a nascente do Rio Amazonas na Cordilheira dos Andes, no Peru, em 1971. A conjunção de vozes ao vivo com outras pré-gravadas servia ao jogo de elementos ficcionais e reais, de fatos encenados com condições de encenação, de atores e personagens, integrando ao espetáculo sua gênese, com o encenador reconstituindo os passos de seu personagem. Segundo Cachopo o mérito do espetáculo residia em propor, por meio da remediação tecnológica, uma interrogação a respeito do que buscamos nesses deslocamentos no espaço e no tempo.
Nenhum dos sentidos analisados por Cachopo expõe de maneira tão clara quanto a arte o horizonte do livro, a saber, uma noção de comunidade visada em sentido global e associada ao problema de escala planetária por excelência, a saber, a questão ecológica. De um lado, com base em reflexões de Elias Canetti, ele tenta ressalvar que a noção de comunidade não pressupõe necessariamente hierarquia e liderança, como se poderia notar nas configurações do espectro político à direita; de outro, com base nos estudos sobre nacionalismo de Benedict Anderson, ele tenta mostrar que toda comunidade é necessariamente uma comunidade imaginada. Daí conclui que não haveria comunidade imaginada que não pudesse ser remediada.
É aqui que se abre a consideração para um “nós” que atingiria escala global por meio da “remediação” tecnológica. O livro se vincula assim à defesa de pautas globais por coletivos que reconhecem na “remediação”, na internet, uma ferramenta imprescindível para colocar suas reivindicações, pensar-se a si mesmo como comunidade e pautar a defesa de formas de vida comum. O desafio lembrado por Cachopo a respeito da ópera valeria também para este caso: o objetivo é imaginar novas formas de experienciar, interpretar e criar.
Esse é o horizonte da reflexão proposta, que busca precaver-se contra a ingenuidade de muitos movimentos globais, incapazes de ultrapassar as fronteiras restritas das redes sociais, ao mesmo tempo em que considera necessário colocar a seu serviço recursos que não merecem ser meramente descartados como instrumentos de controle e vigilância. Diante do otimismo de alguns intelectuais a respeito de um possível colapso do capitalismo desencadeado pela pandemia, o livro de Cachopo é mais precavido. Ao invés de transferir à pandemia ou à revolução digital as energias de dissolução de um sistema global, ele busca pensar um “nós” que se constitua como sujeito dos acontecimentos ao tomar para si a tarefa de lidar com as potencialidades de cada meio, de cada situação.
*Luciano Gatti é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Constelações: crítica e verdade em Benjamin e Adorno (Loyola).
Referência
João Pedro Cachopo. A torção dos sentidos. Pandemia e remediação digital. São Paulo, Elefante, 2021, 100 págs.